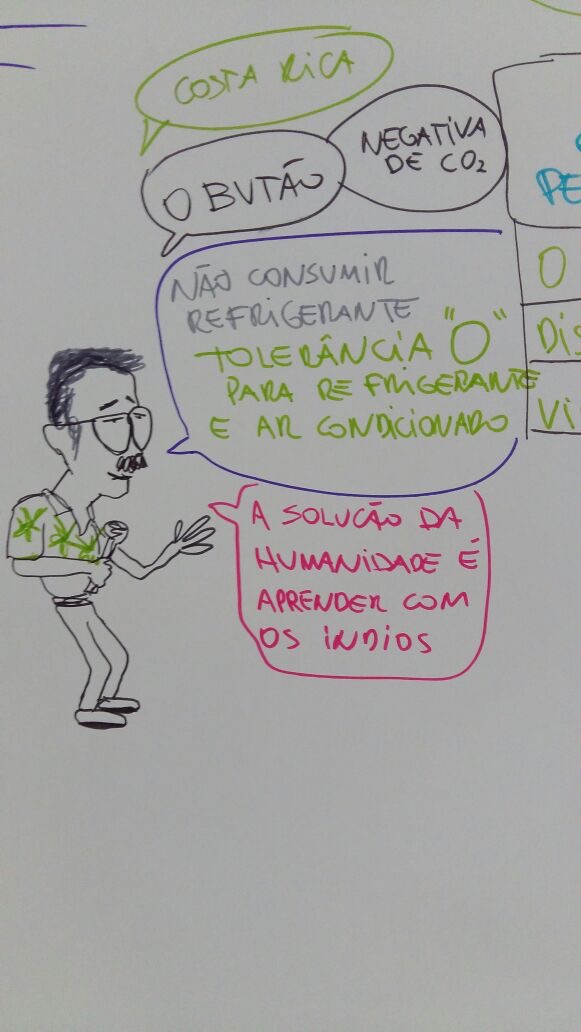Cauê e Vovô Clóvis

Olhar cumplice de pai e filho para a pitanga suculenta

Olhares de bebês sob proteção dos pais

Já era uma suculenta pitanga

Abraço efusivo de Miguel com Tiê
DIA MUNDIAL DA ECOLOGIA – COMEMORAR O QUÊ?
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
A cada ano, multiplicam-se as comemorações pela passagem (a 5 de junho) do Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente. Nada mais justo. Porém, a realidade do que os seres humanos fazem, em boa parte do planeta – o Brasil nesse rol – é a completa negação de uma atitude de celebração do bem inigualável da natureza. Veja-se o que está acontecendo no Golfo do México desde 20 de abril: desastre ecológico monumental provocado pelo desejo voraz e insaciável de se extrair petróleo das entranhas da Terra. Não pára de jorrar ali, de um poço a 1.600 m de profundidade, uma quantidade diária de petróleo que se calcula entre um e quatro milhões de litros (a cifra menor é da empresa responsável pelo acidente, a BP ou British Petroleum). Algo como 160 milhões de litros desse combustível pode já ter se espalhado no mar, contaminando e destruindo vida pelo futuro afora. E mais ainda ameaça jorrar. Que reações isso tem provocado no mundo inteiro? Poucas. Não é interesse de ninguém deixar que o petróleo se desmoralize como recurso moderno. O forte lobby petrolífero age para que a publicidade sobre o episódio seja a menor possível. Muitas análises tentam desviar a atenção para os esforços que estão sendo feitos para neutralizar o problema. Esforços enormes e cuidadosos, mas infrutíferos até agora. O certo é que a ecologia sofreu golpe duríssimo no Golfo do México e isso deveria servir de forte alerta para o ufanismo tolo que cerca o Pré-Sal brasileiro. Por mais que se confie na tecnologia, a verdade é que ela não impede eventos como esse.
Para verificar o vazio do discurso ecologista das autoridades brasileiras basta olhar nossa trajetória de descaso e violência contra o meio ambiente no país. A ocupação desordenada de encostas que levou aos graves desastres do Rio de Janeiro e Niterói em abril passado evidencia muito bem isso. Aqui em Pernambuco, é ilustrativa a situação deplorável de uma área pública de lazer – cujo meio ambiente se consolidava aos poucos –, o Parque Memorial Arcoverde, em Olinda, cedido para uma farra circense do Canadá (o Cirque du Soleil). Prefeitura de Olinda e governo do Estado, sem nenhum pejo, entregaram um espaço considerável para que o circo nele se aboletasse. Com que finalidade? Proporcionar divertimento para parcela da elite local durante 25 dias. Isso acabou no começo de agosto de 2009. O pedaço comido do parque, hoje, é um deserto urbano. Cerca de 30 árvores tiveram que ser cortadas para dar lugar ao circo. Ficaram alguns coqueiros e árvores menores em terreno coberto de pedra, cimento e asfalto. Resultado: vários desses coqueiros e árvores perderam totalmente o viço e hoje são espectros secos, testemunhas do descaso das autoridades do Estado. Essas mesmas autoridades costumam fazer eloqüentes declarações no Dia do Meio Ambiente, declarações desmentidas pelas ações destruidoras que cometem ou deixam que se cometam (caso de Suape).
Tal panorama tem longa história, como bem documentou José Augusto de Pádua, da UFRJ, em excelente livro, Um Sopro de Destruição (de 2002). Como também narrou Gilberto Freyre, em 1937, naquele que é seu livro que mais me encanta – Nordeste. E como, fora outros autores, deixou patente o brasilianista Warren Dean, em A Ferro e Fogo (a edição brasileira é de 1996). Sobre isso, tenho uma experiência esclarecedora. Meu primo mais velho, Walter Peixoto, arquiteto que mora em Cuiabá, dirigiu-me a seguinte pergunta ano passado: “Clóvis, por que sou tão antiecológico?” Acrescentou: “A floresta tem que ser derrubada mesmo para ceder lugar a atividades que dão emprego, fazem as pessoas ficar mais ricas, aumentam o PIB”. Agradeci-lhe a honestidade (que, infelizmente, falta nos que, no Brasil, destroem dizendo que são a favor da proteção ambiental). E expliquei que, como nota Paulo Prado (1869-1943) (Retrato do Brasil, de 1928), a sociedade brasileira é assim: antiecológica. Triste!
ATAQUE INSANO AOS PATRIMÔNIOS HISTÓRICO E NATURAL
Clóvis Cavalcanti
Economista e pesquisador social
Aqueles que acompanham os problemas do meio ambiente em Pernambuco, por exemplo, sofreram duro golpe na última terça-feira. Nesse dia foi aprovado pela Assembléia Legislativa o projeto de lei do governador Eduardo Campos mandando destruir 1.046 ha (10,5 km2) de áreas preservadas nas proximidades do porto de Suape para a expansão de atividades industriais. Faz-se isso, desculpem o trocadilho, com a maior naturalidade. Ninguém pensa em biodiversidade, na riqueza inigualável da Mata Atlântica e dos mangues atingidos pela decisão dos deputados, nos serviços ecológicos que a natureza nos presta. Ninguém pensa nas centenas de pessoas cuja vida se tornou um inferno com a invasão do território em que antes viviam sem sobressaltos. Pior é que esse afã depredador tem cinco séculos de prática ininterrupta. Trata-se, com certeza, de um sinal insuperável do atraso secular de nosso perfil como sociedade. A história do processo violento é bem contada no magistral livro Nordeste, de Gilberto Freyre (sempre ele), de 1937. Chamando o monocultor de “ladrão de terras” – expressão cunhada pelo agrônomo americano H.H. Bennett –, ele conclui que os espaços devastados das florestas da Zona da Mata eram “perturbados pelo homem da maneira mais terrível”. O modelo continua em plena voga, sob a batuta de um capitalismo cuja selvageria se oculta no timbre do “socialismo” do governo pernambucano.
Se estarrece a constatação da forma com que se derruba uma admirável casa-grande de engenho – como acentuou o Diario, em seu editorial de 27.4.10 –, com muito mais horror deve-se olhar para o tratamento que se dá aqui aos bens insubstituíveis da natureza. Uma casa se reconstrói. Já uma espécie extinta não se repõe. Nem se consegue refazer uma paisagem singular. Imagine-se o que restaria da terraplanagem do Alto da Sé, em Olinda; ou da explosão com dinamite dos recifes de Porto de Galinhas e, no Rio de Janeiro, do morro do Pão de Açúcar. Disse o Diario no editorial de 27 de abril: “nenhuma cultura se sustenta sem a seiva do fundamento histórico, sem o testemunho desse fundamento, que faz os povos andarem com segurança”. Afirmação correta, que precisa penetrar no juízo dos gestores do patrimônio cultural e histórico. Mas o que dizer dos serviços e bens do meio ambiente? Quem pode viver sem eles? Alfred North Whitedead (1861-1947), grande filósofo britânico, enfatiza que viver representa um “ataque” inevitável ao meio ambiente. Faz-se isso ao respirar, comer, beber, construir abrigo. A questão, segundo Whitedead, é que o ataque deve ser dirigido pela razão, pela inteligência. Não insanamente, como em Pernambuco (e no Brasil).




Born in 1940, Clóvis Cavalcanti is a Brazilian ecological economist living in Olinda and working in the Recife area, Brazil. He is also an organic farmer since 1976, and an environmentalist. He taught ecological economics at the Federal University of Pernambuco and retired as an Emeritus Researcher from the Institute for Social Research, the Joaquim Nabuco Foundation. He was visiting professor at various universities including Vanderbilt (USA), La Trobe (Australia), Cuenca (Ecuador), Oxford (Britain), and the University of Illinois at Urbana-Champaign (USA). He has been a member of the scientific council of the Institute of Integral Medicine of Pernambuco (Recife) and of the Consultative Council of the Celso Furtado International Center for Development Policies in Rio. He is a founding member of the International Society for Ecological Economics (ISEE) and its present President for 2018-2019. He is also a founder and honorary president of ECOECO (the Brazilian Society for Ecological Economics). He has had assignments in the board of directors of ANPPAS, the Brazilian Association of Research and Graduate Studies on the Environment and Society, and in the board of CLACSO, the Latin American Social Sciences Council (Buenos Aires). He has pioneered work on patterns of sustainability in the Americas, comparing the US and Amerindian lifestyles. He has written and published regularly since the late 1960s in peer-reviewed journals. He is the author, co-author or editor of 12 books, including The Environment, Sustainable Development and Public Policies: Building Sustainability in Brazil (2000). He introduced the concept of ethnoeconomics during his visiting professorship at Oxford in 2000, publishing a paper on the subject in Current Sociology, Jan. 2002. He has done work on the role of traditional ecological knowledge in development, and on environmental governance. He collaborated in the preparation of Angola’s 2005-2025 development strategy, introducing a proposal (adopted) for a wealth fund based on oil royalties for use in perpetuity. He has written on alternative development paths and their policy requirements since the mid-1980s. In 2012-2013, he did work in Bhutan’s International Expert Working Group which contributed to a report submitted by the Bhutanese government to the UN. In December 1968 he gave a speech in Recife at a graduation ceremony under the title “Economics and human happiness: a quasi-philosophical essay”.