Jornal do Commercio, Recife, 16 de setembro de 2024.
ANTIECOLOGISMO
BRASILEIRO
Clóvis Cavalcanti
Carlos Nobre, uma das maiores
autoridades científicas do Brasil na área climática, afirmou há pouco que a intensificação do
desmatamento e da crise climática no país, com incêndios e
queimadas, sobretudo na Amazônia e no Pantanal, colocam os dois biomas em uma rota de
destruição, que é potencialmente irreversível. Em entrevista ao jornal
Estadão, há uma semana, o climatologista foi franco: se as
mudanças climáticas e a destruição ambiental seguirem desenfreadas, o Brasil
pode assistir ao desaparecimento do Pantanal e à perda de metade da Amazônia
nas próximas décadas. Diante disso, sou levado a concluir que o Brasil é
um país antiecológico. Digo-o como professor universitário da disciplina Meio
Ambiente e Sociedade, que criei na UFPE (2004), e como membro da Sociedade
Internacional de Economia Ecológica (ISEE), que presidi em 2018-2020. A forma
como o meio ambiente é entendido e usado no Brasil corrobora minha constatação.
Ao invés de considerá-lo como fonte derradeira e insubstituível de vida, que sem
dúvida é, a sociedade brasileira só o percebe como fonte inesgotável de recursos
para máxima exploração. Paulo Prado, no clássico Retrato do Brasil
(1931), diagnostica o problema, atribuindo o espírito antiecológico nacional às
origens do país, com seu afã de “cobiça insaciável, na loucura do
enriquecimento rápido”. Sérgio Buarque, em Raízes do Brasil (1935), fala
da personalidade antiecológica brasileira, caracterizada pela ânsia de
prosperidade a todo custo na “busca oca de títulos honoríficos, de posições e
riqueza fáceis”. Em Nordeste (1937), Gilberto Freyre confirma a
percepção de Prado e Sérgio Buarque. Um dado atual a reafirma: do total da Mata
Atlântica original, resta apenas uma fração de 7 por cento. Sem que, a despeito
disso, se pare a insana destruição do inigualável bioma dessa floresta. Um
exemplo é a ameaça atual de desmatamento para a construção da Escola de
Sargentos na área do Grande Recife de preservação de Aldeia-Beberibe.
O
espírito sem compromisso com a saúde dos ecossistemas regionais delirou com a
construção de uma refinaria de petróleo em Pernambuco, como se isso fosse a
coisa mais inofensiva do mundo. Ora, o aquecimento global – demonstrado
cabalmente pela ONU como fenômeno antropogênico – impõe que se reduza no mundo
a emissão de CO2, gás que a queima do petróleo libera
abundantemente. Como é que se
justifica hoje um projeto que contribui para mais queima desse gás, como o da exploração
da margem equatorial da foz do Amazonas, na mira da presidente da Petrobras?
Não faz sentido promover mais extração de petróleo num planeta em chamas.
Que
essa visão é um traço nacional se percebe no fato de que a admirável legislação
brasileira de proteção ambiental tenha sofrido do que se chamou “passar a
boiada” (governo Bolsonaro). Ações no Congresso Nacional, há tempo, foram
realizadas com o objetivo de aprovar novo Código
Ambiental, revogando leis como a que criou a Política Nacional do Meio
Ambiente, ou partes de leis como a de Crimes Ambientais e a do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação, entre outros dispositivos. Em 2008, Marina
Silva saiu do ministério do Meio Ambiente por se opor à construção da
desastrosa usina hidrelétrica de Belo Monte, no Xingu, obra imposta pela então
ministra Dilma Rousseff. Em face de situações assim, a sociedade tem se
omitido. Felizmente, ainda há grupos que estão se mobilizando para impedir que
o antiecologismo prevaleça. É o caso da reação à Escola de Sargentos. Só haverá
futuro sustentável se reações assim alcançarem seus propósitos.
O autor é Pesquisador Emérito da Fundação Joaquim Nabuco, aposentado; Professor da UFPE, aposentado; ex-Presidente da ISEE; Presidente de Honra da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (EcoEco); membro da Academia Pernambucana de Ciências.< cloviscavalcanti.tao@gmail.com>.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 20.12.2017
Felicidade e Economia
Clóvis Cavalcanti
Presidente da Sociedade Internacional de Economia
Ecológica (ISEE)
Em
qualquer língua de país do Ocidente, nesta época do ano, ouve-se e escreve-se
continuamente “Feliz Natal!”. O que se quer dizer com isso? Que se formulam
votos de felicidade às pessoas próximas – claro! Ninguém diz “Vamos fazer o PIB
crescer mais e mais”, sequer na virada do ano. Porque, na verdade, o que todos
nós queremos e desejamos às pessoas queridas é ser felizes. Uma economia
pujante pode ser buscada; nunca, contudo como um fim em si mesmo. Nosso
objetivo último é sermos felizes. Para isso, precisamos de coisas que a
atividade econômica produz – mas não a quantidade enorme de bugigangas que
somos induzidos a comprar e que jamais compraríamos se a decisão fosse
completamente soberana, sem o apelo intenso de uma publicidade lamentável.
Ser
feliz é o propósito derradeiro de todos nós, mesmo que não o expressemos
declaradamente. São Tomás de Aquino (1225-1274) fala disso, usando o termo summum bonum (bem supremo). Aristóteles
(384 aC-322 aC), antes dele, aludia à eudaimonia.
Na encíclica Laudato Si’, de 2015, o
Papa Francisco lembra a questão. Entre os hindus, a palavra é nirvana; entre o zen-budistas, sartori; no budismo, iluminação. Ou
seja, o que todas as pessoas visam essencialmente é desfrutar da existência da
melhor forma possível ou, usando uma expressão do filósofo britânico A. N.
Whitehead (1861-1947), “promover a arte da vida”. Isso não é, seguramente, o
que fazem as pessoas quando se preocupam no Natal, antes de tudo, com comprar,
comprar, comprar – uma enfermidade social que se exacerba cada vez mais e que,
agora, é precedida de uma idiotice importada dos EUA, a “Black Friday”. Na minha casa, há tempos, que presentes de Natal
foram abolidos. Amigo secreto para mim não faz sentido. Mais importante é falar
coisas boas, escrever um poema, fazer uma cantata natalina, tirar foto,
abraçar.
Na
Laudato Si’ critica-se, com toda
razão, a “cultura do descarte”, com seu conteúdo
de consumir e jogar fora de modo cada vez mais veloz um bem adquirido. Segundo
o documento, o ritmo de consumo, desperdício e alteração do meio ambiente
superou de tal maneira as possibilidades do planeta, que o estilo de vida atual
– por ser insustentável – só pode desembocar em catástrofes, como, aliás, já
está acontecendo periodicamente em várias regiões. Isso é demonstrado pela
ciência, haja vista que a ferramenta da “pegada ecológica”, que calcula a
dimensão do impacto dos seres humanos sobre a natureza, já excede em 70% o
fluxo de bens e serviços que o planeta pode oferecer em um ano. Quer dizer,
consumimos hoje 70% mais do que legitimamente podemos. Esse valor era de 50% em
2012 e de 5% em 1972.
Para
consumir, é preciso produzir. E produção de qualquer coisa exige recursos da
única fonte que os pode fornecer – a natureza. Extrair recursos, por sua vez, é
como cavar buracos, alguns dos quais não param de crescer e são eternos. Depois
do consumo, os bens viram energia e matéria degradadas, as quais são inexoravelmente
lançadas de volta ao meio ambiente. Fazer isso é como amontoar sujeira –
sujeira essa que é eterna e não pára de crescer em muitos casos. O buraco
cavado e o monte de porcaria representam o custo ambiental da atividade humana,
ignorado no modelo econômico do crescimento a todo custo, que governa o mundo. Coletividades
humanas, e outras coletividades de seres vivos sofrem com isso. Daí por que
perseguir o aumento contínuo do PIB termina constituindo uma insanidade. Tem-se
que perguntar antes que pegada ecológica o planeta é capaz de suportar.
Certamente, uma em que seu valor esteja abaixo do da capacidade biofísica do
ecossistema terrestre. Sem contar que muitas atividades econômicas causam
desgraças humanas inaceitáveis, como no caso de projetos tipo Belo Monte, do
agronegócio que esgota aqüíferos na região do São Francisco, de inversões como
a de Suape, de projetos de mineração como os do desastre de Mariana. Assim,
desejar felicidades nesta época do ano significa tomar o partido do bem-estar
humano, que é o que se deve promover, sem agressões socioambientais. Pensando em
filhos e netos, queremos que eles possam desfrutar de um mundo gostoso, sem as
desgraças ecológicas, sociais e culturais de hoje. Feliz Natal mesmo!
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 4.12.2017
“Sustentabilidade”
Clóvis
Cavalcanti
Presidente da Sociedade Internacional de Economia
Ecológica (ISEE)
Recebi
do Diario, no último dia 28 de
novembro, o “Grande Prêmio Orgulho de Pernambuco no segmento Sustentabilidade”.
Esse galardão, em gesto generoso, foi instituído pelo jornal. A escolha dos
nomes contemplados nos seus diversos segmentos, como Lia de Itamaracá, “Cultura”,
Maestro Forró, “Cidadania”, Carlos Augusto Lyra, “Arquitetura”, Camila
Coutinho, “Moda”, André Ferraz, “Tecnologia e Inovação” – para citar apenas
alguns – foi resultado de votação das pessoas que tiveram acesso ao site criado especificamente para isso.
Havia quatro nomes em cada categoria. Concorri com Socorro Cantanhede (da importante
ONG ambientalista Recapibaribe), Everaldo Feitosa (da empresa Eólica
Tecnologia) e Frederico Vilaça (da Usina São José). Grande honra para mim ser
escolhido diante de concorrentes tão respeitáveis. E, mais ainda, por ter tido
como patrono, Vasconcelos Sobrinho (1908-1989), o maior nome da ecologia
nordestina e meu amigo também. A cerimônia de entrega do laurel aconteceu diante
de auditório dos mais ilustres. Enfim o prêmio e sua entrega seguiram um padrão
que as tradições pernambucanas sabem ensejar.
Provavelmente,
uma parte boa do público que tomou conhecimento da premiação não tenha noção
mais precisa do termo sustentabilidade, segmento a que meu nome foi associado.
Essa palavra entrou no léxico corrente das discussões sobre desenvolvimento
exatamente há 30 anos, quando a ONU lançou importante estudo denominado Nosso Futuro Comum, fruto do trabalho de
uma comissão de notáveis, chefiada pela primeira-ministra da Noruega Gro Harlem
Brundtland. O estudo introduziu o conceito de “desenvolvimento sustentável”
como aquele processo em que se usam recursos da natureza para satisfação das
necessidades das gerações atuais sem comprometimento das possibilidades de
satisfação das necessidades das gerações futuras. Tenho estado muito envolvido
com esse assunto. Escrevi um dos capítulos do livro organizado pelo oceanógrafo
americano Robert Costanza, publicado em 1991, com o título de Ecological Economics: The Science and
Management of Sustainability (economia ecológica: a ciência e gestão da
sustentabilidade). Todo meu trabalho desde a década de 1980 passou a ter
compromisso com o importante conceito. Na verdade, só existe desenvolvimento
que seja sustentável. Se for o contrário, insustentável, vai acabar. Ou seja,
não é desenvolvimento algum. Trata-se de fraude, mentira, ilusão.
Ao receber o
prêmio, subi ao palco na companhia de meu neto Cauê, de 9 anos, que pediu para
ir comigo. Na ocasião, expliquei por que estava ali com ele: o prêmio remete às
gerações futuras. E a questão toma corpo porque a realidade atual vai se
mostrando cada vez mais insustentável. A mudança climática, por exemplo, está num
avanço que faz a comunidade científica mundial avisar do perigo de um colapso
ambiental de feições nunca imaginadas. Ao mesmo tempo, a inchação do sistema
financeiro global, que é uma bolha, preocupa pelos riscos de estouro com
violenta destruição de ilusórios patrimônios de papel. Na verdade, a economia
financeira (virtual) do planeta está num patamar que a faz valer 16 vezes a
economia real de produção e consumo de coisas. Do mesmo modo, índices de
violência e corrupção atingem níveis absolutamente insustentáveis. Esses sinais
todos podem ser mudados pela ação inteligente de populações e governos. Entra
exatamente aqui o que significa buscar sustentabilidade.
No meu breve
pronunciamento na premiação do Diario, mencionei que a busca de
sustentabilidade é uma regra para tudo o que se faz: saúde, educação,
habitação, indústria, agricultura, comércio, transportes, ciência, etc. Ou
seja, é preciso pensar no impacto das ações humanas em termos da base de
recursos que assegura sua realização. Os economistas ecológicos, entre os quais
me incluo, usam o conceito de pegada ecológica – que mede o impacto de nossas
ações –, comparando-o com o da biocapacidade, que é o potencial de uso dos
sistemas naturais. Só podemos fazer coisas com uma pegada ecológica que não
exceda a biocapacidade dos ecossistemas. Agir assim leva à conservação da
natureza para o bem das gerações futuras. Sustentabilidade.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 16.9.2017
Reservas da natureza e exploração mineral
Clóvis
Cavalcanti
Presidente da Sociedade Internacional de Economia
Ecológica (ISEE)
Em
1972, numa conversa comigo depois de almoço em sua casa, Moura Cavalcanti
(1925-1994), que seria governador de Pernambuco (1975-1979), me contou uma história
incrível. Em 1961, jovem, foi nomeado pelo presidente Jânio Quadros, governador
do Território Federal do Amapá. Escolha que ele não tinha cogitado. Aceitou,
porém, o encargo. Na ocasião, o Amapá se destacava por uma única coisa – além
do fato de ser a unidade federada mais isolada (e preservada) do Brasil –, a
atividade de extração do minério do manganês, um ingrediente básico da
siderurgia. Explorava esse recurso, a empresa chamada Icomi (Indústria e
Comércio de Minério), controlada pelo então maior consumidor de manganês do
mundo, a norte-americana Bethlehem Steel. Das receitas de exportação do produto
estratégico, uma fração de 4-5% era devida por contrato como royalties para o tesouro do Território
Federal.
Em
agosto de 1961, Moura Cavalcanti recebeu denúncia de que havia subfaturamento –
prática comum no mundo – nas informações sobre montantes do manganês exportado,
resultando, portanto, em pagamentos inferiores aos que eram devidos ao Amapá.
Como governador, resolveu ir pessoalmente à mina da Icomi, no lugar conhecido
como Serra do Navio, a pouco menos de 200 km de Macapá, a capital, para fazer
uma inspeção. Na época, tudo era muito simplificado, ainda mais em fronteira
tão distante do país. Moura viajou num “jipão” só com o motorista e um ajudante
de ordens. Chegando ao portão da Icomi, teve que parar devido a uma cancela
fechada. O guarda de plantão explicou ao governador que não era permitida a
entrada de ninguém ali, a não ser com autorização da empresa. Moura explicou
que era o governador; não poderia ser barrado. Mas foi. Meio moleque, mandou o
motorista recuar e investir com toda potência contra a cancela fechada. Isso
foi feito, o portão derrubado. Ele pôde fazer a inspeção no escritório da
empresa, onde foi atendido no que lhe interessava, percebendo irregularidades
contábeis no tocante às exportações do minério. De volta a Macapá, já havia em
seu gabinete recado do presidente Jânio pedindo que retornasse uma ligação por
este feita (via rádio). Ao falar com Jânio (admirado com a rapidez com que o
episódio chegara a Brasília), Moura contou ter recebido de saída uma
reprimenda, sendo chamado de atrabiliário. Mas pôde explicar ao presidente o
que acontecia. Jânio então lhe deu apoio. Só que, uma semana depois, renunciou
e Moura Cavalcanti foi destituído do cargo. O subfaturamento prosseguiu.
Fiz
o relato acima para evidenciar que o negócio da exploração mineral é algo que costuma
usar artimanhas condenáveis a fim de lograr seus propósitos. E para questionar
a decisão autocrática do governo federal, de 22/8/2017, de extinguir a Reserva
Nacional do Cobre e seus associados (Renca), cobrindo uma área de 4,7 milhões
de hectares dos estados do Amapá e Pará, em que se localizam nove áreas
protegidas, inclusive a belíssima Serra de Tumucumaque, pouco conhecida dos
brasileiros. É certo que o decreto, já modificado, não extingue tais áreas e
adverte que a legislação de proteção ambiental terá que ser cumprida. Mas quem
é que imagina que a mineração ocorrerá de forma benigna, deixando pouco rastro
de destruição? Basta ver o terrível exemplo do maior desastre ambiental
brasileiro, causado por uma mina de minério de ferro no município de Mariana
(Minas Gerais), de propriedade da empresa Samarco, controlada pela brasileira
Vale e pela australiana BHP Billiton, em novembro de 2015. A devastação
causada, além de matar seres humanos, significou a morte do portentoso Rio Doce
e de todo o ecossistema ribeirinho da barragem que estourou até a foz do Doce,
no Espírito Santo. Trata-se de uma tragédia de dimensão incalculável.
Quem
ganha com a exploração mineral como a da Samarco? Quem perde com ela? A Icomi
faturou com o manganês da Serra do Navio de 1957 a 1995, quando acabou o
minério. Seus acionistas engordaram seu patrimônio. No lugar do manganês
cavou-se um buraco eterno. Que ganharam de duradouro a sociedade amapaense e a
sociedade brasileira com o prejuízo físico, ambiental, irreversível que foi
causado a seu território? Essa realidade, a de Mariana e a de muitos outros
casos no mundo inteiro impõem que não se aceite a canetada maldita da extinção
da Renca. Moura Cavalcanti, com quem briguei em 1975 por causa de Suape,
deveria ter algo a dizer agora.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 10.8.2017
Garanhuns, qualidade de vida e o FIG
Clóvis Cavalcanti
Presidente da Sociedade Internacional de Economia Ecológica (ISEE)
Como faço todos os anos desde 1997, fui a Garanhuns em julho passado
para desfrutar da programação do seu 27º Festival de Inverno (conhecido pela
sigla FIG). Mais um momento de alegria no encontro com as diversas
manifestações da rica cultura nordestina. Estar na agradável cidade de
Garanhuns já é motivo, por si só, de grande satisfação para quem aprecia as
coisas simples da vida, o encontro com pessoas, as conversas na rua, em casa,
nas lojas, na barbearia, nas mesas de bar. Poder desfrutar ainda de espetáculos
de todo tipo que demonstram o compromisso que muitas pessoas têm com a promoção
da arte de viver, acrescenta mais conteúdo à alegria do passeio. No Brasil, há
muitos festivais de inverno. Já estive em alguns, como o de Campos do Jordão
(SP), dos mais famosos. Nada, porém, me agrada mais do que o evento criado pelo
prefeito Ivo Amaral, em 1991. De Ivo, aliás, sou contraparente (relação que
descobri em conversa no nosso barbeiro comum de Garanhuns, Isaac).
Sem pagar para assistir a belos espetáculos de música popular, de folguedos
folclóricos, de rodas de sanfona, de música erudita, de som instrumental, de
teatro, de literatura, de cinema, de circo e muitas outras coisas, o
participante do Festival tem muitos motivos para se alegrar. Garanhuns oferece
bom cenário para a alegria. Tem comércio movimentado no centro aberto da cidade
– sem as limitações e frieza dos modernos shopping centers, com seu isolamento
do mundo ao redor. Infelizmente, a cidade vai no rumo de adoção desse modelo. E
tem permitido que belas obras da arquitetura tradicional de lá sejam demolidas
e substituídas por prédios sem beleza, sem a graça dos desenhos das fachadas
antigas: imóveis elegantes e simbólicos de um bom gosto histórico dão lugar a
construções medíocres, algumas sofrendo deformações imperdoáveis como ter
fachadas graciosas substituídas por paredes cobertas de uma das mais
lamentáveis invenções dos últimos tempos, como é o caso do “porcelanato”.
Em Garanhuns se oferta uma diversidade de serviços comerciais de impressionante
qualidade. É de lá o melhor técnico de máquinas fotográficas que conheço –
Geraldo. Igualmente, em Garanhuns, existe uma lojinha – na verdade, um boxe –
de conserto de celulares, em frente do qual o volume de gente a sua procura já
atesta a competência do trabalho que oferece. Comprovei isso, obtendo solução
para um problema de meu aparelho. Meu barbeiro também, Isaac, é de lá. Já tive
boas experiências com conserto de mecânica e pneus de carro em Garanhuns. Até
uma loja de produtos naturais, na Rua XV de novembro, a Gamboa, dispõe de
incrível variedade de produtos. Em Heliópolis, às quintas-feiras, perto da casa
de minha sogra, uma feira livre faz a festa de quem está atrás de todo tipo de
fruta, verdura, tubérculos, feijão, farinha, queijos, ovos e mesmo carne de
várias espécies animais. Com preços sempre mais em conta do que na capital
pernambucana.
Para mim, tudo isso só confirma uma coisa: a importância da qualidade de vida.
No FIG, em particular, e na cidade de Garanhuns, de modo geral – uma cidade
limpa, de bom calçamento, arborizada, com calçadas largas e inteiras, muita
flor em toda parte –, é isso o que se experimenta. A atmosfera do ambiente
produz sensações de bem-estar, o que não tem nada a ver com grandezas tipo PIB
nem com crescimento acelerado da economia. É alegria de viver que se
experimenta. Durante o 27º FIG, como aconteceu nos últimos quatro anos, essa
alegria se multiplicou com a programação Saraus em Pasárgada, uma iniciativa da
Funarte com a prefeitura de Garanhuns, que gira em torno de Manuel Bandeira, o
grande poeta recifense, mas abarca todo o universo da poesia. Sob o comando de
Marília Mendes, o programa envolveu gente jovem e talentosa da literatura de
Garanhuns – César Monteiro, Celina Berto, Raiz Nunes, Débora Ramos –, ao longo
de 6 dias, no ambiente apropriado de um café-livraria, o Casa Café, de Pedro
Coelho. Foi uma vivência enriquecedora para o espírito, algo que o cálculo do
PIB ignora. Qualidade de vida na sua melhor acepção.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 22/23.7.2017
Preço do atraso
Clóvis
Cavalcanti
Presidente da Sociedade Internacional de Economia
Ecológica (ISEE)
A propósito de
meu artigo nesta página do DP da edição de 8-9 de julho corrente, “Indecência política e desgraça social”, recebi comentários que
muito me sensibilizaram. Um deles, do meu amigo e destacado botânico José Alves
de Siqueira, professor da Univasf. Escreveu ele: “seu texto me inspirou na
ocasião em que rodamos quase 1.000 km pra ver de perto a 40ª Romaria da Terra e
das Águas, em Bom Jesus da Lapa, nas margens do combalido Rio São Francisco, no
interior da Bahia [...] As histórias do agronegócio com seus pivôs de irrigação
que sugam milhões de litros de água diariamente e já comprometeram 54% da água
do Rio das Éguas, mais conhecido como Rio Corrente, num show de desperdício de água em terras griladas dos povos
tradicionais. O peixe que se come aqui é o tambaqui de criatório, algo
semelhante a se comer galinha de granja nos sítios e engenhos da zona da mata
pernambucana [...] Aproveitamos [...] para perambular pelas casas e sítios na
zona rural de Santa Maria da Vitória pra conversar com o povo. Ainda se toma
cachaça brejeira e café bem adoçado. Histórias de vida e de uma natureza farta
no passado”
Esse relato
autêntico e pungente retrata bem a realidade de um Brasil no qual o bem-estar
humano é a última coisa que efetivamente preocupa a quem tem poder. Por que
empresas do agronegócio podem tirar um recurso que pertence a todos, como a
água, para gerar lucros fabulosos que tornam cada vez mais ricos e poderosos,
grupos que não medem o mal que estão fazendo a populações simples e esquecidas
da sociedade brasileira? Na verdade, o agronegócio é um setor da economia
brasileira que só parece contribuir para a felicidade nacional. É assim, com
efeito, que se exalta com enorme frequência a suposta contribuição que ele
oferece para que a economia brasileira cresça. Sim, a grande agricultura
comercial do país ajuda o PIB a crescer. Porém, faz isso a um tremendo custo
ambiental e humano que é simplesmente ignorado. As empresas de porte
considerável que atuam no segmento agropecuário brasileiro dizimam
biodiversidade, desperdiçam água, expulsam populações campesinas, envenenam o
meio ambiente. No entanto são exaltadas porque ajudam o PIB a crescer. Esse é
um erro, inclusive econômico, pois a produção de bens e serviços gera receitas,
por um lado, e despesas, por outro. A realidade do PIB, contudo, é a de só
contabilizar ganhos. Celso Furtado (1920-2004) classifica-o de “vaca sagrada
dos economistas”. Dos economistas e de todos os que adotam suas “verdades”.
O fato é que
se dá importância demasiada ao aumento da economia, fazendo de conta que isso
não causa dor, mal-estar, sofrimento. Escrevo de Belo Horizonte, da 69ª Reunião
Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Aqui está
sendo apresentado um livro, de grupo de trabalho da SBPC, liderado pela
respeitada antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, que segue rigorosos métodos e
critérios da ciência, com o título A
Expulsão de Ribeirinhos em Belo Monte. O que ele tem em mira é expor histórias,
reflexões e propostas com o objetivo de sensibilizar a sociedade e os poderes
públicos de modo que se restituam aos ribeirinhos do Rio Xingu as condições de que
desfrutavam antes da construção da Usina de Belo Monte – condições que eram de
uma vida satisfatória, sem degradação ambiental, exatamente o oposto do que se
vai proporcionar agora a populações que, durante séculos, nenhum mal causaram a
ninguém. Seria aceitável dizer que isso seja o preço do progresso? Claro que não.
Porque, simplesmente não se pode considerar progresso uma transformação que
penaliza tanta gente, para que minorias privilegiadas acumulem mais
privilégios, esbanjando opulência e destruindo formas de vida sustentáveis que
preexistiam. Conforme assinala o historiador ambiental, meu amigo José Augusto
de Pádua (professor da UFRJ), nos primórdios do século XIX já havia a percepção
de que a destruição do meio ambiente natural não era o “preço do progresso”. José
Bonifácio (1763–1838), em 1823, pelo contrário, taxava-a
de “preço do atraso”. A destruição da Mata Atlântica, por exemplo, se pode
considerar como fruto do atraso e da ignorância. Nossa sociedade não merece que
a história se repita.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 8.7.2017
Indecência política e desgraça social
Presidente da Sociedade Internacional de Economia
Ecológica (ISEE)
Procuro
conhecer lugares quando realizo minhas caminhadas matinais diárias. Antes, de
1973 a 2012, eram corridas de 10 km todos os dias, menos sábados. Meus
percursos variavam. Dessa forma, eu entrava em bairros simples e até favelas,
do mesmo modo que corria em bairros de renda alta, centros de cidade, estradas
e até desertos (o Saara, em Timbuctu, no Mali, onde passei uma semana em 1986).
Foi assim que conheci áreas de Luanda (Angola) em plena bagunça depois de duas
décadas de guerra civil. Subi e desci ladeiras pronunciadas em Berkeley
(Califórnia). Mas na Índia, era tanta gente na rua que não deu para correr. Passei
a caminhar em 2012 por razões médicas. Em Olinda, onde moro, geralmente passo
pelo bairro modesto de Amaro Branco, por ruazinhas estreitas, em algumas das
quais carro não entra. Percorro também a favela do V-8, considerada zona
perigosa. Nunca, graças a Deus, sofri qualquer ameaça. Em compensação, posso
ver as condições reais em que vive parcela substancial de nossa população,
coisa que não é constatada por quem corre apenas no Parque da Jaqueira, na
praia de Boa Viagem, nas ruas de Casa Forte.
E
o que eu testemunho é uma realidade de extremo abandono. Imundice monumental em
toda parte. Alagamentos duradouros quando chove. Casas de grande precariedade.
Gente se alimentando logo cedo de porcarias como refrigerantes (induzidos pela
televisão e seus poderes de convencimento) e comidas embaladas em papel de
alumínio, cujo conteúdo certamente mereceria severa reprovação caso houvesse
vigilância rigorosa da saúde pública acerca de maus hábitos dietéticos da
população. Os ambientes, quanto mais miseráveis, menos oferecem uma visão que
agrade. Aliás, nesse ponto, tampouco se pode dizer que a arquitetura medíocre,
vulgar e agressiva dos prédios que se erguem no Recife e Olinda proporcione
qualquer visão que possa causar prazer visual. É o caso do monstrengo no antigo
quartel de Casa Caiada, onde um shopping
está sendo construído; caso ainda das novas torres da rua da Aurora, como as
mais antigas do cais de Santa Rita. Entre esses pontos de contraste e
celebração da feiura, as desigualdades de nossa sociedade se projetam. Os
pobres e excluídos da V-8 e de Amaro Branco fazem parte da mesma população que
permite enriquecimento ilícito desmedido dos que desviam dinheiro público, e
dos que se encastelam em castas privilegiadas de servidores públicos que ganham
como se fossem potentados de países árabes. Cada vez mais, fica-se sabendo de
setores abastados que gozam férias de 2 meses ou mais por ano, que possuem
auxílio moradia e de transporte, planos de saúde gratuitos e outras benesses
como se isso fosse um direito divino.
O
mal-estar que tudo isso causa se acentua quando se percebe que países
verdadeiramente ricos como a Suécia, a Dinamarca, o Canadá – com mínimos
índices de corrupção também – projetam algo muito mais decente e aceitável. As
profissões privilegiadas no Brasil se resguardam atrás de reservas de mercado,
tal como, por razões compreensíveis, ocorre com certas especialidades médicas,
no caso das quais o interesse primordial não é elevar os ganhos de renda de
seus praticantes, mas bloquear a invasão de charlatães e incompetentes. O
Brasil passa por momentos de grande aflição. Não se tem esperança. Não se vê um
raio de luz que sinalize o fim da escuridão a que estamos sendo levados. A
sensação que se experimenta é a de que o país é uma miséria de concepção de
projeto de nação, uma indecência política, uma desgraça social. Estamos
promovendo aqui, de forma exacerbada, a tendência que o jovem e brilhante
economista francês Thomas Piketty retrata com enorme precisão, à base de reunião
fantástica de dados empíricos, única no mundo, em seu livro O Capital no Século XXI, de 2013. A
obra, publicada quando o autor tinha 42 anos, com tradução brasileira impecável
da economista Monica Baumgarten de Bolle, evidencia que a tendência de aumento
da desigualdade de renda e patrimônio, no mundo, é mais acentuada do que a de
igualdade. Diz Piketty: “a história da renda e da riqueza é sempre
profundamente política, caótica e imprevisível”. A forma como essa história
evolui, completa, “depende de como as diferentes sociedades encaram a
desigualdade e que tipo de instituições e políticas públicas essas sociedades
decidem adotar para remodelá-la e transformá-la”. Isso é tudo o que o Brasil
não vem fazendo. Agravado pelo fato de que, pela análise de Piketty, a anulação
da tendência à desigualdade requer investimentos em capital humano – “aumento
do nível geral de educação e formação”. Ou seja, a convergência para a
equalização impõe que se promova “a difusão do conhecimento”. Isso não é
possível com gente vivendo em sua maioria nos extremos da exclusão – e quando
elites parasitas, de todo tipo de rentistas, ao mesmo tempo, só fazem criar
muros em torno de seu condomínio social, eletrificado e guardado por exércitos
de seguranças e cúmplices.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 24.6.2017
“Devolvam meu São João”
Clóvis Cavalcanti
Em toda minha vida, só passei o São João
fora de Pernambuco quando estudava o curso secundário em Nova Friburgo (RJ) e
ao fazer pós-graduação, primeiro, no Rio e, em seguida, nos Estados Unidos.
Foram 10 festas “perdidas” em 75. Na minha primeira ausência, em 1952, no meu
colégio, e na cidade onde ele ficava, celebrava-se Santo Antônio (no dia 12, a
véspera); o São João era ignorado. As comidas não incluíam nada de milho,
exceto mungunzá branco, chamado de “canjica”. Havia fogueira, batata doce nela
assada, quentão, bolos. E também quadrilha; só que da versão brasileira
autêntica, divertida, espontânea, não ensaiada, sem as tolices e exageros das
estilizadas, sem concursos idiotas, sem coreografias estereotipadas. Longe
daqui, eu sentia enorme falta das nossas coisas tradicionais – milho cozido e
assado, canjica (a nossa), pamonha, pé-de-moleque, bolo de macaxeira, forró com
sanfona, zabumba e triângulo.
Essa tradição foi incorporada de forma
natural às comemorações de minha propriedade, no brejo de altitude de Gravatá,
desde que a adquiri em 1976. Nos quatro primeiros anos, sequer tínhamos luz
elétrica. Mas sanfoneiro, milho e o quentão que faço estavam aí presentes. A
festa era para a vizinhança toda. Assim, desde 18h do dia 23 até o amanhecer do
dia 24, a animação não parava, com gente dançando o tempo todo – normalmente,
umas 80-100 pessoas. De 1980 em diante, com a luz elétrica, não mudou nada. Só
que, a partir de 2005, o pessoal jovem e as mulheres começaram a escassear. Saíam
do lugar para os mega-shows na cidade
de Gravatá, badalados intensamente pelos meios de comunicação. A frequência ficou
sendo muito mais de homens que vinham para beber e sair bêbados, alguns
arrastados. Em 2011, depois que a festa acabou (aí, já antecipávamos o
encerramento para as 2h da manhã), houve um assassinato dentro da propriedade.
Dois homens aparentados se desentenderam, o que estava despencando devido ao
quentão que tomara em excesso terminou assassinado e jogado no meu açude. Já
não havia mais ninguém acordado por ali, exceto os dois. E o assassino saiu da
cena do crime direto para a delegacia da polícia da cidade, a pé, onde
comunicou o que havia feito – e foi preso.
Com isso, cessaram os meus festejos
abertos. Ficou só uma comemoração em família e para as pessoas mais próximas do
lugar. Convivendo de perto com a comunidade, percebo como é forte a ligação das
pessoas com o que o São João tem de mais tradicional entre nós. Os jovens,
porém, têm tomado outro rumo – e não por uma mudança cultural suave. É tudo
vítima de apelos comerciais, que também os fazem aceitar trabalhar no cultivo
de flores, abundante ali, com uso intenso de venenos, dos quais muitas
consequências funestas têm decorrido (incluindo cinco suicídios por ingestão de
agrotóxicos líquidos de pessoas de menos de 30 anos de idade em 2016).
No ano passado, na feira de Gravatá,
encontrei uma moça (bonita) tocando forró com sanfona, sentada na beira da
entrada de um supermercado. Era a antevéspera do São João. Som muito agradável,
da tradição de Luiz Gonzaga, e a menina, simples, cheia de adereços atuais (piercings, tatuagens, a roupa). Fiquei
na plateia. Logo, um senhor de uns 60 anos me procurou e pediu uma colaboração
para a sanfoneira. Dei 20 reais. Era o pai dela, também sanfoneiro, da tradição
visceral do Nordeste, chamado Biu Galego. Conversamos. Simpatizei com a menina.
Só que, até aquela altura, o único dinheiro que havia entrado para ela foi o
que eu tinha dado. Uma verdadeira praticante da boa música, gente da terra,
telúrica, mas completamente marginalizada – algo pelo qual têm passado nossos
artistas, do incomparável Gonzagão a Petrúcio Amorim. Ora, de repente, a gente
sabe que “artistas” invasores com baixíssimas credenciais de cultura recebem
cachês de centenas de milhares de reais para “animar” festejos juninos da região.
É incrível a insensibilidade de quem contribui para essa desigualdade de
tratamento sem nenhuma razão de ser. Por que a filha de Biu Galego vai
permanecer ignorada e essas duplas goianas, paulistas cafonas não param de faturar
massas absurdas de dinheiro? Como disse no DP,
no fim de semana passado, meu amigo Leonardo Dantas: “Esses rapazes do
Centro-Oeste chegam aqui fantasiados de caubói, com chapéu do Texas e querem
mandar na festa da gente e ainda serem pagos com dinheiro público”. Isso não é
evolução cultural, e sim imposição de valores, colonialismo. Não há como eu não
me posicionar ao lado de Leonardo, de Ariano Suassuna, Alceu Valença (cujo
filme A Luneta do Tempo é um belíssimo
manifesto regionalista), Elba Ramalho, Renato Phaelante, Maciel Melo, Santana, Alcymar
Monteiro; do apresentador Sérgio Gusmão, meu amigo, cujo discurso é exemplar no
assunto aqui tratado. Meu universo de São João é o mesmo de Luiz Gonzaga,
Dominguinhos, Sivuca – uma herança de minha família, de minha educação, dos
valores que o Nordeste encerra.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 10.6.2017
PIB e meio ambiente: hora de ler a encíclica Laudato Si’
Clóvis Cavalcanti
Recentemente,
quando se soube que o PIB brasileiro tinha crescido 1% no primeiro trimestre de
2017 relativamente ao último de 2016, foram múltiplas as manifestações de
regozijo. Teria terminado a recessão econômica dos dois últimos anos. Duas
coisas podem ser pensadas a respeito desse fato. Primeiro, o ato de fé de todos
que lidam com estatísticas macroeconômicas, acreditando que houve
indiscutivelmente um aumento do PIB brasileiro no período indicado. Acontece
que, na ciência, qualquer medição está sempre sujeita a erros. Daí a razão pela
qual, na literatura científica, sempre se usam margens de erro e intervalos de
confiança. É assim, aliás, que os resultados de sondagens eleitorais são
divulgados. Por que então a certeza absoluta quando se trata de uma grandeza da
economia, cujo cálculo – diga-se de passagem – é efetuado de maneira indireta,
cheia de contorcionismos? A esse respeito, vale uma observação de Celso Furtado
(1920-2004), em seu livro O Mito do
Desenvolvimento Econômico, de 1974. A de que “a contabilidade nacional pode
transformar-se num labirinto de espelhos, no qual um hábil ilusionista pode
obter os efeitos mais deslumbrantes”. Isso, de fato, é o que, não raro,
acontece. Furtado chama o PIB, ainda, de “vaca sagrada dos economistas”, por conter definições e arranjos
mais ou menos arbitrários, entre os quais a exclusão no cálculo do produto dos
impactos ou custos ambientais. E pergunta: “Por que ignorar na medição do PIB,
o custo para a coletividade da destruição dos recursos naturais não-renováveis,
e o dos solos e florestas (dificilmente renováveis)? Por que ignorar a poluição
das águas e a destruição total dos peixes nos rios em que as usinas despejam
seus resíduos?”
A segunda coisa que pode ser pensada
diz respeito à observação de que o PIB – abreviação do termo produto interno
bruto, uma medida do nível da atividade da economia de um país, região, cidade,
etc. – é só uma face do processo econômico. A face, digamos assim, brilhante.
Ou face dos benefícios. Como não existe almoço grátis, onde estão os custos – a
face sombria – de obtenção do PIB? Simplesmente, eles são omitidos. No entanto,
para realizar o processo econômico, é preciso usar recursos, retirá-los de uma
fonte. O que se faz aí, figuradamente, é cavar um buraco no sistema ecológico
ou ecossistema, buraco que pode ser eterno e cada vez maior, como no caso dos
recursos esgotáveis (petróleo, por exemplo). E como no caso dos recursos
renováveis, caso sua extração se faça a ritmo superior ao da sua reposição. O
processo econômico segue transformando recursos – ou riqueza verdadeira – em
artefatos e serviços que proporcionam bem-estar (nem sempre, como quando um
carro atropela gente) e que viram lixo em algum momento, além da poluição de
todo tipo que causam. Nada que se consome vai existir eternamente. Alguns bens
– como uma pirâmide – podem durar milênios, e acabar um dia. Raríssimos são
esses. Dentro da normalidade, os bens se acabam inexoravelmente logo. Viram
lixo. Alguns podem ser reciclados. A maioria não o é. Acumula-se, dessa forma,
um monte de dejetos no fim do processo econômico. O monte pode ser eterno e
crescente, como, sem dúvida, acontece com detritos, cinzas, energia degradada,
certas sucatas (telas de computadores, celulares). Quer dizer, de um lado, no
destino, um monte crescente; do outro, na origem, um buraco cada vez maior. É
como sintetiza meu amigo paulista Hugo Penteado, economista ecológico e
ex-economista chefe do Banco Santander no Brasil: as discussões sobre a
economia não passam “de um
teatro para não mudar uma vírgula sequer de um sistema econômico que nunca
abandonou a pretensão de ser maior que a Terra, com cada vez mais vetores
lineares (extrai-produz-consome-desperdiça-joga fora) diminuindo cada vez mais
as chances de a vida continuar aqui”.
Ladislau Dowbor,
professor de economia da PUC de São Paulo, propôs uma questão interessante em
2009: como pode a destruição ambiental aumentar o PIB de uma nação? Ele mesmo
respondeu a ela com a seguinte provocação: “simplesmente porque o PIB calcula o
volume de atividades econômicas, e não se essas atividades são úteis ou
nocivas”. E completou, afirmando: “na metodologia atual, a poluição aparece
como sendo ótima para a economia, e o Ibama vai aparecer como o vilão que a
impede de avançar”. Ora, tudo isso é muito insano. Um alerta para tal realidade
foi feito na encíclica Laudato Si’,
do Papa Francisco, em 5/6/2015. Hora de lê-la, ou relê-la.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 30.5.2017
Peçam perdão
Clóvis Cavalcanti
Willy Brandt
(1913-1992), do Partido Socialista, foi um grande e respeitado político alemão.
Prefeito de Berlim Ocidental, depois chanceler da antiga República Federal da
Alemanha (RFA), de 1969 a 1974. Renunciou ao cargo de chefe do governo em
virtude de um assessor próximo seu, Günter Guillaume, haver sido identificado
como espião da polícia secreta da rival Alemanha Oriental (comunista). Brandt
confessou que não sabia da condição de espia do auxiliar, mas, envergonhado,
pediu desculpas pelo deslize involuntário e entregou o cargo. Não houve pressão
para isso, nenhuma ameaça. Muito popular, tinha realizado esforços importantes
para aproximar a RFA do Leste Europeu, trabalho que lhe proporcionou o Prêmio
Nobel da Paz de 1971. Nada disso foi impedimento para que ele demonstrasse
humildade, largasse sua liderança e pedisse perdão a seus concidadãos.
Gestos assim faltam no Brasil.
Multiplicam-se os casos da corrupção mais deslavada e ninguém dos apontados
pelo desrespeito à ética vem a público reconhecer erros assustadores,
penitenciar-se por possível incompetência ou fraqueza diante de fatos e
situações, e pedir desculpas à sociedade. Errar é humano. Ninguém é infalível.
Muitas vezes, por exemplo, usamos palavras grosseiras, ríspidas ou de voz
alterada quando não gostamos de alguma coisa. É prova de sensibilidade, de
delicadeza, formular um pedido de escusas em casos assim. Muito mais quando se
trata de gestão do patrimônio público, quando se evidencia, como há meses, um
conluio entre governo e poderosos da economia. Com o agravante de um quadro
amplo de acertos entre empresários e políticos, que vai se evidenciando mais e
mais, envolvendo valores que estão muito acima do que pode imaginar até o
eleitor mais informado Não há sentido algum, por outro lado, em um robusto homem
de negócios ir conversar com o presidente da República às 23h. Sem testemunhas.
Sem uma gravação do encontro pela segurança presidencial.
Chico
de Oliveira, grande sociólogo pernambucano e respeitado professor da USP, na Folha de São Paulo de
14/12/2003, já sugeria algo errado ao escrever por que estava se desligando do
PT na ocasião. Disse: “Afasto-me
porque não votei nas últimas eleições presidencial e proporcional no Partido
dos Trabalhadores [...] para vê-lo governando com um programa que não foi
apresentado aos eleitores. Nem o presidente nem muitos dos que estão nos
ministérios nem outros que se elegeram para a Câmara dos Deputados e para o
Senado da República pediram meu voto para conduzir [...] uma política de
alianças descaracterizadora [...] um conjunto de políticas que fingem ser
sociais quando são apenas funcionalização da pobreza”. Chico, que sempre se
recusou a ocupar cargos, estava insatisfeito com o que chamava de “política de
alianças descaracterizadora”. Na ocasião, ele não imaginava o grau de desvio
que ocorreria daí por diante. Não quero demonizar ninguém. No entanto, a enorme
proximidade do governo de empreiteiras, empresas do agronegócio, bancos – com a
fartura de recursos do BNDES (cuja denominação fala em “desenvolvimento
econômico e social”) – não poderia terminar bem. Essa realidade, que tem se
revelado enormemente promíscua, criou uma conjuntura em que a economia fica
emperrada e a população não sabe para onde vá. Pedir desculpas, ao invés de
ficar inventando fábulas tolas, para esconder a promiscuidade, seria a primeira
providência a ser feita.
Um dado interessante de minha
experiência de vida foi o acesso ao presidente João Goulart que a diretoria da
UNE (União Nacional dos Estudantes) tinha em 1963, quando fui membro do
Conselho da entidade. Vinícius Caldeira Brant, o presidente (até julho de 1963),
ligava para o Palácio do Catete altas horas; Goulart dizia “Pode vir”. O que ia
falar um jovem estudante com a maior autoridade do país tão tarde da noite?
Coisa que ele e a UNE achavam importantes. Não era para gravar nada. Pelo
contrário, era para se fazer aliança de forças, para ajudar o governo no plano
político. Parece incrível, hoje, uma história dessas. O próprio Vinícius, um
mineiro que foi meu amigo e morreu jovem, as contou-me em conversas na época e
tempos depois. A UNE não possuía receitas. Vivia sobriamente. Nunca foi pedir
verbas ao governo. Como atuava de forma destemida pelas causas nacionalistas e
de justiça social, virou alvo do ódio que estourou no golpe de 1964, havendo
sua sede sido incendiada na noite de 31 de março daquele ano. Eu estava nas
proximidades. Foi doloroso testemunhar um efetivo golpe militar. A
redemocratização do país não deveria nunca levar à realidade podre que, com
tristeza e dor, presenciamos agora. Que os culpados comecem pedindo perdão.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 13.5.2017
A esperança que resta
Clóvis Cavalcanti
Nunca vejo televisão. No sábado, dia 6/5, atrás do
jogo Náutico e Santa Cruz, surfava a minha (que é analógica!) quando caí
acidentalmente na Globo News. Vi que
o canal exibia um programa sobre o ex-governador Sérgio Cabral, do Rio de
Janeiro. Uma história de roubo e mentira sem tamanho, dentro da trajetória do
político recheada de declarações próprias enaltecendo e assegurando sua
probidade (como se ele fosse um Frei Damião ou Irmã Dulce). Luiz Inácio Lula da
Silva e Dilma Rousseff aparecem no documentário como fiéis aliados do
governador. Em comício da campanha de reeleição dele, em 2010, os dois são
filmados em comício fazendo enormes elogios a Cabral. Já se sabe hoje, com
certeza, porém, que a dimensão da desgraça do desvio de dinheiro público que
aconteceu sob suas vistas ultrapassa qualquer nível de imaginação. É uma
história que devemos todos, como muitas mais, à Operação Lava-Jato. De outra
forma, na verdade, a impressão que o cidadão comum tem é de que a enorme
prática de corrupção dos últimos tempos passaria incólume. E não é pouca coisa
que se tem descoberto. As revelações que vêm a público oferecem um espetáculo
de uso impróprio do dinheiro alheio que não figura nos cálculos de quem age sob
o anteparo de princípios de decência e honestidade.
Vive-se hoje, no país, em consequência, uma
situação de estado de choque. Todas as esperanças de progresso nacional,
alimentadas depois do Plano Real, vão sendo substituídas pela vergonha, pelo
sentimento de impotência diante do que aconteceu e, imagina-se, ainda possa
estar acontecendo. A sociedade se questiona a respeito das escolhas que fez
confiando em pessoas que mentiam de forma descomunal. Na campanha presidencial
de 2014, por exemplo, desconstruiu-se a imagem da candidata Marina Silva com
mentiras da pior categoria. E o que a ela se atribuía como maldades a ser
postas em prática quando assumisse a presidência, o governo adotou em 2015 sem
a menor cerimônia como remédio inevitável para conter o descalabro das finanças
públicas. Mentia-se atribuindo os problemas do Brasil à crise internacional,
não resolvida, que dura desde 2008, a mesma que foi considerada pelo então
presidente Lula, nesciamente, como “marolinha”. Prometia-se o inalcançável, com
apoio em propaganda edulcorada que oferecia o paraíso, omitindo completamente o
grau de limitações a que o Brasil fora levado por anos de má gestão fiscal.
O grande mal-estar de agora, a sensação de vergonha
diante da falsificação da verdade por nossos dirigentes, a tristeza em face do
agravamento da pobreza e da falta de emprego, a decepção pela descoberta de
safadezas cometidas por governantes que não souberam honrar a confiança neles
depositada – tudo isso se agrava pela falta de perspectivas que se percebe à nossa
frente. Atribui-se à recuperação da economia, a um melhor desempenho do PIB, ao
crescimento econômico, que é o fetiche mais venerado do país, a capacidade de
levar nossa sociedade a dias mais venturosos. Mas como, se houve tanta
deterioração de valores, tanto desrespeito à verdade, tanto recurso aos meios
mais condenáveis para enriquecimento pessoal?
O caso do governador Sérgio Cabral é chocante. Já
na década de 1990, o ex-governador Marcelo Alencar, do Estado do Rio,
questionava a exibição de riqueza que ele, então simples deputado estadual,
fazia. Cabral usava de todo sortilégio para enganar Deus e o mundo. Foi bem
sucedido. Lula e Dilma não tiveram o desconfiômetro que Marcelo Alencar possuía.
E é aqui que nossa vergonha fica mais robustecida, pela evidência cada vez
maior de uma realidade de corrupção que ultrapassa todo cálculo. Se os
delatores da Odebrecht mentem, certamente não poderiam mentir todos
simultaneamente contando as mesmas histórias, com os mesmos personagens, as
mesmas quantias envolvidas. O certo é que o país afunda, causa tristeza e
vergonha, e espanta porque não se consegue imaginar o futuro que nos espera.
A sorte, no meu entender, é que ainda existe no Brasil um
país silencioso que trabalha: um país de vergonha, um país que cultiva valores
de solidariedade, de decência, de honestidade, de compromisso com o bem comum,
de cumprimento da palavra dada. Um país esquecido, mas que age para que se
possa viver fraternalmente. É o Brasil Profundo das populações sertanejas, por
exemplo. O Brasil de cuja alma tão bem falava Ariano Suassuna. Em 1926, dele
tratou Gilberto Freyre, no poema “O outro Brasil que vem aí”, que assim começa:
“Eu ouço as
vozes/ eu vejo as cores/ eu sinto os passos/ de outro Brasil que vem aí/ mais
tropical/ mais fraternal/ mais brasileiro.” O final do poema, que motivou artigo
meu aqui no DP em 20/10/2002, tem este desfecho: “Eu ouço as vozes/ eu vejo as
cores/ eu sinto os passos/ desse Brasil que vem aí.” É meu sentimento. Minha
esperança.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 26.4.2017
Meu Deus, como me enganei!
Clóvis Cavalcanti
Presidente
da Sociedade Internacional de Economia Ecológica (ISEE); cloviscavalcanti.tao@gmail.com
No
dia 10/11/2002, saiu aqui no DP um artigo meu, de opinião, intitulado “Agora,
mãos à obra!” Eu falava sobre a vitória de Lula, dias antes, no segundo turno
das eleições presidenciais. Dizia: “É para se pensar como será o Brasil sob o
governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal, não é só alguém
dos grupos subalternos de nossa sociedade que vai ascender à máxima instância
do executivo nacional. Trata-se de um cidadão decente, ético, de passado
respeitável em todos os sentidos. De alguém que, por exemplo, nunca teve uma
empregada doméstica [...]. De alguém que não pôde freqüentar escola, que teve
de trabalhar quando criança, que foi retirante do Nordeste, que sobreviveu sem
pai, criado, junto com mais sete irmãos, por mãe corajosa e digna (como tantas
neste país). Estamos diante de uma situação absolutamente nova, especialmente
porque Lula tem noção de tudo isso, nunca se afastou de suas raízes, e sua
trajetória política forjou-se nos embates sindicais para defesa dos direitos de
uma categoria profissional. Discreto, Lula mantém fora do foco de atenções sua
vida familiar, sua prática religiosa. No dia do primeiro turno das eleições
deste ano, conta seu amigo Frei Betto, para comemorar os 57 anos de Lula, na
casa do presidente eleito, apagou-se uma vela, cortou-se um bolo, rezaram-se o
Pai Nosso e o Salmo 72 na versão de Frei Carlos Mesters (‘o bom governante
escuta os pedidos dos pobres’). E foi tudo. O Brasil precisa de dirigentes
assim, austeros, frugais, tanto na vida pessoal – para exemplo da Nação –
quanto nas escolhas para a realização do programa de governo”.
Empolgado, eu falava mais: “Essa
mensagem de luta, de severidade [...], de espírito titânico, representa
requisito indispensável para que se enfrentem os problemas brasileiros atuais.
Entretanto, Lula sozinho será incapaz de qualquer sucesso, se não contar com
seguidores em seu modo de ser e de agir. As administrações petistas no Brasil [...]
devem procurar emular o grande líder eleito para governar o Brasil a partir de
2003. É necessário que todos trabalhem 24 horas por dia, tal como também faz, a
propósito, o atual vice-presidente da República, Marco Maciel, uma figura austera
e frugal. Fala-se muito em ‘austeridade fiscal’, porque é preciso gastar dentro
dos limites rigorosos das contas públicas. O Brasil, porém, precisa de um choque
de austeridade em estilos de vida esbanjadores que adota. É conhecida a farra
da corte brasiliense com suas mordomias, com a facilidade com que permite que
seus integrantes viajem sem nenhum pudor para cima e para baixo do território
nacional (e para fora dele). Um presidente austero e trabalhador tem que
disciplinar o uso das receitas públicas, submetendo-as a freios que sirvam de
paradigma para todos os níveis da administração pública”.
Eu comentava que, na versão
clássica “do Estado do bem-estar, proposta pelo economista inglês William
Beveridge (1879-1963), cumpre ao governo espantar os demônios da doença, das
privações, da fome, da miséria, da falta de teto. Não se trata, portanto, de
criar situações de parasitismo, luxo ou opulência. O Brasil necessita de
avanços sociais nítidos assim. Não se pode admitir que a exclusão persista,
sobretudo nos níveis indecentes que o País ostenta. O compromisso de Lula é
claramente com o combate às carências identificadas por Beveridge, que não foi
nenhum revolucionário. A assunção ao poder de alguém com sua formação deve
servir para que se realize entre nós um choque de valores humanos, aproveitando
o que a sociedade tem de bom (e eu estou certo de que o potencial para isso é
grande). Algum antídoto para a miséria tem que se amparar em mecanismos
redistributivos” cuja importância “será percebida quando ficar patente que a
redistribuição da riqueza levará a menos insegurança, a menos crianças de rua,
a menos sobressalto. Que é o que nós desejamos. Não se pode é tolerar a
convivência do festim perdulário de uns poucos em face das enormes carências
[...]. Lula aqui tem que fazer o que diz o Salmo 72 (ou será que é para jogá-lo
fora?): ‘Que o rei faça justiça aos humildes do povo, salve os filhos do pobre’”.
Salientei: “Infelizmente,
temos visto que o sofrimento das camadas despossuídas do País não comove os que
alimentam crenças obsessivas no poder do mercado de resolvê-lo. Karl Polanyi
(1886-1964), na Grande Transformação,
já comentava o tipo de sociedade que se regula por esse ente, quando o certo
seria a sociedade regular o mercado, submetê-lo ao interesse público. Esta
percepção tem se manifestado no discurso de Lula, que não quer frustrar aqueles
que lhe deram o voto consagrador. É certo que os limites da realidade impõem
condicionantes duros [...]. Para evitar que a
insensibilidade à maneira de Margaret Thatcher (1925-2013), Ronald Reagan (1911-2004)
ou Augusto Pinochet (1915-2006) prevaleça, a proposta do diálogo das partes
interessadas ou pacto social que Lula tem enfatizado como parâmetro de seu
governo é algo que merece a maior atenção. A sociedade toda tem que ser
mobilizada, inclusive como forma de capitalizar a enorme energia social que
sinaliza agora o desejo de mudanças. Mãos à obra, portanto!” Meu Deus, como me
enganei! Como fomos trapaceados!
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 22.4.2017
Suape, meio ambiente, população
Clóvis Cavalcanti
No
dia 5 de abril de 1975, o extinto semanário Jornal
da Cidade, do Recife, estampou manchete de capa com os dizeres: “Cientistas
lançam manifesto contra o Complexo de Suape”. Na verdade, quem o redigiu fui
eu. Submeti-o depois à apreciação de um número de pessoas, das quais foram seus
signatários, comigo, os professores Nelson
Chaves, grande nome da nutrição, José Antonio Gonsalves de Mello, o maior
historiador do período holandês no Brasil, João de Vasconcelos Sobrinho, um dos
maiores ecólogos brasileiros, Renato Carneiro Campos, diretor do Departamento
de Sociologia do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, todos
falecidos, e Renato Duarte, professor de economia da UFPE e Roberto Martins, coordenador
do Curso de Mestrado em Sociologia da UFPE. Naquele momento (antes da
“abertura política”), a atmosfera era de risco para críticas ousadas.
Precisava-se de coragem para contestações ao governo federal e aos estaduais, que se empenhavam em promover grandes
empreendimentos. O Brasil tinha atravessado anos – que jamais se repetirão – de
crescimento econômico miraculoso, com taxas da ordem de 10% a.a., e até
maiores. Havia euforia em torno de grandes empreendimentos que alavancassem o
PIB, sob a suposição de que se criaria emprego e acabaria com a miséria. Essa
era a imagem que os autores do Projeto de Suape passavam. Só que tudo era feito
– e continua sendo, na verdade – sem consulta à população e ignorando-se os
custos sociais e ambientais das iniciativas. Eu me incomodava com essa omissão.
Ao escrever o manifesto, eu propus que, com uma metodologia de ausculta à
sociedade, se fizesse a avaliação de impactos ecológicos. Este último era
assunto de que ninguém tratava então. Inexistia movimento ambientalista e era
rala a consciência ecológica no país.
Foram fortes as
reações ao manifesto. O governo de Pernambuco o rebateu com fúria afirmando que
os autores do protesto “apenas encontraram bases emocionais e pressa na
crítica, com total desconhecimento do assunto”. Assegurava: Suape “trará
emprego, melhorará as condições de vida das populações do Estado e dará
condições de aumentar a produtividade dos campos de Pernambuco e da região”,
absorvendo “o excedente de população do meio rural” – coisas que, quatro
décadas depois, são negadas pelos fatos. Conversa fiada. Quanto à crítica
ecológica, a nota assegurava que não haveria perigo de poluição com o projeto.
A razão: havia nele a previsão de uma central de tratamento de resíduos, que os
autores do documento não enxergavam. Mais mentira. Dizia o governo haver também
previsão de uma barreira de proteção ecológica, com reflorestamento, algo que
só começou a ser realizado em 2011, quando Eduardo Campos nomeou Sérgio Xavier
secretário de Meio Ambiente de Pernambuco – 39 anos depois. No tocante à falta
de discussão da iniciativa, de consulta à sociedade, rebatia a nota: “As
consultas se fizeram, pois a Assembléia Legislativa aprovou o projeto ... e os
órgãos de classe e Clubes de Serviço debateram e deram seu apoio”. Sublinhava
que “o Conselho Estadual de Cultura, sob a presidência do Mestre Gilberto
Freyre, louvou o projeto por sua preocupação em preservar os sítios históricos
e cuidar da defesa do meio ambiente”. Que essa preocupação não era prevista
deduz-se do que escreveu em 2007 o secretário de Planejamento de Pernambuco de
1975, Luiz Otávio Cavalcanti: “O movimento que se opunha à construção de Suape
colaborou, com suas opiniões, para que o governo adotasse medidas oportunas,
voltadas ao controle ambiental”.
Passados 42 anos, o que se pode
testemunhar em Suape é uma irreparável destruição ambiental, afetando o
ecossistema marinho da região e acabando com a pesca, que era abundante ali. Ao
mesmo tempo, o histórico de indignidades e violência cometidas contra comunidades
que moravam na área ocupada e que resistiam à expulsão forçada de lá, de que o
Fórum Suape, de entidades ligadas à população dali, revela, causa revolta. Por
outro lado, com a destruição dos manguezais, berçário natural de peixes, as
populações de pescado de Suape sofreram drásticos cortes. Isso abalou a
comunidade local, que girava em torno da pesca, causando sofrimento e
empobrecimento aos habitantes do lugar. Cristiano Ramalho, antropólogo e
professor da UFPE, registra-o em sua tese de doutorado, de 2007, para a
Universidade de Campinas (Unicamp). O drama de Suape também se estende à
extinção de fontes de alimento para a Região Metropolitana do Recife, como no
caso de frutas de excelente qualidade ali encontradas: caju, mangaba, manga,
jaca, cajá, jambo, pitomba, abacate, etc. Para mim, uma desgraça. Desgraça mais
ampla ainda, na verdade, e que está bem documentada em trabalho de conclusão do
curso de ciências sociais da UFRPE, de 2009, de Marcos Miliano, bolsista da
Fundação Joaquim Nabuco, relativo ao processo de expulsão dos moradores da Ilha
de Tatuoca, para a construção de um estaleiro. O Manifesto de 1975 não desenhou
uma falsa realidade. Profetizou. Está vivo.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 29.3.2017
“Carne Fraca” e comida saudável
Clóvis Cavalcanti
O evento tumultuado da denominada operação
“Carne Fraca” teve foco em supostas fiscalizações irregulares, envolvendo
suborno, da produção de carne bovina em algumas grandes empresas da pecuária
industrial brasileira. Tudo o que se discutiu em torno do que foi feito, depois
da ação policial, se prende ao efeito dela sobre a economia brasileira,
especialmente no tocante às exportações de carne do país. Para quem se preocupa
com uma comida saudável, o foco certamente é outro. E não diz respeito somente
à produção de carne de boi. A questão envolve, de fato, o tipo de comida que
consumimos. Já que somos alimentos transformados – a qualidade do sangue humano
depende do que colocamos na boca –, importa muito a natureza de nossa
alimentação.
A consciência disso me fez mudar de
dieta em 1971, quando me dei conta de que minha saúde não correspondia ao que
eu esperava e eu não avaliava a natureza do que estava comendo. Comecei a
estudar o assunto influenciado por meu pai, muito cuidadoso que era quanto à
comida. Cheguei à macrobiótica, a mim por ele apresentada. Passei a comer grãos
integrais, o arroz à frente, a incorporar molho (shoyo) e pasta de soja (missô) aos meus pratos, a renunciar à
carne, ao açúcar, ao sal refinado, ao álcool, a comer verduras de boa
procedência. Terminei adquirindo uma propriedade para produzir boa parte de
minha comida e adotei a agricultura 100% orgânica em 1976. Sem me desfazer dos
princípios macrobióticos, introduzi hábitos da alimentação nordestina
tradicional (comer bode, por exemplo) nas minhas refeições. Meu pai também
mudou algumas coisas de sua comida. Não tomava álcool. Continuou assim. Eu,
não.
Evito completamente os hábitos
alimentares comuns da população em geral. Há 40 anos, refrigerantes não entram
em minha casa (nem copos, talheres, pratos plásticos). Não como galinha e ovo
de granja – só de capoeira. Evito comê-los fora de casa. Peixe, só do mar; nada
de cativeiro. Bode, carneiro entram. E cachaça, vinho, chás – café, raramente.
Tomo para referência tanto os ensinamentos orientais da macrobiótica quanto a
tradição da comida nordestina, considerando ainda a agradável dieta do
Mediterrâneo. Sobre isso, li a respeito da dieta de Jesus, por exemplo. Ele
comia peixe, pão (esses mesmo depois da Ressureição), azeitonas,
figo, uva, carneiro, cabrito, feijão, lentilhas, melão, romã, passas, nozes,
leite, queijo, iogurte, ovos, pepino, mel, milho, trigo, vinho (há quem diga
que o teor alcoólico fosse nulo; não creio). Grãos integrais e sal, não
refinados, sempre. Comia ainda alho, cebola, alho porró.
Tudo isso é comida
tradicional, algo que resulta de milênios de evolução, de experiências que
mostram o caminho certo. Nada a ver, por exemplo, com a aberração dos
refrigerantes, uma desgraça para a humanidade, quando se tem tanto suco
delicioso, água de coco, água de fonte, chás, café. Sobre refrigerantes, vale a
pena ver o que diz a Escola de Saúde Pública T.H. Chan, da Universidade de Harvard: o consumo
crescente deles, que são verdadeiramente doces líquidos, tem sido marcante na
epidemia de obesidade do país. Com açúcar em exagero em sua composição, os
refrigerantes não conferem a mesma sensação de alimentar que dariam as mesmas
calorias de um doce em forma sólida, e assim quem os consome não compensa o
exagero comendo menos. Uma saída para isso, e que não impõe o abandono da carne
de gado criado solto, nem da galinha de capoeira (a de granja sofre martírios
inomináveis), é oferecida por um movimento internacional,
nascido na Itália, o Slow Food, que
reúne pessoas que querem comer direito, celebrando o alimento de qualidade,
limpo, sem venenos, e o prazer da alimentação. Comer é um ato prazeroso. A boa
comida, a que agrada, a que não deixa rastros de mal-estar, faz bem à saúde.
Com arroz integral e verduras orgânicas, melhor.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 14.3.2017
Fraternidade, biomas, transfiguração,
Clóvis Cavalcanti
Como faz todo ano, a igreja católica
lançou na quarta-feira de cinzas sua Campanha da Fraternidade de 2017 (CF 2017).
Escolheu um tema muito relevante no momento, “Biomas brasileiros e defesa da
vida”, citando o Gênesis, “Cultivar e guardar a criação”. O mundo se encontra diante
de uma encruzilhada. São sérias, as ameaças de colapso ecológico. De 1,5 bilhão de
pessoas em 1900, a população do planeta passou para 7,4 bilhões em 2017. E o
PIB global, a preços atuais, de 2 trilhões de dólares em 1900 para 95 trilhões
em 2017. Ou seja, em pouco mais de um século, o contingente demográfico do
planeta se multiplicou de 4,8 vezes e a economia, de 47,5. Isso tem implicações
muito mais impactantes do que imagina quem desfruta de conforto num 20º andar
de prédio na av. Boa Viagem. De mundo vazio, passamos para um mundo cheio, onde
as pessoas, por assim dizer, estão se acotovelando. Daí, déficits ecológicos
têm atingido patamares muito elevados. O problema se agrava porque é preciso cada
vez mais esforço para obtenção de uma mesma quantidade de recursos. No caso do pré-sal,
por exemplo, vendido insanamente como salvação da pátria, vale a pena
considerar a realidade alternativa de um petróleo à flor da terra, como o
saudita. Um barril de petróleo do subsal brasileiro requer muito mais energia
para sair da terra do que um barril bombeado de jazida a 20 metros de
profundidade nos países árabes. Além disso, petróleo é para se usar
menos, pois ele reforça o peso ameaçador da mudança climática.
O Papa Francisco, falando como
cidadão planetário muito mais do que como sumo pontífice, avisa sobre isso em
sua encíclica Laudato Si’, que tem
quase dois anos. “Cultivar e guardar a criação” é o conselho mais pertinente
para uma humanidade que se imagina senhora e dona da natureza, e acredita que
os problemas ambientais possam ser resolvidos através da ciência e tecnologia.
Há limites biofísicos no planeta, que não podem ser desrespeitados. É o caso,
por exemplo, da biodiversidade, cuja existência não depende dos humanos, mas
cuja diminuição, sim. Sobre isso, pode-se classificar de assustadora a extinção
da vida planetária das últimas décadas, de uma ordem tal que faz o mundo da
ciência compará-la à que aconteceu 65 milhões de anos atrás, quando os
dinossauros desapareceram. Esta nossa será a sexta grande extinção da vida na
Terra, resultante da destruição de habitats, da introdução de espécies
invasoras, das mudanças climáticas. Na verdade, a perda de espécies agora é 100
vezes maior do que a que seria considerada normal. O conjunto de fenômenos
antropogênicos, que possui enorme amplitude, até fez surgir um nome para a era
geológica atual, Antropoceno. Ele expressa justamente a arrogância do poder
destruidor da Homo sapiens.
Ao
trazer a lume a significação da defesa da vida tendo como referência os biomas
brasileiros – Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, Pampa – a
Campanha da Fraternidade de 2017, além de se preocupar com sua integridade e
seu valor estético, traz um recado para o que eles representam na mitigação das mudanças
climáticas. Como
diz o físico Alexandre Costa, da UFCE, em entrevista à Revista ihu on-line,
é preciso entender a ciclagem de água e carbono e as influências do
desmatamento, queimadas e mudança do clima global nesses biomas. Preservá-los “vai
além da mudança de hábitos (por exemplo, reduzir o consumo de carne,
principalmente se a procedência desta for a Amazônia ou o Cerrado).
É preciso ter políticas públicas no sentido contrário daquelas que vêm sendo
aplicadas há vários anos e que levaram à expansão da soja, da pecuária, da
mineração, da exploração de combustíveis fósseis e da construção de grandes
barragens, como Belo Monte”. Ou seja, estamos diante do
desafio de uma Transfiguração: esse parece ser o recado de Francisco e da CF
2017.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 2.3.2017
O bom carnaval de 2017 em Olinda
Clóvis Cavalcanti
Quando levantei às 5h do sábado de Zé
Pereira, doido para sair cedo para o Galo, leio no meu WhatsApp duas mensagens
assustadoras. Ei-las, respeitando suas próprias redações: (1) “GALO SEM
POLÍCIA! A polícia de Pernambuco acaba de deflagrar um movimento de paralisação
das atividades durante o galo da madrugada. Devido à intransigência do governo
do estado. Repassem para todos os grupos, parentes, amigos e conhecidos”; (2)
“As BR’s estão bloqueadas com caminhões. Assalto na 232 e na 101”. Pensei: deve
ser mentira de gente inimiga da alegria, da amizade, da confraternização, das
tradições, da linda música pernambucana. As mensagens provinham de duas amigas
minhas, merecedoras, ambas, de crédito. Uma de Olinda, a outra de Garanhuns.
Não poderia ser coisa delas, matutei. Fui olhar a Internet – nada. Minha decisão
foi então: sairei normalmente com Vera para o Galo, como nos últimos 20 anos.
Peguei meu carro; fomos nele. Cidade tranqüila em toda parte. Policiamento
educado, eficiente. Clima geral de descontração. Levei meu celular, contra a
vontade de Vera, que deixou o seu. Não houve problema nenhum. Não vi nem sequer
crise de ciúmes entre marido e mulher!
Foi assim o carnaval inteiro – no
Recife, aonde vou apenas para o Galo, até 11h, e em Olinda, onde passo o resto
da folia. Aliás, a festa de Momo em Olinda pode ser considerada um marco do
prefeito Prof. Lupércio. Começa que o orçamento para a ocasião foi a metade do
gasto do ano passado, e o número de adesivos para carros trafegarem no Sítio
Histórico teve apreciável corte de 6 para 3 mil! A prefeitura não gastou, por outro
lado, com exageros de decoração, dispensando adereços sem qualquer serventia e
de indesejável impacto ecológico. Ela acertou admitindo que o valor da folia é
dado não por enfeites, e sim pela alegria dos carnavalescos. Alegria essa que,
a meu ver, foi prejudicada pelo mantra cansativo, sem foco, raivoso e vazio do
“Fora Temer”. Meu bloco, o Eu Acho É
Pouco, surgido na oposição à ditadura e no qual saio desde 1978, era mais
alegre no regime militar (do qual tenho motivos pessoais para lembrar com dor)
do que foi neste carnaval. O que significa “Fora Temer”, ainda mais para gente
que o elegeu duas vezes?! Não era a hora de fazer comício. Isso não é assumir
luta política – ainda mais no meio de tanta gente embriagada. Ter um projeto
alternativo, consistente, com líderes à altura é que é a rota a ser traçada.
Sem sectarismos.
A organização geral do carnaval em
Olinda esteve muitos níveis acima do que vivenciamos nos últimos anos da triste
gestão do PCdoB (Luciana Santos, em 2011, começou muito bem). No carnaval de
2017, não havia carros circulando no meio da multidão. As barracas, mais
arrumadas do que antes, ficavam fora da pavimentação. Lixo se recolhia com
rapidez. O som dos focos não perturbava tanto quem não queria participar da
festa. E os blocos cumpriram horários, como há muito não se via. Quando peguei
a Ceroula, no sábado, ela já estava na rua. E que lindo espetáculo, o dessa
troça tradicional com sua orquestra incomparável! Igualmente, não deu para
chegar em Guadalupe às 11h da terça-feira. Os bonecos gigantes já tinham saído,
com suas 5 orquestras do melhor frevo de Pernambuco, quando fomos a seu encontro.
Fizeram um desfile de que pude participar até a Ribeira, quando, normalmente,
não dava para passar da igreja do Amparo. Violência? Não tenho o que contar. Só
vi gente alegre em todo o espaço do perímetro do Sítio Histórico. Policiamento
digno de elogios. Daí por que foi tão lamentável o boato de que não haveria
policiais na rua. Gente má faz isso. O povo do bem se diverte, mesmo em meio às
agruras por que passa. Sem ofensas, querendo amar. Apenas para ser feliz nem
que seja numa horinha.
PS- Eu já tinha escrito este artigo
quando soube de grave incidente de violência na rua da Boa Hora, envolvendo uma
senhora, Dona Dá, líder da comunidade local e organizadora ali de belo encontro
de bois nas Quartas-feiras de Cinzas. O episódio, resultante de ação de
malfeitores, se deveu a falta de policiamento no local. Essa reclamação, ouvi
de mais pessoas que sentem a necessidade de presença maior da polícia em
Olinda.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 24.1.2017
Inferno Dominical em Olinda
Clóvis Cavalcanti
Todo ano, é a mesma coisa em Olinda.
Passado o réveillon, a cidade vive o
clima de pré-carnaval. No entanto, não se trata de uma situação que os
moradores do Sítio Histórico – invadido nos domingos que antecedem o carnaval
por hordas de ignorantes do que seja a folia olindense genuína – delineiem do
jeito que gostariam. Na verdade, a impressão que se tem é de que tal multidão,
com as exceções de praxe, se constitui de algo como “rebanho sem pastor”, da
imagem bíblica. Morador da Cidade Alta, vejo isso como um processo que se
agrava a cada ano. Por exemplo, a barulheira impenitente, nos sábados e
domingos à noite, proveniente de um palco que privatiza espaço público, perto
do Fortim do Queijo – perto também da minha casa e do convento franciscano –,
está cada vez pior. No domingo 22/1, à 0h30, por motivos inexplicáveis, até
porque nada justificaria aquilo, houve uma estúpida explosão de fogos de
artifício que me despertaram e fizeram pensar na desgraça que os moradores de
Aleppo, na Síria, experimentaram em diversos momentos recentes. Durou, sei lá,
meia hora. Fiquei sem conseguir dormir; minha mulher, Vera, também. E o som que
os microfones berravam ali era a escória da música de pior qualidade do planeta
(Aleppo, pelo contrário, possui bela tradição musical árabe, como a Muwashshah, uma
forma de poesia andaluza cantada).
Que direito certas pessoas julgam
que possuem para, atrás de lucros fáceis, incomodar toda uma comunidade? Não
discordo de que cada um escute a música ou barulho que quiser. Nem me julgo na
condição de impor meu gosto pelo canto gregoriano, Mozart, Bach, Mahler, Luiz
Gonzaga, Tom Jobim, Capiba. Porém, aceitar que me forcem a ouvir esses sons de punk, funk, forró eletrônico, música baiana, etc. que agradam tanta gente
por aí, é aceitar uma agressão cultural que me tira a alegria de viver. O mais
condenável é que, além de invadir as casas das pessoas, impedindo-as de escutar
o que gostariam, a música tocada acima de qualquer nível civilizado de som,
maltrata pessoas doentes e idosas, agride crianças, ofende o direito ao
silêncio quando se quer, e se precisa, dormir.
A barulheira é um dos capítulos do
inferno de Olinda no período pré-carnavalesco, especialmente aos domingos. Além
dele, há pelo menos mais dois que tiram a paz da cidade, estendendo-se também
aos que a visitam: insegurança e atitudes desrespeitosas. Arrastões, assaltos,
agressões acontecem de modo aterrador. O noticiário de TV registra isso, com
pessoas correndo, gritando, desesperadas. Moradores se trancam em casa,
assustam-se, ficam impossibilitados de exercer seu direito à mobilidade. Ao
mesmo tempo, necessidades fisiológicas são feitas em locais abertos, de
movimento de pessoas. Vai-se andando numa rua. De repente, esbarra-se em homens
que urinam como se estivessem num mictório público. Uma atmosfera
constrangedora cerca quem imagina que vive em um mundo de respeito a normas de
convivência digna. Levar visitantes de outros países para uma circulada e
encontrar essa situação de ofensa aos brios civilizados do mundo moderno
incomoda muito. Em minhas andanças, pude testemunhar tal comportamento em
Luanda (Angola) e outras cidades africanas, em La Paz e algumas cidades da
América Latina; mas nunca testemunhei em Cambridge (Inglaterra), Roma, San
Francisco (EUA), Melbourne, Irkutski (Rússia) ou Lisboa. Certamente, a
realidade de Olinda que retrato é mais um dado para configurar o grau de atraso
em que nos encontramos. Como reverter isso? A desejada repressão policial nos
casos de violência óbvia não vai produzir efeitos de longo prazo. Mas ela é
necessária para assegurar respeito aos direitos dos cidadãos que cumprem seus
deveres.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 18.1.2017
Atraso persistente do Brasil
Clóvis Cavalcanti
O Brasil possui fachada impactante
de traços modernos, aparentando prosperidade. No entanto, a realidade por
detrás desse véu não pode enganar. Passei os anos da minha adolescência
estudando no Rio de Janeiro. Meu pai, em 1952, me internou no Colégio Nova
Friburgo – um educandário-modelo da Fundação Getúlio Vargas –, onde fiz do
admissão ao terceiro científico. Eu morava no interior de Pernambuco, na usina
Frei Caneca, onde nascera e da qual meu pai era contador. A passagem dali para
a capital federal representou um choque que me ensinou muitas coisas. Meu pai
descendia de donos de engenho, tinha estudado em Garanhuns, quando meu avô
ainda não fora golpeado duramente pela crise dos anos 1930. No fim de 1951, já
com seis filhos – sou o mais velho –, ele me consultou se eu concordava em
estudar no Rio. Gostei da idéia. Eu tinha 11 anos. Fui-me embora.
Em 1952, a proporção de analfabetos na
população brasileira (50,6% dos maiores de 15 anos) era muito maior do que hoje
(8,3%). Havia favelas no Rio, malandragem na Lapa. Mas se tinha impressão de
segurança, além de que a cidade era alegre, divertida. Nos meus 13-14 anos de
idade, andava em toda parte sem qualquer receio. Aproveitava para curtir tempos
dourados. Ia ao Maracanã de bonde sem perda de tempo. Nunca presenciei atos violentos
no estádio, fora dele ou em ocasiões comuns. Nunca encontrei alguém que
houvesse sido assaltado. A garotada não tomava drogas. Namorava numa boa, sob
severas restrições dos pais das meninas, talvez por isso frequentando bordéis –
que não eram tão sórdidos quanto se imagina. Na minha família, não havia plano
de saúde. Todavia, ninguém nunca ficou sem a melhor assistência médica
possível. Meu pai só ia aos melhores clínicos do Recife – como Altino Ventura,
para os olhos, ou Waldir Cavalcanti, para nariz, ouvido e garganta. Nada
parecido com as agruras de hoje para quem tem bons planos de saúde e luta para obter
serviços à altura do que espera.
Francamente, olhando o panorama
brasileiro atual, sinto que o contexto todo piorou. Na década de 50, para viajar
ao Rio, dispunha-se de navio, avião, rodovias (ruins, é certo) e trem (era uma
epopeia fazer a viagem por via férrea, mas existia essa possibilidade). Eu
mesmo, indo para o colégio, viajei duas vezes de vapor – no italiano Comte Grande (em 1955) e no brasileiro Pedro II (em 1956). Também fui de
ônibus, aí já em 1961, quando tinha voltado a residir em Pernambuco. Queria
viver essa aventura – aventura mesmo, numa viagem de 6 dias, a única vez que
usei ônibus entre o Recife e Rio. De trem, viajei em 1958 de São Paulo a
Corumbá, com um colega de colégio. Fizemos baldeação em Bauru. Viagem
formidável, de quase 3 dias. O segundo trem era lento. Mas existia o serviço.
Hoje, não mais: evidência de retrocesso. Nosso meio de transporte nos anos 1940
e 1950 entre a usina e o Recife era só o trem. O Brasil optou nos anos 50 por
um modelo com base no meio rodoviário, atendendo ao interesse das montadoras e
das petroleiras. Não consegue retomar o trem. Para mim, mais sinal de atraso. Já
a China, em 2006, começou a construir seu primeiro trem-bala. Alcançou hoje a
marca de uma rede maior do que a da Europa, com trens que andam a 300 km por
hora. Espera alcançar 11 mil km em 2020. E a Transnordestina – uma estrada de
ferro pré-moderna, de via única? Começou a ser construída em 2007. Não dispõe
agora sequer de 400 km. Que marca maior de atraso? Nesse ritmo, a ferrovia, que
deve ter 1.500 km quando concluída, levará 25 anos para isso. Ou seja, temos
que esperar o ano de 2042 chegar para inaugurá-la! Como estará então a
sociedade brasileira?
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 10.1.2017
Para enfrentar a desordem crescente de Olinda
Clóvis Cavalcanti
Sei que a aparência de caos em que corre
a vida do país não é exclusiva de Olinda, a minha cidade. Por toda parte, o
quadro se reproduz com enorme semelhança. Algo de maligno está acontecendo que
aumenta a insegurança, promove a violência (no trânsito, por exemplo, ninguém
respeita nada), torna as pessoas grosseiras, diminui o grau de educação no
trato, leva a maior sujeira e pichação em toda parte, oferece uma imagem de
decadência generalizada. Isso tudo é a antítese do progresso, a negação do
desenvolvimento que os governos afirmam constituir seu compromisso maior
(embora, na prática, mostrem que o que interessa mesmo é fazer crescer a
economia, o PIB).
Olinda poderia ser uma vitrine do
discurso da melhoria social e econômica que a população gostaria de ver
acontecer. Não é. Comparando a cidade com o que acontecia nela em 1982, quando
a Unesco lhe conferiu o (merecido) galardão de Patrimônio da Humanidade, não há
como evitar a conclusão de que a ela piorou muito. Moro numa rua de passagem
obrigatória dos turistas que visitam Olinda. São hoje mais comuns os assaltos
que nela acontecem, como o de uma argentina jovem na última segunda-feira. Bem
junto de minha casa, esta própria vítima de ladrões que entraram pelo telhado
no amanhecer do dia 2 de janeiro último (Vera e eu estávamos em Gravatá). Nas
redondezas, esse tipo de roubo é frequente, o que tem levado a fuga de
moradores. Basta dar um passeio pelo Sítio Histórico para ver a quantidade de
casas fechadas e que ostentam placas de “Vende-se”.
Se a solução para essa crise de
insegurança, grosseria, sujeira, destruição do patrimônio, etc. requer um
ataque de âmbito mais extenso, envolvendo políticas nacionais, por um lado, não
se pode ficar parado, por outro, esperando que as coisas aconteçam, vindo de
cima. É o caso de cobrar das novas autoridades municipais, ações que tornem o
lugar onde vivemos algo que realmente valha um mínimo a pena. Em Olinda,
instalou-se uma administração que parece ser menos desvairada do que a que
empalmou o governo municipal durante 16 anos, descendo ladeira abaixo em termos
de competência, sobretudo nos últimos dez anos.
A cidade pede ações urgentes que
promovam a sensação de pertencimento e de integração nas comunidades que se empobrecem
cada vez mais no anel de miséria que cerca o Sítio Histórico. Educação,
artesanato (Olinda sempre teve bons artesãos), cultura de modo geral, esportes,
atenção à criança, atendimento à saúde, combate às drogas, proteção ao cidadão
– essas são coisas de que a prefeitura pode assumir um mínimo para conferir
mais sentido e contentamento à vida olindense. Um lugar com os atrativos que
Olinda possui, oferece enorme potencial para a criação de empregos relacionados
ao turismo. Isso requer um ataque forte no plano da educação. Moro defronte a
um hotel – o 7 Colinas –, bem concebido e administrado, que mostra como coisas
sólidas cabem em Olinda, podendo servir para que a economia da cidade prospere.
Nesse sentido, proteger seu patrimônio histórico, preservar a cultura local,
garantir que a festa de carnaval olindense não vai abandonar as características
que a tornam inconfundível (urinar nas vias públicas não é componente dessa
tradição. É algo a coibir), são medidas que podem melhorar a qualidade de vida
dos que tanto apreciam e vêm ver o que a Marim dos Caetés sempre exibiu. Está
nas mãos de Lupércio Carlos do Nascimento, o novo prefeito, pôr em prática um
compromisso nessa esfera.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 23.12.2016
Com o Papa Francisco no Vaticano
Clóvis Cavalcanti
Presidente da Sociedade Internacional de Economia
Ecológica (ISEE); cloviscavalcanti.tao@gmail.com
Nunca imaginei
que iria ter a oportunidade de conversar com um papa da igreja católica romana
no Vaticano. Conversar, e não simplesmente ver Sua Santidade. Pois isso
aconteceu no dia 23 de novembro deste ano. Desde que li a encíclica papal Laudato Si’, logo que ela foi publicada
em maio de 2015, senti o desejo de colaborar com o Vaticano na difusão e
aplicação dos ensinamentos nela contidos. É que o texto do Papa Francisco
contém a essência da área científica a que tenho dedicado meus esforços desde
meados nos anos 1980 – a economia ecológica. O que é isso? Uma nova visão de
mundo, um novo paradigma que vê o sistema econômico como uma parte do grande
todo que é o ecossistema global. Trata-se, na verdade, de uma disciplina que
não se enquadra dentro da moldura da ciência econômica convencional: ela não é
um ramo daquilo que os economistas estudam, cujo modelo do sistema econômico
corresponde a o que a física classifica de sistema
isolado. Para os economistas ecológicos, ao contrário, o sistema econômico
constitui um sistema aberto (existem
ainda os sistemas fechados), com
entradas e saídas de matéria e energia, sob o regime da implacável Segunda Lei
da Termodinâmica, a da Entropia.
Na encíclica Laudato Si’, o raciocínio se desenvolve inteiramente no âmbito do
pensamento econômico-ecológico, cujas bases podem ser encontradas no livro
seminal de Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994), The Entropy Law and the Economic Process (de 1971). É esse
pensamento que deu origem à Sociedade Internacional de Economia Ecológica (ISEE, sigla em inglês), criada em 1987 e
para cuja presidência fui eleito em janeiro deste ano. Nessa minha condição,
desde que me lançaram candidato, propus que deveríamos nos aproximar do Sumo
Pontífice. Houve discussão sobre as implicações desse envolvimento, natural
numa organização científica que congrega pesquisadores de origens religiosas
diversas, além de ateus. Mas, no fim, por unanimidade, minha proposta foi
aprovada. E eu tratei de buscar o encontro com o Papa Francisco. Graças a
amigos argentinos, cheguei a seu secretário particular, o padre Fabián
Padocchio.
Assim, no dia 23 de novembro último, foi
marcada a audiência no Vaticano. Fui (nosso grupo podia ter até 5 pessoas) com
Vera, minha mulher, e o estrategista eco-social Stuart Scott, um judeu
americano com histórico de trabalho em Wall Street. Iria conosco também o
arcebispo Seraphim Kikotis, do Patriarcado de Alexandria da Igreja Ortodoxa
Oriental, filiado à ISEE e membro de um comitê que discute a mudança climática.
De última hora, ele ficou impossibilitado de viajar. No dia da audiência,
recebemos um convite (branco), que nos colocava no meio de uma platéia de 800
pessoas. Na entrada, ele foi trocado por um verde, o qual nos punha entre cerca
de 100 religiosos do evento. Já nesse grupo, alguém do protocolo nos disse que
nosso convite seria o amarelo, o das 25 pessoas que falariam com o Papa. Assim,
nos sentamos na primeira fila de cadeiras. Para ela Francisco se dirigiu ao fim
de orações e leituras do Evangelho em várias línguas. Meu número de assento era
o 9; o de Vera, o 8 (Stuart era o 12). Enquanto Vera beijava o anel do Santo
Padre, fui direto à conversa. Falamos o suficiente para um acerto de
perspectivas e início de cooperação. Francisco segurava a mão de Vera enquanto
ele e eu falávamos, o que impediu Vera de acionar logo seu celular para fotos e
filmagem. Mas tudo ficou registrado pelo Osservatore
Romano. Mais que isso, o Papa e eu iniciamos aquilo que eu buscava:
entendimento entre a ISEE e a Santa Sé. Para mim, mais tarde, parecia que eu
conseguira o impossível. Um sonho.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 2.11.2016
Que é isso, Prof. Lupércio?!
Clóvis Cavalcanti
Presidente da Sociedade Internacional de Economia
Ecológica (ISEE); cloviscavalcanti.tao@gmail.com
Não votei no segundo
turno da eleição municipal deste ano em Olinda. Viagem providencial a Bogotá me
poupou do sacrifício. É que a escolha estava muito difícil para qualquer um que
habita, como eu, o Sítio Histórico. Depois de 8 anos de um prefeito forasteiro
– Renildo Calheiros –, sem nenhuma identificação com a cidade, a candidatura de
Antônio Campos soava com a mesma melodia. Não cabia alusão a Miguel Arraes e
Eduardo Campos como referência para o candidato do PSB. Ele, simplesmente, não
tinha a mínima dose do carisma dos dois, não se integrava com a população, não
angariava simpatia e empolgação. O mistério é que haja querido ser candidato e
tivesse seu nome lançado na disputa do executivo municipal. Poeta, escritor –
herdeiro de um artista da palavra como seu pai, Maximiano Campos, de quem fui
amigo –, membro da Academia Pernambucana de Letras, intelectual, advogado
competente, nunca evidenciou, contudo, predicados para ser prefeito de Olinda.
Como Renildo, não morava na cidade. Nunca o vi caminhando pelas ruas da Cidade
Alta em dias que não fossem os da Fliporto – este último, aliás, um evento que,
logo que migrou de Porto de Galinhas para Olinda, causou destruição ambiental
na Praça do Carmo. Participar do carnaval olindense é algo que nunca se soube
dele (e, para ser prefeito, uma condição é que o candidato saia no Ceroula, no sábado
de Zé Pereira). Enfim, depois da experiência com Calheiros, estava todo mundo
detestando a idéia de mais um prefeito que não exibisse pulsação de sangue
olindense.
Nesse quesito, não se
pode criticar de saída a qualificação do prefeito eleito, conhecido apenas como
Professor Lupércio (até agora, ignoro seu nome completo), um morador e político
de raízes em Olinda. Diferente de Antônio Campos, contudo, que conheço de muito
tempo, do candidato do Solidariedade, vencedor da disputa, nunca tinha ouvido
falar – nem ninguém do meu vasto círculo de relações na cidade o tinha. Fiquei
sabendo a respeito dele a apenas 3 semanas da votação, graças a informações que
o prof. Jailson Silva, amável gerente do Hotel 7 Colinas, meu vizinho de rua, me
passou numa conversa em que o assunto eleição surgiu por iniciativa minha. Foi
aí que descobri o significado do título de professor, de Lupércio: ensina
matemática (e é também advogado). Depois, minha instrutora de Pilates, Fabianne
Coelho, contou que, uma vez, em solenidade de aula da saudade na FOCCA,
Lupércio tinha sido ovacionado quando o chamaram para fazer seu discurso. Tanto
que ele, modestamente, pediu que os aplausos ficassem para os estudantes, que
os mereciam, não para ele, professor. Fabianne não tinha candidato quando me
disse isso. Passei então a nutrir simpatia pelo nome dele, inclusive por um
trabalho que ele – que foi o vereador mais votado de Olinda em 2012 e é
deputado estadual – fazia na periferia e em Igarassu. Trabalho assistencial sem
caráter eleitoreiro, segundo me contaram.
Acontece que Lupércio
tem mostrado preconceito em relação a uma das coisas mais agradáveis e
tradicionais de Olinda – seu carnaval –, preconceito que parece ir mais longe
do que o tolerável. No dia 31 de outubro, de fato, entrevistado pela Rede Globo
acerca dessa festa que é marca da cidade, ele começou declarando: “Sou cristão
e minha fé é inegociável”. Depois fez ressalvas. Quer dizer que o carnaval
significa a antítese do cristianismo? Que é isso, Prof. Lupércio?! E, por
favor, pense direitinho se deve se aliar ao PCdoB, partido que não deixa
saudade em Olinda.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 18.10.2016
Quando a beleza se avilta
Clóvis Cavalcanti
Presidente da Sociedade Internacional de Economia Ecológica (ISEE); cloviscavalcanti.tao@gmail.com
Um dos marcos mais deploráveis da ocupação do solo urbano de Olinda – refletindo o que se observa, tristemente, em toda parte neste país – é o centro comercial (shopping, como se prefere dizer, na pobre macaqueação brasileira do idioma inglês) que se ergue em Casa Caiada onde havia um quartel do Exército. Sem nenhuma explicação sensata, interesses exclusivamente econômicos estão impondo ali uma obra da pior arquitetura que se possa conceber. O lugar, quando ocupado pelo quartel, tinha graça e leveza. Era um parque com cajueiros que botavam belos cajus. Suas construções possuíam linhas simpáticas. Enriqueciam a paisagem. Foi vendido. Um pedaço virou loja do Wal-Mart. Acabou-se com a vegetação e a areia do terreno, aparecendo em seu lugar asfalto e uma caixa de cimento sem nenhuma graça (mas, pelo menos, de altura que não agride a vista). O pedaço restante é onde se constrói o monstrengo do shopping. Que autoridade pública autorizou tamanha aberração, um edifício sem nenhum compromisso ecológico, totalmente contrário aos princípios da sustentabilidade? E com altura descomunal, protegido por paredes dessa porcaria moderna do porcelanato. Todas elas de cor negra. É de causar ânsia de vômito.
Fico pensando como seria se Olinda tivesse sido erguida sob tanta falta de compromisso com valores estéticos. A catedral da Sé, o Mercado da Ribeira, o convento de São Francisco, a igreja do Carmo, o mosteiro de São Bento, o prédio do Museu de Arte Sacra (antigo Palácio dos Bispos), a igreja de Santa Gertrudes (não o colégio respectivo, que essa é uma construção feia), tudo isso atrairia turistas, levaria Olinda a ser considerada Patrimônio Mundial pela Unesco? Faria com que nos encantássemos andando pelo Sítio Histórico? Levaria Carlos Pena Filho a exclamar que “Olinda é só para os olhos./ Não se apalpa./ É só desejo”? Na verdade, o que acontece na área do quartel da PM do Exército, que sempre foi um componente querido da população, é parte de um processo de infame degradação urbana generalizada. As fachadas de casas, os muros, os prédios estão todos submetido à tirania do princípio da cerâmica, com suas lajotas sem nenhum sentido da beleza que a paisagem urbana deve exibir. Cidades como Ouro Preto, Salvador (Pelourinho), São Luís do Maranhão (Praia Grande) como ficariam? Olhando a silhueta de Nazaré, em Portugal, de Porto Conte, na Sardenha, das vilas das ilhas gregas, da costa da Dalmácia (Croácia), a sensação é de como empobrecemos cada vez mais uma herança rica de belos lugares que nos foi legada – como em Olinda, e no Recife também.
Assusta saber que a destruição sistemática ao nosso redor – sem falar na verticalização residencial e na decadência da infraestrutura urbana – acontece sob a complacência de gestores públicos. No caso de Olinda, foram 16 anos de administração de um grupo político (o PCdoB) que tem a palavra Comunismo em sua denominação. Assusta que a perspectiva anticapitalista desse partido tenha se curvado completamente à lógica do capital. Melhor seria procurar colaboração com o capital, submetendo-o a regras de concessão cuidadosa de prerrogativas. Os interesses da população não podem ser tratados como se a qualidade de vida não faça sentido. E para que esta seja levada em conta, beleza, estética, charme do lugar em que se vive são cruciais
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 16.9.2016
Mito do Crescimento Econômico
Clóvis Cavalcanti
Presidente da Sociedade Internacional de Economia
Ecológica (ISEE); cloviscavalcanti.tao@gmail.com
David Korten, editor de yes!, revista americana, em artigo de
2014, trata do que chama de “estória dos Santos Dinheiro e Mercado”. Seria algo
assim. “Tempo é dinheiro. Dinheiro é riqueza. Ganhar dinheiro gera riqueza e é o
propósito que define o indivíduo, as empresas e a economia. Aqueles que ganham
dinheiro são os criadores de riqueza da sociedade. O consumo material é o
caminho para a felicidade. Nós, seres humanos, por índole, somos individualistas
e competitivos. A mão invisível do mercado livre dirige nossa motivação
competitiva insaciável para servir a fins que maximizam a riqueza de todos.
Desigualdades sociais e estragos ambientais, coisas lamentáveis, são danos colaterais
necessários no caminho da prosperidade para todos. Se nos mantivermos fiéis ao
curso das coisas, o crescimento econômico findará por criar riqueza suficiente
para acabar com a pobreza e impulsionar os avanços tecnológicos necessários
para extinguir a dependência humana da natureza.” Essa percepção, que se embute
em tudo o que é feito na sociedade moderna, permite que se admita como
progresso um processo da economia que conta a destruição da vida para promover
lucro monetário como progresso. Tal concepção cria uma realidade em que a
idolatria do dinheiro e dos mercados se repete continuamente – na mídia dominadada
pelas corporações, no discurso da maioria dos economistas, nos programas de governo
dos partidos dominantes à esquerda e à direita.
Sobre isso, meu amigo paulista
Hugo Penteado, até janeiro último economista-chefe do Banco Santander no
Brasil, indaga: “O
modelo empresarial mudou? Resposta: não. A visão do economista mudou?
Resposta: não. As pessoas percebem que a estrada desse sistema vai
desembocar num precipício? Resposta: não. As pessoas estão
decisivamente preocupadas em mudar e ver o mundo mudar? Resposta: não. E [pior
de tudo]: aqueles que realmente se importam possuem uma visão que realmente
significa uma mudança? Resposta: a maioria não, porque seus principais
clientes são justamente aqueles que não querem mudar nada, porque são os
maiores beneficiários dessa situação toda e se consideram inatingíveis por
qualquer problema criado por eles mesmos.”
Celso Furtado publicou um livro em 1974
cujo título, O Mito do Desenvolvimento Econômico,
exprime bem seu raciocínio: o crescimento constitui um mito, um fetiche, uma
crença. É quimera a ser enfrentada. Escrevendo sobre o pensamento de Furtado,
em 2002, usei a reflexão do pesquisador suíço Gilbert Rist, que esclarece: “o
mito é compartilhado por todos, não é nunca desafiado, e é um plano de ação pronto,
disponível em quaisquer circunstâncias; por implicação, o mito é também
histórico, resultado de uma criação coletiva a que a sociedade, não
conscientemente, dá forma ... O mito é um mapa para a ação que dispensa
reflexões. É suficiente que ele seja uma crença compartilhada. Nós agimos como
agimos porque não conseguimos imaginar-nos atuando de outra forma. A primeira
causa não tem causa.” Diante de uma situação maligna como essa – de adoração ao
dinheiro e mercados, de destruição sistemática da vida, de situações de penúria
e exclusão social –, penso que ainda há esperança. Ela se manifesta claramente
nos ensinamentos do Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si’, de 2015 (leiam-na!). E é demonstrada pela experiência
de mais de 40 anos da filosofia da felicidade do Butão, país da Ásia, que
observei in loco em 2013.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 31.8.2016
Agravamento da crise ambiental
Clóvis Cavalcanti
Presidente da Sociedade
Internacional de Economia Ecológica (ISEE); cloviscavalcanti.tao@gmail.com
Como pesquisador da
interface entre natureza e sociedade e proprietário rural, praticante da
agricultura orgânica há 40 anos, sou obrigado a conviver com detalhes – cada
vez mais assustadores – da crise ambiental contemporânea. Quem mora em cidade,
habitando apartamento nas alturas dos grandes edifícios, não consegue enxergar
com agudeza os problemas de que o planeta está sofrendo, com repercussões
dolorosas sobre as pessoas que têm sua sobrevivência ligada ao que a natureza
lhes propicia. Por exemplo, a questão da água. Desde que ela esteja disponível
nas torneiras com mínima regularidade, ninguém reclama. O que não é o caso,
aliás, da população da cidade de Gravatá, por exemplo, cujo abastecimento
hídrico constitui motivo de grande sofrimento. Na minha propriedade, em brejo
de altitude, a abundância de água é inquestionável. No entanto, depois de
quatro décadas, percebo hoje como os mananciais (tenho várias nascentes nas
minhas terras) estão perdendo potência. Água não falta, graças a Deus – e da
melhor qualidade. Porém, sua oferta tem decrescido. No mês de agosto de agora,
foram raras as chuvas. Chuva boa, nem pensar. Enquanto isso, o sol torra a
cabeça das pessoas, e o solo, as plantas, os bichos. Ao mesmo tempo, ocorrem
dilúvios em alguns lugares, como em Baton Rouge, nos EUA, onde, em 39 horas,
desabou uma torrente que nunca tinha sido vista lá, conforme relato da Scientific American, importante
publicação de divulgação científica americana.
Recentemente, na 5ª Mostra Ecofalante
de Cinema Ambiental, foi exibido em São Paulo o filme Para onde foram as
andorinhas, produzido pelo Instituto Sócio-Ambiental (ISA) e o Instituto
Catitu. O filme mostra como os povos que habitam o Parque Indígena do Xingu, em
Mato Grosso, estão percebendo e sentindo em seu dia-a-dia os impactos das
mudanças do clima na região. Seja em sua base alimentar, em seus sistemas de orientação
no tempo, em sua cultura material e em seus rituais, os índios revelam-se
extremamente preocupados – coisa que a película trata com enorme beleza e
sensibilidade. Além da perda visível de serviços e bens com que sempre contaram
em seus ecossistemas, os indígenas têm medo do mundo que vão legar para os
filhos. São 16 povos diferentes – 6.500 pessoas –, que, com seu tradicional
sistema de manejo do território, garantem a preservação das florestas. No
entorno do Parque do Xingu, porém, a realidade é outra. Uma fração de 86% das
matas foi convertida em soja, milho e pasto nos últimos 30 anos: devastação
ambiental com consequências no clima, nos animais, na agricultura, no bem-estar
humano dos povos locais. As cigarras não cantam mais anunciando que a chuva
está por vir. Também desapareceram as andorinhas que voavam em bandos para
anunciar o início das chuvas. As borboletas, que visitavam as aldeias avisando
que o rio ia começar a secar, sumiram. O aumento do calor, a falta de chuvas, o
desmatamento no entorno do Parque, a construção de barragens são apontados como
causas das mudanças. O fogo, antes restrito à roça, hoje, se alastra com muita
facilidade, atingindo grandes áreas do Parque, exigindo que os índios se
mobilizem e adotem novas técnicas e equipamentos para controlar o fogo. O calor
intenso também está matando as frutas e alimentos que fazem parte da culinária
dos índios, caso de algumas espécies de mandioca e batata. Até os pés de pequi,
fonte de alimento e fundamental no ritual da furação de orelhas dos Waurá,
estão sendo atacados por pragas antes desconhecidas. Isso é só um cisco na montanha
de problemas socioambientais que vão nos afligindo, e que se agravam cada vez
mais. Quem está consciente da tragédia?
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 18.8.2016
Giuseppe Baccaro, um humanista
passional
Clóvis Cavalcanti
Presidente da Sociedade
Internacional de Economia Ecológica (ISEE), cloviscavalcanti.tao@gmail.com
Convivi com Giuseppe Baccaro desde 1972.
Conheci-o por intermédio do monge beneditino, meu compadre Irineu Marinho
Falcão, que me cedia, com a anuência do abade, D. Basílio Penido, meu amigo
também, a casa do mosteiro de Olinda em Pau Amarelo para fins de semana. Num
domingo, de pick-up, chegou Baccaro. Com
sua mulher, Fiorella (grávida de Matheus), e um grupo de crianças do bairro
popular de Olinda onde os dois faziam trabalhos com a comunidade. Acamparam no
terreno da simples e ampla casa. Batemos papo enquanto a meninada se divertia
na praia e no maceió do terreno, e Baccaro preparava churrasco. Nessa época,
ele ainda comia carne, hábito de que abdicou ao se tornar vegetariano e
dedicar-se à preparação de deliciosas e incomparáveis macarronadas. Nossos
laços se estreitaram depois que liderei, em 1975, um movimento contra o projeto
do porto de Suape. Baccaro me deu todo apoio, o que fazia sempre em tom de
pouca diplomacia com relação aos destruidores da natureza. Essa, de fato, era
uma característica sua: não se dobrar diante do que considerava crime contra os
valores da vida. Explica-se, daí, a ojeriza que muita gente criou ao humanista
passional da região de Abruzzo, na Itália, que ele era. Quando falo humanista
é, na verdade, para ressaltar a importância que Baccaro concedia ao ser humano,
sem considerar, porém, que ele seja o ápice da criação como imaginam os
antropocentristas.
Como consequência de novo round da briga contra Suape, em 1979, surge a Aspan (Associação
Pernambucana de Proteção da Natureza), de cuja criação participamos. Baccaro,
desejando que eu fosse seu presidente (eu não estava convencido disso), apresentou
minha candidatura em época posterior. Perdi para Ricardo Braga, meu amigo e um
ambientalista consciente. Foi por aí que ele comprou uma casa na vila de
Nazaré, no cabo de Santo Agostinho, aonde eu ia com frequência para conversas e
o macarrão ao molho de tomate. Tomávamos vinho e, às vezes, cachaça. Em muitas
ocasiões, com o grande Gilvan Samico, em Olinda, os encontros eram com uma
cachacinha. Na década de 1980, passei a fazer parte do Conselho de Curadores da
Fundação Casa das Crianças de Olinda, instituída com recursos de Baccaro,
originados em sua atividade de grande marchand.
Cheguei a presidir a organização, que realizava belo trabalho com a comunidade
da área do Monte, em Olinda, onde se situa o terreno de 4 ha da Fundação. Nessa
condição, recebi a visita, durante uma manhã, do arcebispo de Canterbury, chefe
espiritual da Igreja Anglicana, cujo bispo no Recife, meu primo Robinson
Cavalcanti, discutia uma possível gestão da Fundação pela igreja. Baccaro não era
gestor e não queria perder o controle da Casa das Crianças, uma obra
verdadeiramente sua. Não vingou a relação com os anglicanos. A prefeitura de
Olinda nunca dedicou a ela o cuidado que buscamos junto a prefeitos como
Germano Coelho e Jacilda Urquiza. Aliás, dono da segunda melhor biblioteca
privada do Brasil, Baccaro doou-a certa vez à prefeitura, que não teve
condições financeiras de assumi-la. Ela continuou nas mãos de meu amigo, com
seus tesouros, de que eu, aliás, me servi para pesquisas. Numa dessas,
estudando a destruição da Mata Atlântica, descobri coisas fabulosas no acervo
de Baccaro, como o livro do missionário calvinista Jean de Léry, Viagem à Terra do Brasil, de 1578. É
assim que posso classificar Baccaro de humanista. Mas ele não visava nada para
si. Tinha total desapego do rico patrimônio que construiu (inclusive 99 quadros
de Anita Malfati, adquiridos quando ela estava morrendo, em 1964). E se
orientava basicamente pela defesa dos valores ecológicos – valores da vida.
Sempre de forma intransigente. Nisso, nós nos entendíamos.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 4.8.2016
Garanhuns e qualidade de vida
Clóvis Cavalcanti
Presidente da Sociedade
Internacional de Economia Ecológica (ISEE)
Desde minha infância, Garanhuns sempre exerceu
fascínio em minha vida. Nasci no município de Maraial, a 80 km de lá, onde minha
bisavó Maria Luísa Cavalcanti era senhora do engenho Taquarinha. Meu avô João
Florêncio Cavalcanti, que também possuía terras e era comerciante, mudou-se
para Alagoas, onde comprou engenho não longe de Garanhuns. Meu pai, seu primogênito,
foi cursar o secundário em Garanhuns. Morava em casa adquirida por meu avô
perto do Colégio Santa Sofia. Garanhuns dispunha de bons educandários e outros
bons serviços. Tinha um jornal, O Monitor,
no qual meu pai fez trabalhos de jornalista. Com a falência de meu avô durante
a depressão dos anos 1930, meu pai conseguiu o emprego de contador na Usina
Frei Caneca, município de Maraial. Aí nasceram seus primeiros oito filhos (sou
o mais velho). Os três últimos, na Maternidade do Derby, Recife. O fascínio de
Garanhuns era porque as coisas boas de que precisávamos – cenoura e couve-flor,
por exemplo, além de bens industrializados – vinham de lá. A viagem de trem, o
meio de transporte par excellence da
época, de Frei Caneca a Garanhuns, constituía experiência simpática. Minha irmã
mais velha foi interna no Colégio Santa Sofia. Em suma, como o Recife ficava no
dobro da distância de Garanhuns, era desta de que dependíamos mais.
Lá, fiz turismo adolescente com um colega de
internato em Nova Friburgo, o carioca Sérgio Trindade, grande amigo até hoje,
que veio me visitar nas férias de 1958. Lá, passei dias, algumas vezes, com a
família toda, no Sanatório Tavares Correia, maravilha de hotel cujo charme de
outrora, infelizmente, não se vê mais. Eu não visitava a cidade há muitos anos,
até participar do VII Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), em 1997. Daí por
diante, casado com Vera, de família local, as visitas se tornaram frequentes,
permitindo-me concluir que Garanhuns é a melhor cidade de Pernambuco e uma das
melhores do Brasil. Melhor, claro, em termos de qualidade de vida. Impressionam
as condições eficientes dos serviços disponíveis na cidade, de mecânico de
automóvel a plantões em hospitais do bom polo médico dali; de lojas
diversificadas, como a Ferreira Costa, a estabelecimentos mais simples.
Garanhuns possui excelente papelaria. Tem laboratórios fotográficos de boa
qualidade, o que inclui técnico de máquinas fotográficas de apreciável
competência. As ruas são bonitas, arborizadas. Na av. Rui Barbosa, eixo de
acesso ao centro para quem vem de Caruaru, os cuidados urbanísticos fazem
inveja ao Recife e Olinda. As calçadas de Garanhuns oferecem gritante contraste
para os vergonhosos passeios públicos da destruída Marim dos Caetés. E a
condição de seus imóveis, igualmente, humilha quem se lembra da feiura do
Recife na Conde da Boa Vista, no bairro de São José e outras áreas.
Infelizmente, porém, Garanhuns se vê ameaçada
pela construção de espigões descomunais (como os que proliferam em Caruaru),
totalmente desnecessários, e que enfeiam terrivelmente sua paisagem harmoniosa.
A cidade sofre ainda com a desfiguração de belos legados arquitetônicos, a
exemplo do prédio do antigo cinema Jardim, modificado impiedosamente por uma
cadeia de supermercados. É preciso impedir que essa destruição prossiga. E que
se promova cada vez mais o extraordinário FIG, uma criação inspirada do
prefeito e meu contraparente Ivo Amaral.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 18.7.2016
Crescer para quê?
Clóvis Cavalcanti
Presidente da Sociedade
Internacional de Economia Ecológica (ISEE)
Conheci Washington, a capital dos
EUA, em setembro de 1964. Em junho de 1965, voltei lá para trabalho de três meses
no Comitê dos Nove, espécie de conselho, dentro da União Panamericana, que
supervisionava a aplicação do programa Aliança para o Progresso, do governo
americano. Foi um período muito agradável. A cidade era vibrante, tinha boa
qualidade de vida, comia-se bem. Desgraçadamente, a má distribuição de renda,
junto com o racismo, deixava a população de cor negra confinada em certas
áreas, que eram consideradas perigosas. Ignorando alertas, eu costumava andar
em algumas delas, até porque ficavam contíguas ao centro e as pessoas eram simpáticas.
Não me assustava, apesar do desconforto de verificar uma realidade que negava
as promessas do chamado Sonho Americano. Depois do São João deste ano, passei
uma semana em Washington. Tirei uma tarde para visitar lugares da cidade que me
eram familiares. Fiquei chocado com a perda de qualidade de vida que observei,
relativamente a 1964-1965. Locais de comer bem, onde eu almoçava, não existem
mais. Só restaurantes caros, mas nesses só se vai para jantar (estive em um,
convidado pelo diretor brasileiro do Banco Mundial, Otaviano Canuto, e sua
mulher, Gadu). As pessoas se servem em food
trucks, alimentando-se da porcaria que é a fast food (também chamada de junk
food, ou seja, comida-lixo). Gente engravatada, das instituições que por
ali se multiplicam, são clientes dos caminhões. Numa palestra que fiz no Banco
Mundial, dia 30 de junho, programada para a hora do almoço, havia sanduíches e
outras comidas empacotadas para se ingerir durante a sessão. Percorrendo depois
áreas pobres do centro de Washington, fiquei ainda mais chocado com o quadro de
miséria que pude testemunhar. Gente maltrapilha fazendo da rua moradia ou
pedindo esmola aparecia em quantidade que me assustou. Prédios de residência
com aspecto de ruína eram comuns. Fiquei pensando como é que 50 anos de
crescimento econômico não tinham acabado com aquilo. Que lição tal realidade
nos oferece?
Acredito que uma primeira e
importante lição é a de que o crescimento econômico constitui uma falácia em
termos da eliminação da miséria e da exclusão. Como será o quadro real, de
fato, daqui a mais cinco décadas – nos EUA, no Brasil? Terá havido grande
melhora? Só muita ingenuidade para crer nisso. O retrato da economia no mundo
hoje mostra um setor financeiro governado pelo incentivo geral de expansão da
atividade econômica. Como o endividamento é grande, a economia precisa crescer
para gerar os fluxos de renda que impeçam a inadimplência. Reside aí a fonte do
lucro do capital parasitário que comanda o mundo. Os líderes das nações terminam
se tornando agentes da expansão econômica dentro de um paradigma que, por outro
lado, nega a existência de limites tanto para a extração de recursos quanto
para o lançamento de dejetos no mundo natural, atividades que acompanham
inexoravelmente o processo econômico. Assim, finda-se com o discurso circular
ou mantra de que é preciso voltar a crescer. No entanto, crescer para quê? Mais
uma vez, acredito que as idéias do Papa Francisco na encíclica Laudato Si’ deveriam servir para a
necessária reflexão que é preciso fazer com toda seriedade e responsabilidade
nesse contexto.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 6.7.2016
Brasil: 70 anos de atraso
Clóvis Cavalcanti
Presidente da Sociedade
Internacional de Economia Ecológica (ISEE)
Conversando com o
professor Martin Rees, de Cambridge (Inglaterra), também astrônomo real do
Reino Unido, lá, há três semanas, surgiu por alguma razão o assunto dos outdoors na beira de rodovias. Aliás,
embora se empregue no Brasil o termo inglês outdoor
para painéis grandes de propaganda, nem sequer essa palavra é um substantivo no
idioma de Lord Keynes. Constitui adjetivo ou advérbio. O termo certo em inglês
para outdoor é billboard. Feita essa observação, que serve para mostrar mais um traço
de falsa cultura dos que permeiam a vida nacional, ao dizer a Rees que achava
lamentável como no Brasil se deixa que a paisagem seja roubada pelos inglórios outdoors, ele me informou que isso não
se permite nas estradas britânicas desde 1947. Ora, são quase sete décadas de
progresso em cima de nós brasileiros!
Não sou dos que,
hipnotizados pela sinalização enganosa do PIB, fazem cálculos e comparações à
base desse indicador quantitativo, estreito e muito imperfeito. Celso Furtado,
a propósito, no seu livro O Mito do
Desenvolvimento (de 1974), classifica o PIB como “a vaca sagrada dos
economistas” – vaca que, certamente, é também, dos políticos, dos meios de
comunicação e dos economistas, como se diz em inglês, “hard-nosed”. Daí que, sendo economista ecológico, procuro me guiar
não pelo PIB, e sim por indicadores capazes de captar mais nuanças da vida de
um povo do que ele. No Reino do Butão, país do Himalaia do tamanho da Suíça
(visitei-o com Vera em 2013), trabalha-se com o índice da Felicidade Nacional
Bruta (FNB) em lugar do PIB. Lá não se promove o consumo como meta de
progresso. O bem-estar humano e de todas as formas de vida vem antes. Nesse
marco, simplesmente não existe outdoor
(vá lá essa palavra imprópria) de qualquer espécie no país, nem mesmo de
propaganda do governo. Em Cuba, não existia outdoor
comercial algum – apenas cartazes patrióticos – quando lá estive a última vez
(2003). Em 1990, na Suécia, chamou minha atenção como nas estradas inexistia
esse símbolo do atraso. Enquanto isso, a publicidade emporcalha a vista de
quem, por exemplo, sobe a Serra das Russas, passando por lugares que antes não
possuíam essa ameaça à própria segurança dos motoristas.
Ao me referir a outoors (palavra infame), faço-o
pensando no simbolismo que indicadores qualitativos do bem-estar possuem.
Desfrutar de uma vista bonita, como a da janela de minha casa em Olinda, é um
direito humano que gostaria de compartilhar com todas as pessoas. Certamente,
me incomoda quando vou a uma janela e vejo paredes de edifícios, antenas de
telecomunicação, telhados medíocres – e edifícios de arquitetura vulgar como a
das gigantescas torres do Cais de Santa Rita e a das que querem impor com o
Projeto Novo Recife (cria das Torres Gêmeas, permitidas pela Prefeitura da
capital pernambucana). Na verdade, letreiros feios, monumentais, existem por
toda parte no país (em São Paulo, foram eliminados e submetidos a disciplina
quando José Serra era prefeito da cidade). Nos países civilizados, conseguiu-se
bani-los (com educação de boa qualidade na retaguarda do que se faz). Isso é
progresso genuíno. Algo a ser seguido no Brasil.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 21.6.2016
Boa escolha para a Fundação Joaquim Nabuco
Clóvis Cavalcanti
Presidente da Sociedade Internacional de Economia
Ecológica (ISEE)
Fator que muito contribuiu para que
a Fundação Joaquim Nabuco (FJN) seguisse caminho vitorioso desde sua criação em
1949 foi sua continuidade administrativa. Não houve mudanças em sua direção,
até 2003, com efeito, que pudessem fazê-la alterar sua rota, compromissos, missão.
E isso não foi só porque Fernando de Mello Freyre tivesse permanecido à frente
dela de 1971 a 2003, haja vista que, de 1949 a 1971, sob três outros diretores,
a instituição, que se chamava Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais
(IJNPS) até 1980, só fez se firmar e adquirir respeito. Essa feição foi
fortalecida sob Fernando Freyre, que soube atravessar com muita habilidade,
gestor consumado que era, momentos de extrema penúria financeira, e até de
ameaça de extinção do órgão.
Em 2003, com o governo do presidente
Lula da Silva, seu ministro da Educação, meu amigo e ex-aluno Cristovam
Buarque, que muito admiro, cometeu um erro indesculpável. Nomeou presidente da
FJN um político de peso, Fernando Lyra, que não tinha, contudo, nenhuma relação
com o trabalho da instituição. Antes de sua posse, Lyra me chamou para uma
conversa. Disse-me que não queria ser presidente da Fundação, que “não era sua
praia”, que nem gostava de ler! Isso mesmo ele repetiu no dia 18.2.03, seguinte
a sua investidura, em reunião que eu ainda, de saída de meu cargo de chefia do
Instituto de Pesquisas Sociais (Inpso) da FJN, presidi. Fez o depoimento
perante o corpo de pesquisadores do Inpso. Realmente, chocou. A mudança por ele
trazida levou a instituição criada por Gilberto Freyre para rumos que não
serviram para reforçar o prestígio que conquistara, por mérito de sua produção
científica, nas décadas anteriores.
Depois de 8 anos de declínio sob Lyra, a
FJN passou para as mãos de Fernando José Freire, um doutor de bagagem sólida,
porém sem a perspectiva da pesquisa social. O Freire 2, de fato, construiu sua
reputação na área de pesquisa sobre solos na Rural de Pernambuco. Não era de esperar
que o forte da Fundação, a pesquisa social, se fortalecesse. Ainda mais porque
o Ministério da Educação, instância superior de comando da FJN, resolveu ditar
regras e acabar com a autonomia que esta sempre possuíra. Veio o segundo
governo de Dilma Rousseff. Indicou-se novo presidente em 2015, um político
honrado, Paulo Rubem Santiago, porém, outra vez, sem qualquer histórico de
relacionamento com a Fundação Joaquim Nabuco.
Assim, parece alvissareiro que essa
organização, de histórico tão apreciável, e que nunca foi um ônus financeiro
para o governo federal, esteja agora entregue ao presidente recém-empossado
Luiz Otávio de Melo Cavalcanti (de quem não sou parente próximo). Luiz Otávio
era secretário de Planejamento de Pernambuco em 1975, quando liderei movimento
contra o complexo industrial-portuário de Suape. O governador, Moura
Cavalcanti, ficou brabo. Eu nunca imaginei que causaria tanta fúria. Pois bem,
Luiz Otávio entendeu o recado do movimento contra Suape – baseado em razões
socioambientais. Criou um grupo para ver como poderiam ser mitigados danos do
projeto. Incumbiu o saudoso arquiteto Armando de Holanda Cavalcanti de fazer
propostas. Daí surgiu o Parque do Cabo de Santo Agostinho. Não era o que eu
pensava, mas a prova de sensibilidade de um homem culto e preocupado com nossa
realidade. Por essa e muitas outras razões, julgo digna de aplausos a elevação
de Luiz Otávio, pelo ministro Mendonça Filho, a presidente da Fundação Joaquim
Nabuco.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 4.6.2016
A encíclica Laudato
Si’ completa um ano
Clóvis
Cavalcanti
Presidente-Eleito da Sociedade Internacional de
Economia Ecológica (ISEE)
O lançamento da carta encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco, “sobre o cuidado da casa comum”,
fez um ano no último dia 24 de maio. Para mim, esse é um documento profundo, de
grande significado. Um chamamento à responsabilidade humana perante um planeta
conspurcado pela prevalência do interesse econômico e, sobretudo, do dinheiro,
com relação aos valores humanos, sociais e ecológicos que deveriam ter
primazia. Infelizmente, muito pouco lido – menos ainda com a atenção aguçada de
que é merecedor. No documento, diz o Papa, referindo-se à Terra, “nossa casa
comum”: “Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores,
autorizados a saqueá-la”. Acrescenta: “Esquecemo-nos de que nós mesmos somos Terra”.
Em virtude disso, chegou-se à situação de possibilidade de uma “catástrofe
ecológica sob o efeito da explosão da civilização industrial”, o que implica a “necessidade
urgente de uma mudança radical no comportamento da humanidade”. Para fazer
isso, no ver do Sumo Pontífice, “Toda a pretensão de cuidar e melhorar o mundo
requer mudanças profundas nos estilos de vida, nos modelos de produção e de
consumo, nas estruturas consolidadas de poder, que hoje regem as sociedades”.
Considerando, corretamente, que o “clima é um bem comum, um bem
de todos e para todos”, a encíclica refere-se a sua natureza de sistema
complexo, que tem a ver com muitas condições essenciais para a vida humana. Observa
que há consenso científico, muito consistente, indicando que estamos perante um
preocupante aquecimento da atmosfera. “Nas últimas décadas, este aquecimento
foi acompanhado por uma elevação constante do nível do mar, sendo difícil não o
relacionar ainda com o aumento de acontecimentos meteorológicos extremos,
embora não se possa atribuir uma causa cientificamente determinada a cada fenômeno
particular”. Pode-se relacionar tal reflexão à forma como hoje as chuvas e a
seca no Nordeste se manifestam de forma inusitada, com dimensões desconhecidas.
É inegável o aquecimento global, associado a estilos de vida que produzem alta
concentração de gases do efeito estufa (gás carbônico, metano, óxido de enxofre,
e outros) emitidos sobretudo por causa da atividade humana. Isto é
particularmente agravado, conforme salienta a Laudato Si’, pelo modelo de desenvolvimento baseado no uso
intensivo de combustíveis fósseis, que está no centro do sistema energético
mundial, juntamente com a prática crescente de mudar a utilização do solo com o
desmatamento para fins agrícolas.
Convém mencionar que a encíclica resultou de oficina promovida
em maio de 2014, em Roma, pelas Pontifícias Academias de Ciências e das
Ciências Sociais, reunindo grandes nomes da ciência mundial, sob a coordenação
dos professores Partha Dasgupta (de economia de Cambridge) e Veerabhadran Ramanathan (de ciência do clima da
Universidade da Califórnia em San Diego), ambos não-cristãos. Quis o Papa, além
de sua motivação profética, basear-se no melhor conhecimento sobre a matéria.
Daí, a força da Laudato Si’, que
contém fundamentada crítica do paradigma e das formas de
poder que derivam da tecnologia, levando a uma, como salienta, “confiança
irracional no progresso”. Essa é exatamente a posição de grande parte dos
integrantes da Sociedade Internacional de Economia Ecológica (ISEE), para a
qual fui eleito presidente em janeiro. Nesse sentido, penso mobilizar o
potencial que tem a ISEE para auxiliar o Papa Francisco nos seu esforço de se procurar
outras maneiras de entender a economia e a prosperidade, na busca de outro tipo
de progresso, mais ecologicamente são, mais humano, mais social, mais integral.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 26.5.2016
Os encantos ameaçados de Olinda
Presidente-Eleito da Sociedade Internacional de
Economia Ecológica (ISEE)
É conhecido o belo poema de Carlos
Pena Filho (1929-1960), um olindense, que contém a estrofe: “Olinda é só para
os olhos, / não se apalpa, é só desejo. / Ninguém diz: é lá que eu moro. / Diz
somente: é lá que eu vejo”. A bela feição da cidade em que resido se expressava
com toda desenvoltura na manhã de céu azul intenso do último domingo. De nossa
casa, ao lado do convento franciscano, minha mulher Vera e eu fomos à missa das
7h30 na igreja de Santa Gertrudes – em si própria, de magnífica e sóbria beleza.
A cerimônia, conduzida com elegância e charme por cuidadosas freiras
beneditinas, de hábitos limpamente alvos, e presidida por Irmão José (como ele
gosta de ser chamado), monge da Ordem de São Bento, veio acrescentar mais
encanto ao cenário que íamos encontrando. Voltando da missa, nossos olhos pareciam
confirmar o sentido da metáfora de Carlos Pena.
No entanto, prestando atenção em
detalhes, íamos percebendo como é forte o contraste entre o que Olinda oferece
de beleza e a destruição causada pelos que a ocupam nos tempos atuais. No Alto
da Sé, defronte de prédios com admirável arquitetura (excluo deles o monstrengo
moderno da caixa d’água), espalha-se no vazio da praça um como quê acampamento
que parece de refugiados de alguma catástrofe. São bancos de vendedores de
comida. Aí, nossa feição de atraso, de sociedade que ainda não decolou firmemente
de sua situação de miséria nas camadas sociais marginalizadas, se projeta com
toda pujança. Esse é o país que somos de fato. Incapaz de se livrar de
desequilíbrios sociais que se agravam. E incapaz de avanços no plano da
formação de cidadãos – a começar dos que ocupam posições de mando – que cumpram
as leis como se deve. Construções irregulares aparecem em todo lado. São novos
pavimentos acrescentados a casas antigas. São fachadas refeitas sob o manto da
pior arquitetura (uma, dir-se-ia, “não-arquitetura”) que existe. São
revestimentos de lamentável breguice colocados em muros e paredes. Quando se
olha um conjunto de casas das que permitiram que Olinda virasse Patrimônio
Cultural da Humanidade, comparando-as com as novas concepções, chega-se ao
espanto. Como é possível tanta mediocridade?!
E isso não é atributo somente da
iniciativa privada. O desastre artístico do adro do convento franciscano, a
deformação que ali se plantou há 10 anos, por exemplo, representa contribuição
dos poderes públicos. Ensaia-se atualmente uma recuperação do local, que era
muito gracioso até o começo das desastradas administrações municipais do PCdoB
(a primeira delas, em 2001-2005, na verdade, foi alvissareira). O temor é de
que a emenda saia pior do que o soneto. Nesse particular, o que a prefeitura
fez de bom nos últimos 15 anos – como embutir fios em meia dúzia de logradouros
– perde de modo enfático para o que trouxe de ruim. Os postes das av.
Sigismundo Gonçalves são exemplo disso. Postes de estradas periféricas de
cidade feia. A situação de abandono de monumentos, como as igrejas do Bonfim e
de São Pedro Mártir, são outro exemplo. E a situação de áreas coladas ao sítio
histórico, como os bairros de Amaro Branco e Guadalupe; as calçadas
arrebentadas em toda parte; o calçamento irregular – tudo isso mostra como
parece que existe um esforço para negar o conteúdo do poema de Carlos Pena
Filho. Poema que é um hino de exaltação aos encantos ameaçados de Olinda.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 11.5.2016
Perigo do pensamento único do crescimento econômico
Clóvis
Cavalcanti
Presidente da Sociedade Internacional de Economia
Ecológica (ISEE)
É ampla a crença de que o Brasil vá
melhorar com mudança de presidente. Só que isso é imaginado mais com respeito à
economia do que a qualquer outra coisa. E, mais ainda, na expectativa de uma
sempre referida “retomada do crescimento”. Tudo se dá porque, no mundo de hoje,
quase todas as tendências políticas (as exceções estão ligadas a perspectivas
socioambientais) acreditam firmemente que a única via de bem-estar de um país é
com a expansão da atividade econômica: aumento do produto interno bruto (PIB)
contínuo e sem fim. Ninguém questiona se isso promove a felicidade das pessoas,
o progresso nas relações sociais, a prosperidade saudável da população.
Pensa-se antes em usar todas as fórmulas possíveis para fazer com que a
produção física se expanda, o que implica aumentar a extração de recursos da
natureza e uma inevitável emissão de maiores volumes de lixo que acompanham
essa extração e a transformação dos recursos (o petróleo queima e vira
poluentes como o gás carbônico).
O pensamento econômico dominante –
neoliberal, de esquerda, o que for – só percebe a receita do crescimento,
omitindo qualquer referência a custos sociais e ambientais do processo. Obras
como a usina de Belo Monte, uma tragédia humana e ecológica, ilustram bem isso.
Diz-se que o projeto é necessário, sem considerar que assim ocorre porque o
objetivo fundamental da economia é crescer sempre mais. No mundo atual, uma
razão para isso é o fato de que, com um sistema bancário poderoso, empresta-se
dinheiro de modo voraz, o que leva à necessidade de crescimento econômico para
que as dívidas possam ser pagas. Se não houver crescimento, o sistema bancário
fica ameaçado. E o que os banqueiros querem é que os empréstimos que concedem
gerem “riqueza” financeira, deixando que a humanidade pague o preço de sua
empreitada.
Cria-se
uma situação em que tudo é forçado a se converter em dinheiro. As riquezas
naturais – essas, as riquezas de verdade – são entregues ao mercado para que
ele lhes dê preços e leve a uma acumulação cada vez mais concentrada de ativos.
Como diz um amigo meu nos EUA, o dinheiro é um “ente viral” que coopta a
civilização para que ela realize o trabalho de sua reprodução. Não é à toa que
a dívida nacional cresce em toda parte. Ela era 15% do PIB americano em 1931;
chega agora a 75%. Por outro lado, o giro financeiro mundial valia menos do que
o PIB global em 1930; hoje, representa 60 vezes tal valor! Essa mutação
parasitária do capitalismo o converte em um sistema de destruição de forças
produtivas, do meio ambiente, de estruturas institucionais. A alternativa é uma
mudança profunda de paradigma. Disso fala o Papa Francisco, na sua bela – mas
pouco lida (leiam, por favor, o documento) – encíclica Laudato Si’, de junho de 2015. Sua Santidade, com base em discussão
científica realizada na Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano em maio de
2014, alerta para a “necessidade urgente de uma mudança radical no
comportamento da humanidade” na “preocupação de unir toda a família humana na
busca de um desenvolvimento sustentável e integral”. Não de crescimento a todo
custo, como querem PT, PSDB, etc.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 14.4.2016
Um país sem rumo
Clóvis
Cavalcanti
Presidente da Sociedade Internacional de Economia
Ecológica (ISEE)
Domingo, dia 10
deste abril, eu voltava de Gravatá. Pouco antes das 14h30, ao pegar a av.
Agamenon Magalhães, no Parque Amorim, em direção a Olinda, o trânsito parecia
caótico. Vi logo a razão do tumulto. Cercados por policiais da Tropa de Choque
em motos, torcedores do Sport eram tangidos como boiada na direção do Arruda,
lugar da partida que rubro-negros e o Santa Cruz iriam logo disputar.
Assustei-me. Rapazes com aparência não das mais simpáticas marchavam dentro de
um quadrilátero desordenado e feio. Vou a futebol desde a adolescência; nunca
presenciara cena como aquela – nem antes, nem depois de uma partida importante.
Ao contrário, indo a campo, sempre gostei do clima relacionado com a partida do
momento. O pior que poderia acontecer era alguém dizer um palavrão, se
provocado.
Esse clima de
guerra de galeras de futebol está tomando conta hoje do país. A situação do
Brasil, deveras, assusta. Uma disputa política se transformou em briga de
facções semelhante às brigas entre as famigeradas torcidas organizadas. Brigas
sem bases racionais. Quem é contra o impeachment
da presidente da República, taxa os adversários de golpistas, assemelhando-os
aos que tratavam da deposição de João Goulart, em 1964. Ninguém pode argumentar
que a decisão de se é legal ou não o pedido de afastamento de Dilma Rousseff
cabe ao STF. Todas as pessoas se consideram juristas e com poderes para dizer
se os adversários devem ser taxados de golpistas, ignorando a palavra final do
STF. Quem admite que o caso seja apreciado pelas instâncias competentes é
chamado de direitista, como se a briga fosse entre valores da esquerda e da
direita. Ora, o próprio ex-presidente Lula da Silva, em 2003, afirmou – para
minha consternação – que nunca fora de esquerda. Que Paulo Maluf nunca se
aliara com a esquerda, dava para saber. Mas Lula?
É certo que a
presidente Dilma não pode ser afastada do cargo pelo governo muito ruim que vem
fazendo. Nem pela propaganda terrivelmente enganosa de sua campanha eleitoral
de 2014. Nem ainda pela desconstrução impiedosa da também candidata a
presidente Marina Silva naquela disputa. Todavia, se há sinais de crime de
responsabilidade identificados em comportamentos do governo da presidente, é
admissível que o processo de afastamento seja aberto. Isso não significa,
contudo, que a iniciativa terá sucesso. Caso fique provada sua ilegalidade,
cabe à Justiça pronunciar-se com base na Constituição e nas leis. Achar que o
chamado golpe vingará é admissão implícita de fragilidade em relação aos
argumentos da acusação à presidente. Se esta última tem razão, não deveria
nunca enveredar em seus pronunciamentos pelo caminho do ódio, da virulência, da
agressividade. Estadista tem que ser sereno, estoico, equilibrado, seguro de
seus valores elevados (se o forem, claro). Contribuir para que a nação se
afunde, por motivos políticos, em clima de briga de galeras de futebol, é não
saber fazer jus à herança de estadistas como Getúlio Vargas e Juscelino
Kubitscheck.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 4.4.2016
Werner Baer, pessoa ímpar
Clóvis
Cavalcanti
Presidente da Sociedade Internacional de Economia
Ecológica (ISEE)
Conforme notícia do Diario, o economista e grande
brasilianista Werner Baer, professor da Universidade de Illinois em
Urbana-Champaign (EUA), faleceu ali no dia 31 de março último. Pessoa discreta,
Werner, que se tornou meu amigo em dezembro de 1962, exerceu papel fundamental
na preparação de centenas de economistas brasileiros nos últimos 50 anos. Só
quem com ele conviveu – meu caso e o do presidente do Diario, seu aluno nos States, Alexandre Rands, como também meu
filho Tiago e nora Juliana – é capaz de testemunhar essa sua condição. Não
fosse ele, de fato, uma leva importante de graduados de economia do Brasil não
teria tido a chance de fazer boa pós-graduação fora do país. Em 1963, quando me
formei, a única pós-graduação brasileira de economia era um curso de
aperfeiçoamento no Rio, na Fundação Getúlio Vargas (FGV), do qual fui aluno.
Werner começara a estudar o Brasil desde
que se doutorou em Harvard (1958). Ligou-se então à FGV e especialmente aos
economistas Annibal Villela (1926-2000) e Mário Simonsen (1935-1997), este
último o cérebro da pós-graduação de economia na FGV. Fui seu aluno em 1964.
Por ele indicado, fui da FGV para a Universidade de Yale, onde o prof. Baer
ensinava. No meu período lá, tive o privilégio de conviver com Celso Furtado,
que fora deposto da Sudene pelos militares e atraído com uma oferta de
professor visitante em Yale, graças a Werner. Na verdade, essa foi uma
constante do meu grande amigo: ajudar perseguidos políticos. Ele, por exemplo,
conseguiu que Luciano Coutinho, atual presidente do BNDES, ameaçado pelo AI-5
em 1969, fosse fazer doutorado na Universidade de Vanderbilt (EUA), para onde
se mudara de Yale em 1967. Fez o mesmo com José Almino de Alencar, filho mais
velho de Miguel Arraes.
Em janeiro de 1966, como professor da
UFPE, convidei Werner para dar aula numa incipiente pós-graduação de economia
que Roberto Cavalcanti de Albuquerque e eu iniciáramos. Começou duradoura
parceria dele com a UFPE. Em 1967, Roberto e eu, com colegas de sociologia,
iniciamos o Pimes (Programa Integrado de Mestrado em Economia e Sociologia) na
UFPE. Werner era assessor da Fundação Ford para economia. Deu-nos todo o apoio.
Fundou-se uma pós-graduação firme que se fortaleceu com o tempo. O Pimes virou
centro de excelência de economia no Brasil. Por ele cruzaram pessoas como
Carlos Osório, Cristovam Buarque, Adriano Dias, Yony Sampaio, Maurício Romão,
André Magalhães, Gustavo Maia Gomes, Jorge Jatobá. A Universidade de Vanderbilt
foi trocada, em 1974, pela de Illinois, para onde Werner foi atraído por boa
oferta de emprego. Nela prosseguiu seu trabalho magnífico de preparação de
gente qualificada. A mim, Werner, com sua generosidade admirável, fez diversos
convites para visitar Urbana-Champaign. Para isso, dispunha de recursos que lhe
foram concedidos por seu amigo de Harvard, o brasileiro Jorge Paulo Lemann.
Recursos esses a fundo perdido, em valor considerável, que Werner administrava
com zelo e decência, colocando-os em aplicações de cujos rendimentos fazia seu
trabalho intelectual profícuo e generoso. Uma pessoa ímpar. Amigo
extraordinário.
Werner Baer, a unique person
Clóvis Cavalcanti
President, the
International Society for Ecological Economics (ISEE)
As the Diario de Pernambuco newspaper informed, the economist and great
Brazilianist Werner Baer, a professor at the University of Illinois at
Urbana-Champaign (USA), died there on 31 March. A discreet person, Werner, who
became my friend in December 1962, played a key role in the preparation of
hundreds of Brazilian economists in the last 50 years. Only those who worked alongside him – my own case, and that of the president of the Diario
newspaper, his student in the States, Alexandre Rands, as well as my son Tiago’s
and daughter-in-law Juliana’s – can testify to
this special quality of Werner's. Were it not for him, in
fact, an important contingent of Brazil’s students of economics would not have
had the chance to do good graduate studies abroad. In 1963, when I got my B.A.,
the only Brazilian graduate program in economics was a specialization course in
Rio, at the Getúlio Vargas Foundation (FGV), of which I was a student.
Werner started
studying Brazil upon finishing his doctorate at Harvard (1958). He then became
connected with FGV, and especially with the economists Annibal Villela
(1926-2000) and Mário Simonsen (1935-1997), the latter being the brain of the economics
course at FGV. As one of FGV's students in 1964, in August of the same
year, I was indicated by Simonsen to go from FGV to Yale
University, where Prof. Baer taught. In my time there, I had the privilege of studying under Celso Furtado, who had been deposed by the military from SUDENE and who had been taken on as a visiting professor to Yale thanks to an offer arranged by Werner. In
fact, this was a constant of my great friend: to help victims of political
persecution in Brazil. He managed, for
example, to get Luciano Coutinho, the current president of BNDES,
threatened by AI-5 in 1969, into Vanderbilt University (USA) –
where he had moved from Yale in 1967 – as a Ph.D. student. He did the same for
José Almino of Alencar, eldest son of Miguel Arraes.
In January 1966, already as a
professor at UFPE, I invited Werner to teach a course at an incipient graduate
program in economics that Roberto Cavalcanti de Albuquerque and I had started. This
way, he began his lasting partnership with UFPE. In 1967, Roberto and I, with
fellow sociology people, established Pimes (the Integrated Master’s Program in
Economics and Sociology) at the university. Werner was then an economics
advisor to Ford Foundation. He gave us all the support we needed. A solid graduate program that has strengthened over time
was created. Pimes became a center of excellence
in economics in Brazil. People
like Carlos Osório, Cristovam Buarque, Adriano Dias, Yony Sampaio, Maurício
Romão, André Magalhães, Gustavo Maia Gomes, Jorge Jatobá were attracted to it. In 1974, Werner, having received an excellent job offer, moved from Vanderbilt
University to the University of Illinois at Urbana-Campaign. In his new work, he continued his previous magnificent
activity of allowing promising students from all over Brazil to proceed toward
more qualified training in the US. To me, Werner, with his
admirable generosity, made several invitations to visit Urbana-Champaign. For
this and other initiatives as well, he counted on the support of funds given to
him by Jorge Paulo Lemann, his Brazilian friend from Harvard. These sums were
donations of considerable value, which Werner invested with care and decency in order to
cover his admirable and fruitful work. A unique
person. An extraordinary friend.
Published by Diario
de Pernambuco on April 4, 2016.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 29.3.2016
Desvios de Conduta
Clóvis Cavalcanti
Presidente-Eleito da Sociedade Internacional de Economia Ecológica (ISEE)
No dia 14/12/2003, o respeitado sociólogo pernambucano Francisco (Chico) de Oliveira, meu amigo desde 1960, professor da USP, escreveu artigo na Folha de São Paulo comunicando seu desligamento do PT. Chico e eu tínhamos passado uma semana em Havana pouco antes (outubro), em reunião de cientistas sociais da América Latina, à qual o próprio Fidel Castro compareceu. No primeiro dia, Chico falou na cerimônia de abertura. Criticou ali o presidente Lula da Silva e seu governo. Fidel, depois, até brincou: “Chico, vou contar a Lula...” Na verdade, Chico de Oliveira amadurecia uma avaliação crítica da experiência de governo (menos de um ano) do partido de que foi entusiástico fundador. Em seu artigo para a Folha, na volta de Cuba, ele avisava: “Aqui não me dirijo a qualquer instância formal do partido, nem aos seus dirigentes no próprio partido e no governo, mas aos petistas e aos cidadãos em geral. Aos primeiros por ter compartilhado com eles a militância durante todos os anos de existência do partido, e aos segundos por serem os únicos detentores formais, pela Constituição, do poder republicano e democrático, aos quais o Partido dos Trabalhadores e seu governo devem Chico acrescentava: “muito além do que imagina e pensa a direção partidária, o PT tem que dar satisfações à cidadania, que lhe deu as condições para disputar democraticamente e chegar ao governo. Falta a essa liderança consciência democrática e republicana, enquanto lhe sobram arrogância, prepotência e maneirismos caboclos de péssima fatura”. Segundo Chico, havia “transformações estruturais na posição de classe de um vasto setor que domina o PT”, uma “real mudança do caráter do partido”. Daí, “como posições de classe não se mudam com simples mudanças de nomes ou de conjuntura ou de melhoria de alguns indicadores econômicos, considero que o governo Lula está aprofundando a chamada ‘herança maldita’ de FHC e tornando-a irreversível”.
Não vou comentar sobre o que Chico pensa hoje, nem entrar na discussão acerca da “herança maldita”. Para mim, os comentários do grande sociólogo em 2003 registram desagrado em face de desvios de conduta, de mudança de caráter que ele percebia em seu partido. Ora, muita gente também experimentou igual sensação. Nunca fui petista, mas admirava a proposta do PT, que introduzia novidades boas no cenário político brasileiro. A incorporação de gente que lutava em defesa do meio ambiente, caso de Chico Mendes e sua grei de seringueiros no Acre (Marina Silva, inclusive), era uma dessas coisas. Na campanha de 2002 – afora a tolice do discurso do “Espetáculo do Crescimento” –, se podia imaginar um governo do PT que iria alforriar as camadas humildes da população, e não contribuir, pela via do assistencialismo, para sua perpetuação. Eu sonhava em ver as crianças de rua sumirem, como sumiram em Cuba – onde, aliás, a educação é a melhor da América Latina. Por que não aproveitar esse modelo e, ao invés de importar médicos, seguir linhas de ação como as de Cuba? Infelizmente, humildade, simplicidade, moderação faltam àqueles que poderiam ter feito do PT uma alavanca de grandes transformações no país.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 15.3.2016
1964 e 2016: Grandes
Diferenças
Clóvis Cavalcanti
Presidente-Eleito da Sociedade
Internacional de Economia Ecológica (ISEE)
No dia 31.3.1964, o Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, no
alto da primeira página citava a Constituição: “Todo poder emana do povo e em
seu nome será exercido”. Logo depois, acrescentava: o Presidente João Goulart
desrespeitara tal dispositivo; não podia mais governar. No Rio desde janeiro
fazendo pós-graduação de economia na Fundação Getúlio Vargas (tinha me formado
em dezembro de 1963 na UR, depois UFPE, tendo Manoel Correia como paraninfo e
patrono, Caio Prado Jr., dois nomes fortes do pensamento de esquerda), gelei. O
golpe militar em processo, com apoio civil, ameaçava a luta estudantil em que
eu participara como membro do Conselho da UNE, até setembro de 1963. No dia do
golpe, perdi meu primo Ivan Aguiar, morto pelo Exército no Recife, protestando
contra a deposição de Miguel Arraes. No Rio, na Praia de Botafogo, carros de
combate punham a correr estudantes (eu no meio). Próximo dali, o prédio da UNE
era incendiado. Momento aterrador e triste. Testemunhei verdadeiro golpe (nada
de impeachment por meios legais). Em
1960, eu votara em Lott para presidente, e em Goulart (Jango) para vice.
Nessa ocasião, o Brasil
se dividia ideologicamente. Ninguém acusava Jango de roubar, de enriquecer, de
receber presentes de amigos, velhos ou novos. Nem ele, n
em
seus ministros, nem os dois governadores depostos em 1964 – Arraes, em
Pernambuco, e Seixas Dória, em Sergipe (ladrão só o direitista governador
Adhemar, de São Paulo). O governo federal era considerado ponta de lança da
ameaça comunista, pondo em risco a propriedade privada, o latifúndio,
privilégios das elites, a religião. Semanas antes do golpe, uma cruzada
religiosa, nascida da ação de um padre católico nos EUA, buscava despertar o
fervor dos fiéis contra o comunismo ateu. Grupos católicos organizavam “Marchas da Família com
Deus pela Liberdade”. Elas assustavam: pessoas com rosário na mão invocavam
intervenção contra supostos perigos da esquerda. Como católico praticante, eu
achava isso um desrespeito ao verdadeiro cristianismo. No Vaticano, aliás, o
notável Papa João XXIII (1881-1963) dava exemplos de tolerância e aproximações
com a esquerda. Em 1964, uma inflação violenta (100% em 1963!) assolava. Isso
piorava o quadro político. No entanto, o conflito era mesmo ideológico.
Em
2016, embate similar não acontece. Nunca votei em FHC, mas várias vezes, sim,
em Lula (a última, em 2003). Muita gente que conheço encontra-se nessa
situação. O que causa dor é ver a dimensão dos casos de corrupção e desrespeito
à ética que se espalham nas esferas federais. Bem diferente de 1964. Embora
menos sério, o problema da inflação ameaça a sociedade. Para neutralizá-lo, as
medidas têm que apelar para o bom senso econômico – e, nesse ponto, só há uma
ortodoxia, que vale tanto para a esquerda como a direita: tem-se que controlar
o gasto público e o endividamento. Querer fazer pajelança ou magia para acabar
com a inflação é bobagem perigosa.
Estranhamente, para
mim, em Caracas, em 2003, ao lado de Hugo Chávez, o presidente Lula disse que
não gostava do rótulo de esquerdista. Repetiu que não era de esquerda no
Planalto, em 14 de julho de 2006. Francamente, querer fazer comparações entre
1964 e 2016 é não enxergar bem esses dois momentos da história brasileira.
Artigo Publicado Diario de Pernambuco, 3.3.2016
Seriedade da Crise da Economia
Mundial e o Papa Francisco
Clóvis
Cavalcanti
Presidente de Honra da
Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (EcoEco) e Presidente Eleito da
Sociedade Internacional de Economia Ecológica (ISEE)
É penosa a constatação
da crise que açoita a economia brasileira. Mas o problema não é só do Brasil.
Na verdade, há uma situação que alcança todo o planeta, e não porque se viva
num mundo globalizado. A situação resiste às iniciativas de solução com base em
ferramentas conhecidas dos economistas e dos que seguem sua orientação. Agora
mesmo, as taxas de juros do Brasil, por exemplo, são altíssimas. No Japão,
porém, o banco central colocou-as com sinal negativo. Em outros países, elas
são nulas ou quase isso. Mas os efeitos desse rol de providências não parecem
alentadores. Uma questão é que a realidade de hoje não corresponde à de quando grande
parte dos modelos econômicos consagrados foi concebida. Isso pesa. Em 1900,
para lembrar, a população mundial era de 1,5 bilhão de pessoas. Hoje, 115 anos
depois apenas, ela é de 7,4 bilhões: aumento de quase cinco vezes. E a produção
de bens e serviços finais da economia planetária (o PIB global), passou, a preços
de hoje, de 2 trilhões de dólares em 1900 para 80 trilhões de dólares
atualmente. Essa enorme expansão, de 40 vezes, significa duas coisas de que os
economistas e seus assessorados geralmente fazem vista grossa. Uma é a extração
de recursos (inevitável), cada vez maior. E a outra é algo que lhe corresponde,
em termos de massa (pelas leis da Física, particularmente a 1ª Lei da
Termodinâmica): igual deposição de dejetos na natureza – poluição de todo tipo,
inclusive energia calorífica, sucatas, produtos usados e jogados fora (nada tem
vida útil eterna), restos de insumos.
O crescimento econômico
não constitui um detalhe nesse panorama. Ele é a essência do que acontece. De
fato, tudo o que se faz hoje em matéria de política pública em quase todos os
lugares da Terra consiste em se buscar aumentos seguidos da atividade
econômica. Não é à toa que, no Brasil, desde 2003, a prioridade tem sido o que,
no começo, se chamava infantilmente de “Espetáculo do Crescimento” e, mais
tarde, de Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Crescimento econômico,
como está definido nos livros-texto das faculdades de economia do mundo,
significa elevação na produção e consumo de bens e serviços. Do ponto de vista
das transformações que ocorrem, ignoradas solenemente nas teorias econômicas
dominantes – sejam elas neoclássicas, marxistas, etc. –, o sistema requer
insumos físicos (faz-se uma mesa, um computador de quê?) e expele lixo no final
(tudo vira lixo, inclusive nós). Isso quer dizer que, com base em princípios da
Física e da Ecologia, existem limites para o crescimento econômico. Por mais avançada
que seja a tecnologia, ainda não se descobriu como fazer um automóvel
imaterial, ou uma casa angélica.
Por outro lado, expandir a economia, além de
custos como esses, gera benefícios. O problema é comparar custos e benefícios –
uma tarefa para que os economistas são especialmente treinados. Ao se aumentar
a produção de uma unidade, a parcela de benefícios gerados vai contar a favor –
e é isso o que a contabilidade do PIB tenta mostrar. Ela oculta, porém, o lado
dos custos. A produção de mais uma unidade implica adição de custos. É
concebível que, durante muito tempo, os custos adicionais tenham ficado abaixo
dos benefícios adicionais da produção. Mas essa não é uma regra eterna. Usando
as concepções da própria teoria econômica dominante, podem-se admitir
benefícios adicionais (B) que declinam e custos adicionais (C) que sobem.
Enquanto B for maior que C, tudo vai bem. Mas pode acontecer que B se iguale a
C, e passe a ficar abaixo de C. Neste caso, o crescimento deixa de ser
econômico e assume a condição de não-econômico
ou antieconômico: penaliza mais
do que premia. Quem garante que isso não esteja acontecendo agora? Segundo o
WWF, respeitada ONG suíça, efetivamente, a realidade do planeta é de se estar
com uma pegada ecológica global que é 50% maior do que a biocapacidade
disponível. Ou seja, usa-se, por ano, 50% mais serviços da natureza do que são
proporcionados no planeta. Trata-se de uma situação insustentável.
A sensação de dificuldade que se tem de todo
lado pode ser sinal de valores de C maiores do que os de B. Como enfrentar
isso? Se a recente (junho de 2015) e admirável carta encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco, for lida
com atenção, será possível vislumbrar uma perspectiva do problema e o apelo
feito para um mundo de consumo sóbrio. Infelizmente, quase ninguém leu o recado
do Pontífice. Seu raciocínio possui enorme correspondência com o que um grupo
de cientistas, de todas as áreas do conhecimento, tem desenvolvido há quase
três décadas no marco da Sociedade Internacional de Economia Ecológica (ISEE:
www.ecoeco.org). Dela, aliás, o que muito me honra, acabo de ser eleito
presidente.
Artigo Publicado DP, 16.2.2016
“Much Nicer than
Salvador”
Clóvis
Cavalcanti
Presidente de Honra da Sociedade Brasileira de
Economia Ecológica (EcoEco) e Presidente Eleito da Sociedade Internacional de
Economia Ecológica (ISEE)
Pus o título acima, em inglês, para
contar o que ouvi de turista austríaco no domingo de carnaval deste ano. “Much nicer than Salvador” pode se
traduzir por “muito mais gostoso do que Salvador”. O turista, com a esposa,
saía do (agradável) Hotel 7 Colinas, defronte de minha casa em Olinda. Vi que o
casal procurava informação. Eram 9h30. Quis saber o que buscavam. Eles iam
atrás do “Birô de Turismo”. Queriam guia para andar pelo sítio histórico. Não
era o momento mais propício para um tour
convencional – falei-lhes. Mencionei a concentração do bloco Enquanto Isso na
Sala de Justiça, que estava se iniciando no Alto da Sé. Contei que Vera, minha
mulher, e eu íamos para lá. Sugeri que fossem conosco. Os austríacos nos
acompanharam. Falavam inglês. Expliquei ao casal algumas coisas do carnaval
olindense. Eles devem ter se admirado de verem a mim e a Vera fantasiados de
Sacis Pererês (sendo o bloco para onde íamos de super-heróis, nossa escolha evitava
Capitães América, Mulheres Maravilha, e assemelhados). No Alto da Sé ficamos
juntos um pouco e terminamos nos separando. Uma hora depois, encontramos o
casal, que chegara da Bahia no sábado. Foi aí que o marido comentou: “much nicer than Salvador”.
Disse isso porque teve ali uma idéia
da diferença notável entre o carnaval espontâneo de Olinda e a produção
mercantilizada do baiano. Em Olinda, prevalece um baile de rua livre, gratuito,
com a animação que produzem troças, blocos, clubes maiores (Vassourinhas, Homem
da Meia-Noite, Pitombeiras, Elefante), maracatus, cabocolinhos (expressão popular da denominação culta caboclinhos),
afoxés, la ursas, grupos de samba. Graças à vibração, à garra dessas manifestações
culturais autênticas é que agrada tanto o carnaval olindense. As orquestras de
chão arrastam com seus acordes mágicos grandes multidões de admiradores do
frevo, o ritmo que prevalece. E não é um ritmo qualquer, mas “uma dança que
nenhuma terra tem”. Vou atrás. É tanta coisa agradável – mas na maior parte
durante o dia. À noite, o carnaval fica tumultuado, muita gente bêbada, parada
no meio da rua. Um dado que só traz bem-estar e prazer a quem admira a folia no
seu perfil tradicional é ver que sobrevive em Olinda o carnaval que um frevo
diz “foi os anjos que inventou [sic]”.
Interesses comerciais, contudo, tentam
impor modelos distintos: casas-camarote (expulsas do Sítio Histórico, para
alegria dos moradores, desde 2015), shows
para gente que fica parada defronte de um palco repetindo coreografias
estereotipadas, decorações à base de símbolos medíocres de marcas de bebidas,
etc. Há ainda o caso de músicas-lixo, como, este ano, uma tal de “Metralhadora”,
que alguém jamais colocaria para o filho bebê ou mãe enferma escutar. Músicas
que ofendem a sensibilidade. Ao contrário de obras-primas, como “Último
Regresso”, de Getúlio Cavalcanti, ou “Madeira que Cupim Não Rói”, de Capiba. O
carnaval de Olinda é prejudicado também pela invasão de automóveis que
estacionam até em locais normalmente proibidos. Essas máquinas deveriam ser
banidas das ruas onde se brinca, com tolerância zero para carros de não
moradores, sem exceção de quem quer que seja. Do mesmo modo, as calçadas têm
que ser liberadas só para o movimento das pessoas. Vendedores de comida e
bebida não poderiam ficar nunca atravancando esse espaço como acontece hoje.
Sua localização tem que ser em locais específicos, à margem da folia. E a
sujeira monumental que emporcalha a cidade? Bom, a questão é de educação ruim e
baixo nível cultural da população. Tudo isso se combina para ameaçar o carnaval
de Olinda. Mesmo assim, porém, ele ainda é much
nicer do que o de Salvador. Não se pode esquecer isso.
Artigo Publicado DP, 27.1.2016
Carnaval Olindense
Clóvis Cavalcanti
Presidente de Honra da Sociedade Brasileira de
Economia Ecológica (EcoEco)
O carnaval é um dos traços da
identidade de Olinda. Traço forte, a festa segue modelo admirável de
convivência democrática e alegre. Não admite guetos, nem cercas, nem camarotes,
nem abadás que restrinjam a presença de quem quer que seja nos desfiles de
blocos, troças e todo tipo de agremiação. Os moradores do Sítio Histórico de
Olinda, que é o palco da folia, têm consciência disso. Daí por que não podem
tolerar mudanças que acabem com o modelo adotado na cidade há bem mais de um
século. No interessante livro Olinda,
Carnaval e Povo (de 1982), o jornalista, publicitário, compositor e
pesquisador, nascido e criado na Ilha do Maruim (bairro periférico de Olinda),
José Ataíde, explica bem a magia do carnaval de sua cidade. E, cobrindo o
período de 1900-1981, revela a genética dessa tradição, que persiste, apesar
das ameaças que contra ela pairam permanentemente. Aliás, um requisito para o
candidato que deseje ser prefeito de Olinda deveria ser que, além de amá-la,
seja um carnavalesco de fazer o passo no meio da multidão, sem medo de
empurra-empurra, de suor ou da espontaneidade de pessoas que se abraçam e
trocam amizade em plena rua. Infelizmente, o prefeito atual de Olinda, Renildo
Calheiros, além de não ter vivido nunca um carnaval como o olindense, jamais se
entregou ao frevo de forma anônima e descontraída. De qualquer forma, teve a
sensatez de vetar a lamentável proposta de isolamento pretendido por pessoas
que buscam casas-camarotes para brincar o carnaval. Esse tipo de comodidade é
algo que não está registrado no livro de José Ataíde como parte da brincadeira
de Momo.
Para garantir que a tradição não
morra – tradição que poderia ser uma fonte de renda para quem vive de um
turismo consistente (como o Santo Antônio em Lisboa) –, os olindenses têm se empenhado
em proteger de toda forma o carnaval da cidade. Em 1980, houve o banimento dos
carros, uma iniciativa dos moradores, que funcionou com permissão da
prefeitura, a qual a oficializou em 1981. Essa proibição a carros de não
moradores de não entrar no Sítio Histórico deveria prevalecer nos fins de
semana, sobretudo no período que vai de dezembro a março. No domingo 24 do
corrente, a invasão de carros na cidade dificultava a saída de blocos nos seus
ensaios de rua – como o Eu Acho É Pouco. Outra coisa que degrada o carnaval de
Olinda é a indisciplina com que se permite a venda de comida e bebida para os
foliões (com suas montanhas de lixo, um problema dos foliões que chega a ser
moral). Barracas que dão aspecto de acampamento de país miserável à cidade (no
Recife Antigo, se adota um modelo mais agradável de ver) se somam a cozinhas
improvisadas com fogões acesos e vendedores ambulantes transportando mercadorias
em carros de mão rodeados de foliões. De um lado, música, animação, dança,
gente bonita de ver e, do outro, a infraestrutura de um submundo de miséria
extrema expondo um esqueleto deformado. O carnaval não deveria ser assim tão
comprometido.
-------
 |
| Jornal do Brasil, 7.9.1981 |
 |
| Jornal do Brasil, 2.2.1981 |
-------------
Artigo
meu, publicado hoje, 13.1.2016, no Diario de Pernambuco (abaixo). Eu
escrevi nesse jornal desde 1998, regularmente. Em junho de 2014, um
artigo meu foi censurado. Decidi não mais escrever para ele. Agora, com
novos proprietários -- os irmãos Alexandre e Maurício Rands, empresários
competentes --, volto a escrever.
Ameaças à excepcionalidade de Olinda
Clóvis Cavalcanti
Presidente de Honra da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (EcoEco)
“Para quem visita Olinda e não se perde em detalhes, a cidade aparece
na observação a partir de um alto como o da Sé, através da forma
harmoniosa das casas, da silhueta altiva das igrejas, das copas
ondulantes dos coqueiros, mangueiras, cajueiros, abacateiros, do
brilhante azul do mar tropical. A visão justifica a origem lendária do
nome: ‘Ó linda situação para se fundar uma vila!’ Entretanto, um contato
mais íntimo, demorado, com a realidade da antiga Marim dos Caetés ou
Vila Mirim evidencia a condição de cidade ameaçada com que Olinda se
apresenta hoje”. Essa narrativa é o começo de artigo meu publicado pelo
extinto Jornal do Brasil – grande diário do Rio de Janeiro – no dia 2 de
fevereiro de 1981. Cabe perfeitamente, porém, para retratar uma
situação bem atual. Pior: Olinda só se integrou à lista do patrimônio
cultural da Humanidade, por ato da Unesco – a agência da ONU
encarregadas dos assuntos educacionais, científicos e culturais do mundo
– em 17 de dezembro de 1982. Ou seja, tinha – e tem – a obrigação de
não negar as características de “valor excepcional e universal” de um
sítio que “requer proteção para benefício de toda a humanidade”, motivo
de sua escolha para ser cidade-patrimônio (World Heritage), como diz o
diploma da Unesco. “Monumentos abandonados, rachões que se multiplicam
... calçadas que se desfazem” eram situações que, entre outras, eu
assinalava em meu artigo de 1981. Queria dar um grito de olindense para
chamar a atenção quanto ao descaso, ao abandono, à forma perigosa com
que se estava tratando lugar tão excepcional e único, característica
perfeitamente percebida pela Unesco.
Assim, além de bradar contra a
irresponsabilidade relativa aos cuidados com minha linda Olinda, eu
acrescentava: “a despeito disso tudo, a primeira capital de Pernambuco
continua exercendo um fascínio sobre seus moradores, sobre os visitantes
que a ela acorrem, sobre os apreciadores da documentação viva de nossa
história, que é o mesmo que maravilhava Joaquim Nabuco, que fez Darwin
preferir Olinda ao Recife. Essa atração não se apaga facilmente; afinal,
ela é produto da luz, do brilho, da luminosidade que conferem aos
verdes tropicais olindenses ... uma cor doce e ao ar cálido, uma leveza
... responsáveis por agradáveis sensações táteis”. Adicionava a
singularidade das manifestações culturais de Olinda, a exemplo do
carnaval, “o gostoso carnaval de rua, livre, descontraído, sem
exageros”, democrático, aberto, barato, de acesso fácil para quem tem
baixa renda. Minha preocupação, então e agora, era, e é, de que se
esteja fazendo tudo para insidiosamente acabar com os atrativos
olindenses. Um périplo pela cidade, a partir de minha casa na
privilegiada localização junto do convento franciscano mais antigo do
Brasil – com belas vistas para todos os lados, a da direção sul
infelizmente aviltada, se bem que ao longe, pelas miseráveis torres do
Cais de Santa Rita –, permite verificar como a cidade vai se desfazendo.
O adro do convento meu vizinho foi completamente desfigurado por uma
obra de dez anos atrás, inconclusa e que se destinava, supostamente, a
“revitalização” do local. Ficou dela um canteiro de obras, um desnível
absurdo entre a via pública da frente do convento e a pracinha com o
cruzeiro abaixo, desnível protegido por gradil mambembe de metal,
verdadeira gambiarra. Sobressai a pouca, rala inteligência de quem
iniciou a obra e a abandonou posteriormente.
Entristece ver a
situação a que chegaram os templos do Bonfim e São Pedro Mártir,
ameaçados de ruir. Fiações caóticas, com postes que parecem de galpões
de depósito de periferia urbana constituem a rede de distribuição de
energia da cidade. Como é possível que isso ainda exista quando, há mais
de dez anos, se iniciou um processo de embelezamento de postes e
ocultação de fios que ficou limitado, no entanto, a 3 ou 4 vias
públicas? Na área do Fortim do Queijo, implantou-se um calçadão há menos
de 8 anos, com lajes de pedra muito frágeis que se desmancham e pedem
reposição a ritmo escandalosamente curto. Sujeira, mau cheiro, pichações
– não há limite para a criatividade do que é negativo em Olinda. A isso
se soma o barulho de bares e shows ao ar livre, com música lixo (que
ninguém, nem mesmo seus autores, poria no quarto de um recém-nascido ou
de um doente da família). Dentro de minha casa, sou obrigado a ouvir
escolhas musicais que jamais faria (sinto-me muito bem, todavia, quando
ouço os cânticos gregorianos no Mosteiro de São Bento de Olinda). E olhe
que nem moro ao lado de quem produz a miséria auditiva de música
bate-estaca, o que me faz imaginar o suplício de quem está junto dessa
fonte.
Recentemente, se inventou a porcaria das casas-camarote –
guetos para ricos e apaniguados – no carnaval de Olinda. Dentro desses
espaços de folia pasteurizada, alguns dos quais chegaram a funcionar até
2013, faziam-se shows para os que deles se serviam pagando fortunas ou,
de graça, fazendo parte de panelinhas de privilegiados, que ofendiam o
carnaval de rua e agrediam os moradores próximos. Graças a Deus, a
prefeitura não aprovou essas casas-camarote em 2014 e 2015. Isso, depois
que a população que sabe o que é o carnaval de Olinda se mobilizou, fez
protestos e impôs o perfil tradicional da cultura olindense. Aliás, foi
uma inciativa dos moradores do Sítio Histórico, em 1980, que tirou o
trânsito de veículos das ruas do carnaval olindense. Naquele ano, a
prefeitura não assumiu oficialmente o fechamento da cidade, mas concedeu
permissão para que os moradores o fizessem. Funcionou tão bem que, em
1981, e daí em diante até hoje, a prefeitura proíbe a circulação de
carros nas ruas reservadas para a folia. Melhorou muito a animação e
curtição do carnaval depois disso. Contudo, é assustadora a quantidade
de veículos de não-olindenses que consegue entrar nas ruas fechadas do
Sítio Histórico de Olinda e nelas estacionar durante o carnaval. Minha
rua, por exemplo, à noite, normalmente, só registra a presença de 4 ou 5
carros estacionados – dois deles o de Vera, minha mulher, e o meu. Nas
horas diurnas do carnaval, porém, estacionam até 50 carros. Um absurdo,
pois é invasão de veículos sem nada a ver com a vida quotidiana da
cidade. Não é possível que a excepcionalidade de valor cultural e
universal de Olinda seja jogada no lixo e se termine levando a Unesco a
retirar o título que conferiu à cidade, com toda justiça, em 1982.

Artigo NÃO publicado no DP, Dom 8 de Junho de 2014
escrevi o artigo abaixo para o "Diario de Pernambuco" de hoje (8/6/2014). Não
publicaram. Compreendo que o jornal tenha sua linha editorial. Respeito a
posição alheia. Mas foi a primeira vez em que escrevo para essa coluna
(desde 1999) e o texto não sai.
ADMIRÁVEL MOVIMENTO DE PROTESTO
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Uma reação da sociedade civil contra o
chamado Projeto Novo Recife transformou-se aos poucos em belíssimo movimento
social: o #OcupeEstelita. Infelizmente, na sua evolução, essa iniciativa não
contou com cobertura forte dos meios de comunicação recifenses, valendo-se
apenas das redes sociais que, como se sabe, não alcançam certas camadas da
população. Mesmo assim, o OcupeEstelita – inspirado nas sugestivas mobilizações
aparecidas em 2011, em Nova York, com o Occupy
Wall Street – ganhou a adesão de número expressivo de pernambucanos.
O que quer esse movimento? Discutir uma visão
de cidade que signifique bem-estar genuíno para todos, que não sucumba à
ganância insaciável da especulação imobiliária, que não deforme o que resta da
linda herança urbana do Recife. O oposto do propósito do Projeto em
questionamento, aprovado, sim, formalmente, nos níveis de decisão (fechados,
opacos) do governo municipal, mas não submetidos a debates (abertos,
transparentes) com todas as partes interessadas, com todos os atores sociais (stakeholders) relevantes. É só comparar
as imagens disponíveis do Recife nas décadas de 1940 e 1950 – quando, como
criança e adolescente, eu me familiarizei com elas – com as do Projeto Novo
Recife e seus espigões descomunais. Que seguem o exemplo das lamentáveis Torres
Gêmeas do Cais de Santa Rita. E do mote de devastação dado pelo esdrúxulo
prefeito Augusto Lucena, imposto pelos militares em 1964. Isso não pode vingar,
diz o Estelita, apoiado já agora por enormes segmentos da sociedade.
Assim, soa como ofensa gratuita, como
classificação aberrante, o que escreveu jornal do Recife a propósito das
pessoas idealistas que integram o movimento: “protestadores profissionais”.
Todos os pernambucanos deveriam era agradecer a Deus por nos dar uma forma de
protesto civilizada, educada, dentro da lei como a do #OcupeEstelita. Um
exemplo de Primeiro Mundo, de como deve ser a reação da sociedade diante de
coisas absurdas que incomodam. Foi o Novo Recife objeto de elucubrações
técnicas perfeitas? Passou por todas as instâncias deliberativas previstas?
Fez-se isso de forma nítida, criteriosa e irreprimível? Quem garante? O fato é
que a sociedade despertou. Com uma vanguarda decente, digna, admirável.
Artigo publicado no DP, Dom 25 de maio de 2014
SAQUES ESCANCARADOS E À SURDINA
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Em artigo recente, Leonardo Boff comenta o linchamento
de uma inocente, Fabiane Maria de Jesus, em Guarujá (SP). Apontada como
responsável pelo seqüestro de crianças para sacrifícios em práticas de magia
negra, ela nada tinha feito quanto a isso (e se tivesse, não era para a
população justiçá-la com as próprias mãos). Diz Boff: esse “fato constitui um
desafio para a compreensão, pois vivemos em sociedades ditas civilizadas e,
dentro delas, ocorrem práticas que nos remetem aos tempos de barbárie, quando
ainda não havia contrato social nem regras coletivas para garantir uma
convivência minimamente humana”. Tem razão.
Tal raciocínio se adéqua também aos episódios
abomináveis que ocorreram nos dias 14 e 15 do corrente quando a Polícia Militar
de Pernambuco, em greve, deixou de cumprir suas funções. Hordas de potenciais delinqüentes,
assumindo de forma desinibida sua condição, invadiram as ruas desprotegidas de
cidades do estado, cometendo saques e destruição de patrimônio. As cenas a que,
no conforto de nossas casas, pudemos assistir no noticiário de TV, eram
deprimentes, revoltantes, amedrontadoras, lastimáveis. Muitas pessoas, gente
simples do povo, entrevistadas nas áreas de registro dos fatos, revelavam seu
horror, sua desaprovação, sua vergonha diante do que viam. Do outro lado da
realidade, os vândalos corriam como bestas feras, muitos rindo, divertindo-se
com o saque que faziam. De quê? De eletrodomésticos, de eletrônicos – mas
também de sapatos, colchões, alimentos e até papel higiênico.
Uma análise profunda do fenômeno certamente
penetrará na síndrome dessa desgraça. É tarefa para sociólogos, cientistas
políticos, psicólogos sociais. Entretanto, como espectador do caos, eu só via
pessoas de aparência humilde, de baixíssimo nível de educação. Excluídos, prováveis
clientes de programas sociais como o Bolsa Família (que não convence como
projeto permanente). Essa camada vive sob a influência da televisão, que
incentiva o consumo, mostrando sempre a beleza de produtos inalcançáveis para a
maioria da população. Humilhados, com sentimentos reprimidos, os miseráveis só
são contidos no quotidiano pelo medo da resposta dura da autoridade policial.
Sem esta, não respeitam nada: não têm o que temer.
Ao mesmo tempo, o cidadão atento percebe que
um saque disfarçado se faz no país com o enriquecimento ilícito, com a
apropriação do dinheiro público, com a destruição do patrimônio histórico e da
natureza. O processo que leva a ele é oculto, disfarçado; possui roupagem que
engana. Só se desnuda quando algo vaza da máquina que o alimenta. Mas é saque.
Não tem corre-corre, não causa estupor, não envergonha a quem o assiste nem
quem o pratica. Os que o cometem, por certo não se tocam pela desonra do ato
indecoroso. Agem como vestais acima de qualquer suspeita. E ainda se julgam
injustiçados quando apanhados pela Justiça. O verdadeiro saque de quem se
apropria da paisagem e bens da natureza é crime também. Que direito tem quem
quer que seja de seqüestrar a vista que o cenário nos oferece, nele erguendo
espigões, torres de concreto, obras feias? Para mim, é saque. Não como o dos
excluídos, que tanto opróbrio causa. As elites cometem saques à surdina, de modo
solerte.
Artigo publicado no DP, Dom 11 de maio de 2014
A
DESGRAÇA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Incomoda ver
discursos triunfalistas das autoridades e verificar que a realidade da vida no
país destoa muito do cenário dourado oferecido. Veja-se o caso da privatização
da telefonia. No tempo da Telpe estatal, nunca, em 30 anos, meus telefones
penaram tanto. Qualquer defeito era sanado sem demora – e a empresa provia tudo
que fosse necessário para a solução do problema. Cabia só ao usuário pagar,
como de direito numa sociedade civilizada sob o império da lei. Hoje, sou, como
muita gente, uma vítima dos maus serviços da telefonia fixa. Na minha casa,
havia até recentemente duas linhas da Oi. Uma delas estava sempre a dar
problemas. No fim do ano passado, ficou mais de um mês muda. Pedíamos conserto,
a empresa prometia “em 48 horas”. Nada. Até que fizeram o reparo. Este ano, em
janeiro, novamente a linha emudeceu. Pedidos de solução foram dirigidos à Oi,
que prometia atendê-los nas tais enganosas “48 horas”. Depois de 2 meses sem o
telefone e contas cobradas, e pagas em dia, de valor acima de 60 reais,
decidimos cancelar a linha. Foram muitas ligações para conseguir essa
providência. Na derradeira, minha mulher, Vera, que é quem assume a penosa
tarefa de ficar ao telefone para tratar de nossas desditas, passou 40 minutos
pendurada. Uma perda de tempo miserável. Do outro lado, a pessoa que atendia
tentava convencer a não se fazer o cancelamento. Era uma tortura sem piedade.
Prevaleceu afinal nossa vontade. Recentemente, a segunda linha ficou muda.
Foram dadas as 48 horas da promessa de praxe, vã, da empresa, para solução do
problema. Depois de 96, instante em que escrevo, nada foi feito. Isso jamais
aconteceu com a antiga Telpe, cujos telefones de socorro eram de acesso
imediato. Muito diferente de agora. Essa privatização constitui uma lástima.
No entanto, o
sofrimento da população não se resume a empresas privatizadas. No Recife, os
serviços de metrô, estatais, por exemplo, abusam de causar mal-estar à
população. Não sou usuário deles. Só os utilizei uma única vez, até hoje. Foi há
mais de 20 anos, para tomar ônibus no TIP. O trem era lentíssimo, sem brilho –
nada parecido com os de São Paulo e Rio, sem falar naqueles que têm tradição de
qualidade em muitas partes do mundo, como os de Santiago do Chile, por exemplo.
Minha empregada, Taciana Martins, porém, usa metrô diariamente. Mora em
Camaragibe. Cada dia de viagem é uma epopeia. Sai de casa às 5h30 para chegar
às 7h30 no máximo ao trabalho em Olinda. Contudo, nunca o sistema funciona com a
regularidade imaginada para o século XXI. Há dias em que o metrô pára no meio
caminho. Noutros, quebra na estação – como na semana que passou em que, depois
de 25 minutos dentro do trem, na estação de São Lourenço, avisaram que havia
pane no comboio. Em outras ocasiões, o serviço é cancelado, caso de
quarta-feira passada, em que os portões da estação de São Lourenço estavam
fechados pela manhã. Como esperar que os trabalhadores sejam produtivos,
eficientes; que os alunos tenham disposição plena para assistir às aulas; que
as pessoas levem uma vida que as faça felizes? Certamente, essa expectativa não
é atendida por serviços públicos lastimáveis como os que estão aí para atender
às necessidades da população.
Artigo publicado no DP, Dom 27 de abril de 2014
2014
– COPA SEM EMOÇÃO
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Desde 1950,
acompanho a Copa do Mundo de futebol. Eu tinha 9 anos, não entendia muito do
evento (estava em sua quarta edição), mas era despertado pela atenção que lhe
dava minha avó (paterna) Iaiá. Lembro as emoções do momento, escutando as
transmissões pelo rádio, nem sempre claras devido a interferências sonoras.
Morávamos na Usina Frei Caneca (então município de Maraial) de que meu pai era
contador. Minha avó estava lá de visita. O nome de Ademir Menezes ressoava em
todo canto. Foi uma decepção perder do Uruguai na final. Tristeza generalizada,
que ainda encontrei no Rio, em 1952, quando fui para lá estudar, interno, no
Colégio Nova Friburgo. Nesse lugar, com meus colegas, vivi as angústias e
vibrações das copas de 1954 e 1958, cujas finais acompanhei no Rio de Janeiro,
sempre pelo rádio. Desde então, cada ano de mundial de futebol foi motivo para
que eu me integrasse no clima de copa que o brasileiro vive intensamente. Em
2002, no mesmo domingo da conquista no Japão, eu tinha uma viagem a Lisboa.
Tomei o avião de paletó verde, camisa azul e gravata amarela; a calça era bege.
No embarque, alguém comentou, com razão, que eu deveria estar de calça branca!
Desembarquei primeiro em Madri. Agradou-me ver os jornais com manchetes de
primeira página exaltando o Brasil. Na copa de 2006, eu estava em Pretoria
(África do Sul), onde testemunhei o massacre que Zidane e a França nos
impuseram.
Quando o Brasil
foi escolhido para sede da copa de 2014, achei excelente. Para que melhor
vitrine, sobretudo se nosso futebol mostrasse de novo o esplendor de 1950,
1958, 1970, 1982, 2002? Às vésperas do próximo campeonato – o evento esportivo
mais badalado do mundo –, meu sentimento é de frustração. Não temos nada a
mostrar de esplendoroso, seja no futebol, seja em coisas que os visitantes
admirem. Nisso, penso, estamos pior do que a África do Sul em 2010. Quando
visitei o país no final da copa de 2006, imaginava que não havia como fazer ali
um encontro do naipe do da Fifa. Em muitos aspectos, o Brasil me parecia à
frente. No entanto, os sul africanos realizaram ótimo torneio. E lá existem atrações
diversas para entreter os turistas. Nossa obrigação era a de oferecer algo
melhor, mais organizado, superior em todos os aspectos.
Falando com
franqueza, apesar dos 7 anos de preparação para a copa de 2014, estamos longe
disso. Um estádio como a Arena Pernambuco espanta qualquer um. Não pretendo ir
lá para que tipo de jogo seja. Sempre gostei de frequentar a Ilha, os Aflitos,
o Arruda. Nutro pavor pelas instalações de São Lourenço. Eu ia ao Maracanã, no
Rio, de bonde, quando estudante. Era fácil e rápido. Descia a 500 metros da
entrada. Foi assim que vi Ademir, o Queixada, em 1954, num Vasco x Fluminense.
Morando depois no Espinheiro, eu ia a pé para a Ilha e os Aflitos. Sai muito
caro, em termos de tempo, comparecer à Arena Pernambuco. Por outro lado, há
tanta coisa desconfortável no Brasil, hoje – como a saúde, a educação, o
transporte público, o respeito à cidadania –, que é impossível criar um clima
de euforia pelas proximidades do Mundial da Fifa. Gostaria que não fosse assim.
Mas a atmosfera está mais para protestos como os de junho passado do que para a
alegria e emoções que as copas sempre geraram.
Artigo publicado no DP, Dom 13 de abril de 2014
PERNAMBUCO,
GOVERNO E MEIO AMBIENTE
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Pouco depois da
memorável eleição de Miguel Arraes para governador do Estado em novembro de
1986, reuni-me com ele em seu escritório da ponte da Torre (conheci-o em 1959
quando seu filho, meu amigo José Almino, internou-se no mesmo colégio que eu em
Nova Friburgo, RJ). Tivemos uma boa conversa. A seu pedido – e incentivado por
Maximiano Campos, seu genro e amigo meu –, levei-lhe sugestões para o plano de
governo. Propus: (1) reconsiderar o projeto do porto de Suape; (2) não
construir lá uma refinaria de petróleo; (3) converter a casa de veraneio do
governador de Porto de Galinhas em parque de convivência dos frequentadores da praia.
Fiz mais outras sugestões, todas com foco numa gestão voltada para o tratamento
de questões socioambientais esquecidas dos governantes em Pernambuco. Eu sabia
que minha proposta não tinha chance de ser acolhida. Não foi. Mas Arraes se
mostrou sensível aos argumentos que apresentei. O problema é que nossa
sociedade – como bem o mostra Paulo Prado em Retrato do Brasil (um livro de 1926) e Gilberto Freyre em Nordeste (1937) – tem caráter
antiecológico. Tanto é verdade que, hoje, em Pernambuco, restando apenas menos
de 4% do conjunto de Mata Atlântica, belo e exuberante, que havia aqui em 1500,
ainda se quer construir uma rodovia (o “Arco Viário”) com corte de parte desse
patrimônio insubstituível. Só mesmo mentes insanas, criminosas e miseráveis
podem admitir tal agressão.
É com esse pano
de fundo que considero altamente positivo o desempenho de Sérgio Xavier à
frente da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) de Pernambuco
na segunda gestão de Eduardo Campos. Discordo, assim, da opinião de um amigo e
professor da UFPE que muito respeito, Heitor Scalambrini, que classifica de “inócua”
a “passagem, tipo trampolim, do jornalista Sérgio Xavier como Secretário de
Meio Ambiente de Pernambuco e agora pré-candidato a deputado estadual”.
Acompanho Sérgio na sua vida pública desde que ele e Carlos Augusto Costa, em
1991, conseguiram me convencer a filiar-me ao PV. Nunca percebi nele qualquer
sinal de carreirismo. Pelo contrário, trata-se de um cidadão que luta pelo
bem-estar da sociedade, escolhendo um caminho que não é de êxito fácil. Foi
assim que muito contribuiu para a candidatura de Marina Silva a presidente do
Brasil em 2010.
Quando Sergio,
apanhado de surpresa em Nova York, onde passeava com a família no fim de 2010,
no anúncio aqui do secretariado de Eduardo, teve seu nome indicado para a
Semas, então criada, tratou de consultar pessoas no PV (fui uma delas) e
elaborar uma relação de condições para aceitar sua nomeação. Falou com o
governador 2 semanas depois da posse. Este, demonstrando auspiciosa mudança do
posicionamento antiecologista de antes, acolheu todas as pré-condições de
Sérgio. Bem diferente de quando
conversei com Arraes em 1986. Naquela época, o clima era ainda o da
insustentabilidade do desenvolvimento. Eduardo percebeu que os tempos agora são
outros. Se não desfez impactos ambientais maléficos de seu primeiro mandato, tarefa
inviável a esta altura, aceitou que fossem mitigados ou suavizados. Fortalecendo
o mesmo perfil, Pernambuco tem a oportunidade agora de uma virada histórica.
Artigo publicado no DP, Dom 16 março de 2014
A
BELEZA INIGUALÁVEL DO FREVO
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Em novembro de 1987,
coordenei grande evento na Fundação Joaquim Nabuco. Foi um encontro do Conselho
Latino-Americano de Ciências Sociais (Clacso), do qual cerca de 800 pessoas
participaram. Nas noites da reunião, sempre promovíamos a cultura nordestina.
Pedimos à prefeitura de Olinda, que era comandada então por Jacilda Urquiza,
que patrocinasse uma das ocasiões. Ela concordou. E o que fez – sabiamente?
Trouxe blocos de frevo para a frente de seu prédio na Cidade Alta, e nós fomos
para lá. Foi um sucesso estrondoso. Gente de todos os países do continente e
também da Europa, EUA, Canadá e África se admirou do que viu. Porque, com blocos
na rua, era o povo, de modo natural, que se juntava à folia da hora. Uma dança
espontânea, com a alegria do carnaval. Em diversas ocasiões posteriores, quando
eu encontrava pessoas que aqui tinham estado, comentários de admiração se repetiam.
Se o governo do
Estado ou as prefeituras da Região Metropolitana do Recife querem promover
nosso carnaval, tratam logo de mostrar passistas frevando (maracatus também são
mostrados). É natural. Ninguém vai fazer propaganda de nossa terra heroica exibindo
baboseiras forjadas por interesses comerciais – como o axé, as duplas
sertanejas, etc. Imagine-se um comercial de Pernambuco relativo ao reinado de
Momo com cantores paulistas ou goianos de erres puxados e chapéus texanos – a
desgraça que isso seria. Do mesmo modo, os promotores de carnaval nos currais
das casas-camarote de Olinda atraem seus frequentadores falando dos desfiles de
blocos, da irreverência que irão presenciar. Só que, de forma asséptica, eles
em recintos separados por grossas paredes da movimentação alegre dos foliões na
rua. Dentro desses espaços que parecem cercados de bovinos (sem querer ofender
bois e vacas), os pagantes das casas camarotes vestem todos, de modo monótono,
a camisa do dono do pedaço e assistem a shows
destituídos de significado pernambucano. Poderiam fazer isso se o tom da música
que escolhessem fosse o do canto gregoriano dos monges beneditinos. Não é o
caso. Produzem barulho que maltrata os ouvidos de quem está de fora – e até bem
longe.
É a negação
completa do que Pernambuco tem de melhor – seu frevo. Para mim, inclusive, é
perda de tempo ficar falando que o frevo precisa se “renovar”. Renovar? Fazer
música de apelo comercial, de mau gosto e letras ofensivas? Ninguém pede que o
tango se renove. Que a valsa vienense se modernize. Que o som dos Beatles seja
reinterpretado (e olhe que o conjunto se desfez há mais de 45 anos!). Que o
fado se torne elétrico. O frevo é como é. “Vassourinhas”, de Matias
da Rocha e Joana Batista, “Cabelo de Fogo”, do Maestro Nunes, “Bela” e
“Madeira que Cupim Não Rói”, de Capiba, “Voltei, Recife”, de Luiz Bandeira,
“Último Regresso”, de Getúlio Cavalcanti, “Bloco da Vitória”, de Nelson
Ferreira, “Carnaval da Vitória”, de Nelson também e Sebastião Leme, “Frevo nº 1
do Recife”, de Antônio Maria, para citar só umas poucas composições, não são
apenas imortais. Em encontros pernambucanos de som, serão sempre desejados. E a
razão para isso é simples: sua beleza inigualável.
Artigo publicado no DP, Dom 16 março de 2014
OLINDA,
SEU CARNAVAL VERDADEIRO. E O DE VÂNDALOS
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
É geral a
condenação ao vandalismo que tem surgido em meio a manifestações pacíficas da
população brasileira desde junho passado, e em jogos de futebol no estado e
outras partes do Brasil. As cenas a ele relacionadas, divulgadas pela
televisão, jornais e a Internet, causam estupor e sensação de caos. Agressões,
destruição de patrimônio, atos violentos, de fato, criam um rastro de
assustadora deterioração social. Em parte, pode-se até entender o que acontece,
sobretudo pela péssima qualidade da educação e formação cívica no país. Mas
entristece perceber como uma situação de caos vai tomando corpo. Pois bem, isso
se dá com destruição física escancarada. Vidraças quebradas, carros queimados,
pessoas feridas e até assassinadas ficam como registro desse vandalismo, documentado
na hora. Sua expressão é palpável.
Sensação
parecida experimentaram os olindenses que têm raízes na cidade, cujo carnaval
sempre foi motivo de enorme alegria, em face de comportamentos lamentáveis de
invasores que trouxeram destruição à festa deste ano. Ora, Olinda se
caracteriza – tal como o Recife antes que o desastrado prefeito Augusto Lucena
(imposto em 1964) destruísse o bairro de São José – por uma folia democrática,
popular, de mescla humana na rua (que é do povo). Os invasores de 2014, que já
vêm tomando fôlego há algum tempo, inventaram um carnaval de casas-camarote
totalmente alheio à tradição, aos valores, à identidade olindense.
Especialmente, porque seu motivo é o lucro monetário, uma coisa que não está
presente na história das agremiações que dão a Olinda sua beleza de dança,
música e alegria na rua. Para ganhar dinheiro, os promotores de casas-camarote
criam guetos, cercados, currais. A eles pessoas são levadas em vans exclusivas.
Ou em carros com passes de livre trânsito, conseguidos sabe Deus como.
Privilégio abominável. Nos guetos veem shows
que destoam completamente dos ritmos da cidade. E a música medíocre (lixo) que
produzem se espalha para além das fronteiras dos espaços em questão. Uma
agressão a quem gostaria de estar curtindo frevo, o som da cidade.
Ora, o que se
pratica desse modo é puro vandalismo. O frevo, como se sabe, é, por ato da
Unesco de 2012, “Patrimônio Imaterial da Humanidade”. No instante em que, no
carnaval, que é a hora mais apropriada do frevo, se faz algo que contribui para
matá-lo, o que ocorre é vandalismo do naipe do de hooligans e black blocs.
Não estou exagerando. Durante o carnaval que passou, todas – insisto: todas – as pessoas de Olinda com quem
conversei (e eu passo o carnaval na rua dançando, cantando e confraternizando;
não em guetos) estavam revoltadas com as casas-camarote e os gestores
municipais que as aprovam. A mesma sensação foi a de um grupo qualificado de 14
pessoas de Minas Gerais, hospedadas na Casa de Olinda, de que sou vizinho. Elas
estavam enojadas com a folia invasora de empresários malditos que querem ganhar
dinheiro acabando com aquilo que lhes permite vender o carnaval de Olinda: seu
frevo, sua autenticidade, diversidade de cores, singularidade. Que mercadores
insensíveis vandalizem o frevo até se pode entender. Mas que os gestores
municipais acobertem e aceitem isso é razão para que não se fique perplexo
quando black blocs pró-Olinda
tradicional despertarem.
Artigo publicado no DP, Dom 16 fevereiro de 2014
OLINDA
AGONIZANTE
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
A expectativa do
carnaval em Olinda a faz agonizar. Seria bom que não fosse assim. Até porque o
carnaval é ainda uma festa ímpar da cidade. E que consegue sobreviver, apesar
dos descasos e crueldades dos que têm responsabilidade municipal sobre ela.
Acontece que o carnaval vem se somar a males que afligem Olinda todos os dias
do ano. Sujeira, barulho, urina nas calçadas, vendedores com equipamentos feios
de ver (cadê o “progresso” de que se alardeia?), pessoas deseducadas que querem
deixar os carros, se possível, dentro dos recintos que vão freqüentar, etc.
Isso tem feito moradores debandarem dos endereços que tinham ali. A rua do
Amparo, muito agradável como testemunho histórico e cultural, exibe 19 casas
para alugar. E está ocupada por um excesso de bares ruidosos (clandestinos?),
cujos frequentadores atravancam as ruas. A conhecida, e simpática, Bodega de Véio atrai um número absurdo
de clientes. Que, sem ter onde ficar, aboletam-se no calçamento, nos passeios.
Fazem-no com a emissão de decibéis acima de qualquer nível civilizado. (Um
parêntesis, só para contrastar: na Suíça, é proibido dar descarga no banheiro,
em edifícios de apartamentos, depois de 22h). Para não fazer barulho. No caso
da Amparo, sem infra-estrutura adequada para as necessidades fisiológicas,
urina-se na rua mesmo. Triste. Na minha rua, que não é de concentração de gente
(há poucos imóveis, todos com áreas grandes), de um total de 14 casas, 7 estão
desocupadas. Quem tem dinheiro não compra uma aqui; quem gostaria de comprar,
por amor ao que Olinda significa, dispõe de recursos insuficientes.
Tem-se a
sensação de que estão matando a cidade. Chega a ser surpreendente que a Unesco
ainda mantenha o título que Olinda conquistou em 1983, de Patrimônio Mundial.
Nessa época, a cidade vinha de um período de administrações mais cuidadosas.
Germano Coelho, eleito em 1976, melhorou muito o carnaval em 1977. Em 1978, os
moradores se uniram e, mesmo sem o respaldo oficial da prefeitura, expulsaram
os carros da Cidade Alta durante o carnaval. Fizeram mais: assumiram todo o
ônus de limitar o acesso a veículos de residentes devidamente cadastrados. Esse
foi um esforço heróico, pois os moradores tiveram que fazer o trabalho de
fiscais e de polícia de trânsito. Saíram-se tão bem que a prefeitura, em 1979,
assumiu – até hoje – tal responsabilidade. Luciana Santos, em 2001, também
contribuiu para um carnaval mais olindense. Conquistas suas se mantêm; o zelo,
porém, é outro.
Este ano, a
cidade está sendo invadida por empresas e gente de show que não têm qualquer compromisso com o perfil tradicional
dela. Vêm aqui só para raspar o pote de lucros. Instalam-se. Conseguem, sabe-se
lá como, “passe livre” para um número exorbitante de carros. E fazem barulho.
Acham pouco. Impõem sons alheios à cultura olindense. Tudo isso não faz
qualquer sentido no longo prazo, pois vai ser o fim da galinha dos ovos de
ouro. O charme de Olinda se desfará. Ela virará uma cidade qualquer, de perfil
vulgar, medíocre – como tantas que se desfiguram no país, seguindo um modelo
que produziu resultados diabólicos na China e vai causando estragos na Ásia. Olinda
não pode agonizar. Moradores, à luta!
Artigo publicado no DP, Dom 2 fevereiro de 2014
DESIGUALDADES,
ROLEZINHO, CORRUPÇÃO, VANDALISMO
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Uma sociedade
conformista como a brasileira se assusta quando a população resolve protestar
de verdade. Penso que seja por isso que os chamados “rolezinhos” causem tanto
pavor. Na verdade, eles vieram associados a tumultos, furtos, agressões,
delitos cometidos por alguns participantes. Mas a enorme maioria dos que
integram essa onda é de pessoas pacatas, inconformadas, de justa forma, com as
desigualdades aberrantes existentes no país. Julgo mesmo que, dada a dimensão
das disparidades de condições de vida de que somos testemunhas, os protestos
que ocorrem são até comedidos. Quando se fala de black blocs violentos, causadores de vandalismo, seria bom que os
cidadãos que se julgam bem comportados pensassem no vandalismo da corrupção.
Ela resulta de práticas nojentas toleradas como parte da relação dos políticos
com o bem público. Práticas de vândalos do colarinho branco.
E não é só isso.
Há práticas, entre os que detêm poder e os que os bajulam, que, se não
configuram corrupção declarada, representam uma contribuição para a apropriação
do que pertence à coletividade. Veja-se o caso dos camarotes no carnaval. Que
necessidade existe para justificá-los? É por que alguns integrantes de nossa
sociedade foram escolhidos para desfrutar do máximo conforto, a fim de não
passar por aperto, calor excessivo, súbita fome ou ânsia incontrolável de
bebericar um uísque de 12 anos? Claro que não é por isso. É porque o povão tem
que ficar torrando no asfalto e servir de divertimento para aqueles que sorriem
o tempo todo por saber que seus privilégios os colocam em ambientes de conforto
abusivo.
O dia em que a
sociedade desperta, faz cobranças e reage com fúria, logo os que se beneficiam
da disparidade social gritam, chamam a polícia e até as forças armadas. Isso
não faz sentido. Quando reivindica educação – Educação de qualidade, é óbvio –,
o que a população dos que protestam querem dizer é que, se a sociedade for
educada de verdade, nem os ricos aceitarão ser tão escandalosamente ricos, nem
os pobres a condição de mendigos de programas tipo Bolsa Família. Quando se
reivindica saúde, é o acesso de todas as pessoas que se pede a um direito coletivo,
concedido de graça em países como o Japão, a Alemanha, a Espanha, o Butão (um
país pobre). Não é o quadro de consultas de 5 minutos depois de horas ou dias
numa fila, como acontece hoje com muita gente. Saúde digna é TODOS poderem
recorrer ao Hospital Sírio-Libanês. No Butão, quando não há tratamento para
problemas no serviço médico nacional, o paciente é enviado a outro país, com
todas as despesas custeadas pelo governo, a fim de receber o tratamento que seu
caso requer. Isso é no Butão; não na Suécia.
Antes que os
rolezinhos virem rolezões, está na
hora de um empenho sério, em todas as esferas da sociedade, no sentido de se
ter no Brasil um mínimo de decência na administração pública. E um padrão
mínimo – à la Fifa – de se
proporcionar saúde, educação, transportes públicos, moradias dignas, empregos
decentes, cultura autêntica a toda pessoa que, a qualquer momento, por não
receber o que lhe é devido, possa engrossar a onda de “vândalos”, de multidões
inconformadas com o indecente e intolerável padrão de desigualdade do Brasil.
Artigo publicado no DP, Dom 19 janeiro de 2014
OLINDA
ATORMENTADA
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Entristece
constatar como os encantos de Olinda, seu charme de cidade histórica e bem
dotada de cenário natural, não conseguem sensibilizar aqueles que dela deveriam
cuidar. Todo ano, depois do réveillon,
os domingos da cidade são motivo de tormento para os que vivem no sítio
histórico. O espaço é invadido por pessoas que não têm a mínima noção do valor
do patrimônio que nele se contém. Não chegam para apreciar as belezas
arquitetônicas que ainda restam, nem para caminhar nas ruas estreitas e cheias
de surpresas dali. Vêm com o intuito de fazer barulho, de sujar as vias
públicas de todo tipo de lixo, inclusive os resultantes do metabolismo humano;
de beber e consumir droga. A prefeitura da cidade, que a isso deveria se opor
de forma categórica, faz alarde nas redes sociais do que considera uma atração
do turismo olindense – as “prévias” do carnaval. Faz alarde e convoca a todos
para vir desfrutar da cidade.
No último fim de
semana, mais uma vez, a situação extrapolou o que já era intolerável. Galeras
se prevaleceram das facilidades existentes para penetrar no sítio histórico e
realizaram todo tipo de barbaridade. Uma amiga, Rejane Ferreira, que mora perto
de mim, chegando por volta de 18h ao Carmo, foi aconselhada por um guarda
municipal a mudar de rumo. Ninguém conseguia controlar a violência que no local
se instalara. Pessoas corriam na rua. Um ônibus, ocupado por uma gangue, parou
nas proximidades. Motorista e cobrador desceram. Não seguiriam viagem com a
turma violenta que nele entrara e arrebentava porta, bancos, vidros.
Tem sido assim
há anos. No sábado, o centro histórico já amanhece com barracas miseráveis
armadas para a venda de bebida e comida. É um cenário desolador de mediocridade:
a completa negação da formosura que turistas buscam no mundo inteiro. Quem, de
fato, é atraído pela feiura de Lagos (na Nigéria), onde já estive (e fui
roubado), preferindo-a aos atrativos de Praga ou Veneza? O ano de 2014, com a
Copa do Mundo, trará muita gente de fora para o Recife. Que terão essas pessoas
para fazer entre um jogo e outro? Que atrações procurarão ver? O que temos para
oferecer-lhes? Olinda possui tudo para seduzir quem a visita. No entanto,
malbarata o que Gilberto Freyre tão bem ressalta em seu guia de 1939 sobre a
cidade: sua originalidade.
Vulgariza-se. Vira um trapo urbano qualquer.
Recentemente, minha filha,
Claudinha (que mora em São Paulo há 20 anos), e eu vínhamos com seu marido,
Eduardo, no carro. Ele quis saber, observando a sujeira que se acumula por ruas
arrebentadas, de calçadas precárias, como comparávamos isso com a cena de 30
anos atrás. Nossa opinião: era melhor antes. De fato, Olinda era visitada por
pessoas que vinham admirar suas belezas. Na época, havia uma orquestra
sinfônica juvenil, regida pelo grande maestro Geraldo Menucci, que causou a
melhor impressão, por exemplo, a um amigo meu, David Goodman, britânico, que
representava a Fundação Ford no Brasil. Cadê a orquestra? Cadê o adro do
convento franciscano, que se transformou numa ruína? Cadê o respeito ao silêncio?
O admirável artista Gilvan Samico, meu saudoso amigo, falecido há quase 2
meses, se sentia torturado pelo barulho dos “maracatus” repetitivos e monótonos
que batucavam perto de sua casa. Esse tormento é de todos os olindenses.
Agravado por hordas incivis que ocupam a cidade aos domingos, sob a vista
complacente e estulta dos poderes municipais.
Artigo publicado no DP, Dom 5 janeiro de 2014
DEIXANDO
A FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Começo o ano em
situação inusitada. Sem atividade fixa. No dia 31 de dezembro último, terminou
meu mandato de chefe da Coordenação-Geral de Estudos Ambientais e da Amazônia
(CGEA), parte integrante da Diretoria de Pesquisas Sociais (Dipes) da Fundação
Joaquim Nabuco (FJN). É bem verdade que continuo dando aula (de Meio Ambiente e
Sociedade) no Centro de Ciências Biológicas da UFPE. Porém, como professor
voluntário, aposentado pela compulsória em 2010. Assim, vejo-me excluído do rol
de quem labuta diariamente como membro da força de trabalho. Ainda que possa
exercer diversas atividades por conta própria, o fato é que não tenho mais
compromisso profissional com uma instituição. E isso é novo para mim, desde que,
depois da pós-graduação, comecei a trabalhar em 1965.
Minha ligação
com a FJN começou em 1966. Fui levado a seu predecessor, o Instituto Joaquim
Nabuco de Pesquisas Sociais (IJNPS), por Mauro Mota que, por indicação de
Roberto Cavalcanti de Albuquerque, grande economista pernambucano, me procurou
para elaborar relatório de pesquisa para a Sudene (sobre o mercado de pescado
do Grande Recife). Produzi esse trabalho. Logo em seguida, Mauro, por quem passei
a ter grande admiração, convidou-me para escrever novo relatório de pesquisa.
Era, para o DNOCS, um diagnóstico socioeconômico do Vale do Moxotó, trabalho
que chamei outro grande economista pernambucano, Dirceu Pessoa (1937-1987),
para dividir comigo. Tanto este quanto o relatório anterior transformaram-se em
livros. Ao longo de quase 47 anos – com intervalo de 2 (1970-1972), quando
fiquei em dedicação exclusiva na UFPE –, pude acompanhar a evolução e
consolidação do IJNPS-FJN (não gosto da sigla Fundaj, imposta pelo governo
militar em 1980 contra a que nós propúnhamos). Foi um progresso firme que se
deve tanto a Mauro Mota – poeta grande e pesquisador consistente – quanto a
Fernando Freyre, que conheci em 1959 no Rio, um gestor de enormes qualidades.
Fernando, ademais, sendo filho de Gilberto Freyre, criador da FJN, sabia
em que terreno deveria pisar. Ele levou adiante a visão paterna, a mesma que
assimilei em conversas e na convivência quase diária de duas décadas com o
genial sociólogo pernambucano. Gilberto Freyre sublinhava a necessidade de se
ter no Nordeste uma instituição dedicada à pesquisa social. Expôs isso
inumeráveis vezes. Justificou seu projeto de lei de criação do IJNPS em 1949 à
base de tal exigência. E os argumentos que usava continuam completamente
válidos hoje – talvez até com mais vigor. Por isso, ao deixar a instituição com
que tanto me envolvi, preocupa-me que não corresponda mais ao que imaginava seu
criador. Eu próprio, tendo dirigido de 1980 a 2003 o Instituto de Pesquisas
Sociais (Inpso) da FJN, como seu primeiro superintendente, fui levado a
mergulhar nas idéias freyrianas e a procurar ser fiel a elas. Fernando
incumbiu-me de, dentro da nova estrutura da Fundação, que sucedia a de
repartição tradicional do IJNPS, não perder de vista a razão de ser do projeto
de 1949. Nunca discordei dele. Pelo contrário. Como pesquisador social, hostil
que era a Gilberto Freyre em 1966, pude entender o caráter visionário de sua
proposta. Ele sempre me ouviu (chamava-me para conversarmos) e me fez seu
aliado pelo argumento inteligente. Essa é a força histórica da FJN. Não pode
ser ignorada
Artigo publicado no DP, Dom 22 dezembro de 2013
“É
BOM DORMIR EM COLCHÃO”
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Vivi experiência
incomum no domingo passado (15.12.13). A 4,5 km de minha propriedade, no brejo
de Gravatá, conheci uma família na miséria mais extrema que se possa imaginar.
Fui levado lá, com Vera, por uma vizinha, pequena produtora de flores, nascida
e criada por perto. Ela me havia falado da situação dessas pessoas há duas
semanas. Uma mulher, abandonada pelo marido, passava enormes necessidades ao
lado de uma prole de oito crianças. A mais velha, com idade de 13 anos; a
caçula, nascida há um mês. Vilma já tinha se mobilizado para socorrer a mulher e
os filhos. Comprara comida. Levara. A mulher e ela choraram quando o socorro
foi entregue. As crianças quiseram logo comer o que veio preparado. Momento de
tristeza, espanto e perplexidade. Chegando eu ali, agradou-me o ambiente da
moradia. Muitas árvores, mata, água e, de longe, a casinha não assustava. Fomos
recebidos pelo irmão da mulher, que a visita aos sábados para levar comida.
Fica até as segundas, quando retorna a seu trabalho “na cana”, em plantação da
Zona da Mata. Admirou-me, ao ver seu porte franzino, saber ser ele canavieiro.
Ele nos conduziu à casa, carregando uma cesta que levamos com ingredientes
básicos. Levamos também roupa e um colchão de casal.
Na casa,
conhecemos a mãe e a bebezinha, que dormia em berço supreendentemente limpo.
Aparência agradável, saudável, dessa menina, que só mama. A mãe se apresentou e
aos filhos. O interior do domicílio choca pela evidência da miséria extrema que
oferece. Em um quarto, uma cama de casal com colchão e o berço. No outro, nova
cama de casal, sem colchão, com panos dobrados e pedaços de esteira sobre o
estrado. Troços pelo chão, roupas penduradas. A casa, de paredes e chão de
barro, coberta de telhas, possui cozinha, onde num rústico fogão de barro e pernas
de madeira, duas panelas de alumínio cozinhavam o almoço. Há ainda uma sala com
cadeiras de plástico, um depósito e um corredor. Ausência de eletricidade,
embora um contador de luz acuse que ela já possuiu o recurso. Saneamento, água
corrente? Esqueçam.
De que vive um domicílio
assim? Bolsa Família: 300 reais por mês, referentes a cinco meninos na escola
(aliás, as crianças são simpáticas, esguias e de aparência linda). Isso
corresponde a 0,51 dólares por pessoa, por dia (excluindo o irmão canavieiro).
O mínimo dos mínimos para demarcar a miséria no mundo é uma renda em dinheiro
de 1,25 dólar por pessoa, por dia. D. Selma e seus filhos encantadores dispõem
de 41% desse mínimo. Dá para acreditar no triunfalismo medíocre do governo
federal, aplaudido pelo neoliberalismo da The
Economist (que considera o BF um sucesso; em todo o mundo os neoliberais
aplaudem programas de transferência de renda), que proclama levianamente estar
tirando o povo da miséria? Do mesmo modo que a família que conheci, certamente,
há milhões no Brasil. No caso, apesar dos sinais de extrema exclusão,
sobressaiu para mim um traço de dignidade do grupo. Que não imagina o
desperdício, a opulência, o desvario consumista do supérfluo, o hedonismo
exorbitante dos ricos e poderosos do Brasil. Uma situação que se exacerba nesta
época de Natal. Minha amiga do lugar visitou a família na segunda passada,
16.12.13. As crianças pulavam sobre o novo colchão. Alegres, felizes. Uma
exclamou: “É bom dormir em colchão”. Para mim, miseráveis são os opulentos!
Artigo publicado no DP, Dom 8 dezembro de 2013
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Nos EUA, o tradicional
feriado, de origem religiosa, do Dia de Ação de Graças (Thanksgiving Day), sempre a quarta quinta-feira de novembro, para
muita gente é o mais importante do ano. Nas universidades, escolas, órgãos
governamentais e muitos negócios, suspende-se o trabalho da sexta seguinte. Um
feriadão que vem de longe e totalmente previsível por começar numa quinta.
Aproveitando uma suposta ociosidade da população na folga, há mais de 50 anos,
os varejistas descobriram um jeito de aumentar suas vendas. Na verdade, como o
Natal fica perto, era comum, depois do Thanksgiving,
muita gente ir às compras aproveitando a parada. Daí, o batismo de “Sexta-Feira
Negra” para a ocasião. O termo negro viria das disputas da multidão pelas
pechinchas. Ou devido ao fato de que as lojas saíam do vermelho (prejuízo)
passando para o preto do lucro. De qualquer forma, os EUA são normalmente um
país de consumo frenético. Abrem-se as lojas em todos os dias do ano. Algumas
nem fecham, exceto em datas básicas (Natal, por exemplo). Diferente da Europa,
onde uma Sexta-Feira Negra tem poucas possibilidades de vingar.
Infelizmente,
esse não é o caso do Brasil, como se pôde ver recentemente. Pior: a data aqui,
criada praticamente por uma ação de marketing
em 2013, não se chama de “Sexta-Feira Negra”. Prefere-se o original, “Black Friday”. Não haveria mal nisso se
nossa população usasse frequentemente o inglês. Acontece que mesmo muitos
brasileiros cultos não conseguem se exprimir nesse idioma tão importante da
vida moderna. Aliás, muitas pessoas até falam um português que fere os
tímpanos. E aqui não estou me referindo aos quase dialetos dos “e apoi”, “prumode” e “nós vai”, da
“língua errada, língua certa do povo”, de Manuel Bandeira, que a mim muito agrada.
Trata-se de comunicação em ambientes refinados, revelando um nível infeliz de
educação que permeia o ensino da língua nacional. Pois bem, nas alturas do dia
28 de novembro último, o que se viu no Brasil foi um delírio de propaganda
chamando a atenção para promoções ocas e tentando criar uma artificial febre de
compras no varejo no país. Fez-se isso com chamadas insistentes para uma
misteriosa “Black Friday”. As pessoas
até aprenderam a pronunciar o nome inglês do dia, de tanto ouvi-lo repetido nos
meios de comunicação.
Não há
necessidade dessa macaqueação idiota. Aliás, sem sentido, porque aqui o Thanksgiving Day (sic) não é feriado, muito menos a sexta que o segue. A população
brasileira, antes de consumir, tem que saber por que consumir. É para ter
coisas, empanturrar-se de bugigangas? Ou é para levar uma vida feliz, com mais
convivência fraterna, mais ações de graças efetivas, mais tempo para a boa
música e a dança, para práticas esportivas, para se ficar junto das pessoas
amadas? Inventa-se um motivo copiado às pressas de outro país para induzir os
consumidores não a exercitar sua cidadania, sua escolha pensada, consciente,
mas para aumentar a submissão asinina da população à orientação para um consumo
desvairado, sem conteúdo crítico. Não caiamos em mais uma sinistra armadilha da
mania nacional de macaquear (com pedido de perdão aos símios).
Artigo publicado no DP, Dom 24 novembro de 2013
ATRASO
DESOLADOR
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Foi em 2008 que
o primeiro trem bala (trem de grande velocidade, ou TGV, na França, onde surgiu
em 1976) foi inaugurado na China. Une Beijing ao porto de Tianjin, perto.
Apesar desse enorme atraso histórico, os TGV chineses (lá chamados de gaotie) se estendem hoje por 10.000 km, que
é mais do que toda a malha de TGV da Europa. Enganando os céticos da
empreitada, quando esta foi proposta, transportam atualmente 2 milhões de
pessoas por dia – mais de 700 milhões por ano! Em dezembro de 2012, foi
inaugurada a maior linha de TGV do mundo (2.400 km) ligando Beijing a Shenzhen
– uma distância quase igual à Recife-S. Paulo. Outra linha que chama a atenção
pela audácia do projeto que a sustenta, de 1.776 km, liga a cidade de Lanzhou,
na zona central do país, a Urumqi, capital da província de Xinjiang, nos
limites com a Ásia Central. A singularidade do projeto reside em se fazer a
ferrovia subir os contrafortes do plateau
tibetano, cruzando áreas de paisagem marciana – a velocidades superiores a 200
km por hora (em outras linhas, a velocidade chega a 350 km/h!). Na verdade,
como sublinha a revista The Economist
em seu número de 9 deste mês, o empreendimento dos gaotie chineses são de fazer parar a respiração: estão sempre
batendo todos os recordes.
Um dos motivos
que levou aos TGV, primeiro na França e, depois, noutros lugares, foi a
economia energética neles contida. Diminui-se a pegada ecológica das pessoas,
reduzem-se as emissões de CO2, etc. A China possui um crescimento avassalador
que não impressiona bem pelo lado ambiental. Seus custos ecológicos são
altíssimos. Entretanto, o país tem tentado diminuí-los. A opção pelo trem é um
indicador positivo a esse respeito. A situação serve de contraste para o que
acontece no Brasil. Veja-se a miserável Transnordestina. Existe, no papel, há
mais tempo do que os gaotie. E não
conseguiu completar ainda a metade da distância de Salgueiro a Suape! É um
recorde de lentidão. Esse quadro se generaliza para toda a infraestrutura do
país, completamente carente de investimentos que aliviem o sofrimento de quem
não tem saída a não ser usar nossas rodovias sucateadas. No recente feriadão de
15 de novembro, assustava ver o inferno aceso em que se transformou o programa
das pessoas que saíam para as praias paulistas. Em Pernambuco, o cenário de
estresse também se verificou – ainda que em proporções menos dantescas. E não
vale a desculpa de que faltam iniciativas no plano do governo federal. Estados
e municípios podem fazer alguma coisa, inclusive no tocante ao transporte
público. O automóvel tem que ser retirado das cidades. Deveriam ser proibidos
de circular no centro do Recife, por exemplo. Simultaneamente, seria
reconfortante ver que um sistema de trens leves (bondes) se espraiasse na
capital pernambucana, em Olinda e outras cidades, como já aconteceu entre nós.
E como se pode com satisfação encontrar em Lisboa, em Roma, em Madri, em Amsterdam,
em Estocolmo, em Zurique. Nesse ponto, nosso atraso é desolador. E fica pior
porque não se vê um esforço heroico para romper com a pasmaceira geral. A China
chegou 30 anos atrás da Europa para criar sua rede de trens bala. Em cinco,
deixou a europeia atrás. Quiseram fazer, fizeram. Quem quer fazer aqui?
Artigo publicado no DP, Dom 10 novembro de 2013
RECEITA
PARA A INFELICIDADE
Clóvis
Cavalcanti - Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Depois de entrar
em contato mais próximo, nos últimos 2 anos, com a filosofia butanesa de
desenvolvimento (o Butão é um reino budista dos Himalaias), assusta-me ver como
coisas acontecem aqui sem qualquer compromisso com a promoção do bem-estar
humano. Falo dos lugares que mais frequento, como Olinda e Gravatá. Mas não
acho que seja muito diferente do diapasão reinante. Só para lembrar: desde
1972, no Butão, por escolha consciente de seu iluminado Quarto Rei (Jigme
Singye Wanhchuck), adota-se como orientação das ações públicas a busca da
felicidade das pessoas e do bem-estar de todos os seres vivos, com uso prudente
da natureza. E isso, na experiência desse país incrível, funciona. É o que
tenho podido constatar depois de visitar o Butão, trocar idéias com gente de lá
e fazer parte de um grupo internacional que examina para a ONU o paradigma
(revolucionário e único) butanês.
No caso de Olinda,
sucedem-se fatos que dão a impressão de que, nela, se segue uma receita de
promoção da infelicidade. Sexta-feira, dia 1º de novembro, uma festa no Clube
Atlântico, no Carmo, estendeu-se até 5h do dia 2, com um som da mais lamentável
qualidade e em tom altíssimo. Ora, o local do pagode é da prefeitura, que o
aluga – e vizinho de cidadãos que moram por ali. As autoridades municipais,
assim, não fazem o menor esforço para que normas civilizadas se observem na
cidade que ainda ostenta o galardão de Patrimônio da Humanidade. Sobre isso,
vale a pena registrar o comentário de um entregador de água que é morador do
sítio histórico, no amanhecer do dia 2, em casa de uma amiga minha da rua da
Palha: “Em Olinda não mora gente?!” Descendo de minha casa para a praça no
Carmo, na mesma manhã, para a feirinha orgânica que ali se realiza aos sábados,
pude observar a montanha de lixo deixada pela festa do Atlântico. É lixo de
música, é lixo de som altíssimo, é lixo físico jogado no chão. Em termos de
sujeira nos espaços públicos – o que, é claro, reflete também a deseducação dos
habitantes e visitantes da cidade –, Olinda dá o pior exemplo possível.
E agora, para
completar, instalou-se o absurdo de um pavilhão de uns 200 m2,
recoberto de plástico resistente, no meio da praça do Carmo, onde, ao lado de
outro pavilhão no Sítio de Seu Reis, próximo, junto com estruturas menores na
área, funcionará a malfadada Fliporto. Malfadada como evento para espaço que
tem outras finalidades, não para servir a festivais literários que se desenrolam
em ambientes fechados que, além do mais, ficam implantados ali por semanas. A
Fliporto acaba no dia 17 de novembro. Sua base física, no entanto está pronta e
começou a ser montada há 4 semanas. Isso é um absurdo. Pior: financiado com
dinheiro público, com o beneplácito da prefeitura (comandada por um prefeito
absenteísta). Chega-se, desse modo, ao inacreditável feito de se destruir o bem
público com dinheiro público – para benefícios privados. Interessante é a Fliporto
ter como atração artista que aparece nos meios de comunicação por proezas não
exatamente no campo da literatura. Enfim, a festa literária não cabe no local
que escolheu arbitrariamente, no melhor estilo dos que invadem propriedade,
para ocupar. Olinda dá, assim, contribuição significativa para a receita da
infelicidade.
Artigo publicado no DP, Dom 27 outubro de 2013
MAIS,
ACERCA DE NOSSO ATRASO
Clóvis
Cavalcanti - Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
A respeitável
revista britânica semanal The Economist
publicou substancioso artigo, de 14 páginas, há um mês, com chamada de capa,
intitulado mais ou menos “O Brasil teria implodido?” Espécie de contraponto a
artigo semelhante, seu, de 4 anos atrás, “O Brasil decola”. Nele o Cristo
Redentor ilustrava a capa da revista como um foguete espacial aceso subindo de
seu pedestal. No de agora, a mesma estátua símbolo do país surge como foguete
desgovernado rodopiando para baixo. Há quem não tenha gostado da matéria
recente. Cuidadosa leitura dela, no entanto, revela que os problemas
brasileiros foram bem captados por essa publicação que tem 170 anos de notável
regularidade. E o que basicamente a revista ressalta é o potencial brasileiro
desperdiçado por iniciativas que não primam pela excelência em quase tudo que
interessa à nação. Na educação, por exemplo, que corresponde a 5% do PIB
nacional em termos de gasto (contra uma média internacional de apenas 3%), os
resultados são desestimulantes. Metade dos estudantes do ensino médio, entre
nós, não consegue entender o que se encontra em texto submetido a sua leitura.
Nas universidades brasileiras, o gasto por aluno é 5 vezes mais do que nos
outros níveis de ensino (nos países ricos a média não passa de 1,3). Pode-se
dizer que a universidade brasileira é boa? Ora, nenhuma delas figura sequer no
rol das 500 melhores do mundo.
Os dados que a
revista levanta salientam coisas assim. Mostram a precariedade de nossa
infra-estrutura, de nossos equipamentos urbanos, do transporte público. Ao
retornar de viagens ao exterior, constato – como devem fazê-lo milhares de
cidadãos do país que costumam visitar outras nações – como é triste nosso
atraso. Chegando na última quarta-feira de viagem de 8 dias a Cambridge, na
Inglaterra, com passagem em Lisboa e Londres, logo na entrada de casa, às 22h,
ouço o som de baixo nível que vem das proximidades. Som alto, acima de qualquer
nível civilizado; também, vulgar, pobre de valores estéticos. Nos dias de
Cambridge, pelo contrário, além de completo silêncio às 22h, havia cedo da
noite, perto de meu apartamento no belíssimo Trinity College, sons de sua
capela dignos de serem ouvidos – de corais ou órgãos ali se apresentando. Um
contraste assustador – retrato, sem dúvida, da cultura indigente que é
resultado natural de educação com lacunas enormes como a nossa.
Essa mesma
influência lamentável do atraso de que somos vítima afeta inclusive o
comportamento de agentes culturais que tiveram melhores oportunidades na vida,
freqüentando boas escolas, visitando o exterior com regularidade, lendo muito,
assistindo a concertos, indo a exposições de artistas ilustres, etc. Pois, de
outra forma, não entendo como um evento dito cultural como a Fliporto, que virá
para Olinda, mais uma vez, em novembro, sem consulta à população de lá, ocupe
espaços públicos, tirando-os dos moradores durante semanas. É o caso da praça
do Carmo e adjacências, tomadas há mais de 10 dias por instalações do evento
que só termina em meados de novembro. Por que o encontro cultural não se muda
para o Parque (parque?!) D. Lindu, para o Centro de Convenções, para o
destruído (pelo Cirque du Soleil, há 4 anos) Memorial Arcoverde? Uma invasão
assim não aconteceria em Cambridge, terra da inteligência e de respeito ao bem
público.
Artigo publicado no DP, Dom 13 outubro de 2013
QUANDO
A INTERNET SOME
Clóvis
Cavalcanti - Economista ecológico e
pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Há duas semanas,
na Fundação Joaquim Nabuco, se experimenta uma vida bastante diferente. Estamos
sem o site (ou página na web) e sem o servidor de correio
eletrônico da instituição, algo que não se consegue imaginar como parte da
rotina da vida moderna. Ainda mais, numa instituição de pesquisa, com projetos
que se comunicam em tempo real com o mundo inteiro. É meu caso, como membro que
sou de um grupo de trabalho de peritos internacionais que prepara, a pedido da
ONU, um estudo acerca do modelo singular de desenvolvimento humano do Reino do
Butão. Fiquei perdido com a grave pane que atinge o sistema de comunicação
eletrônica da Fundação desde o dia 28 de setembro último. Uso endereços
alternativos de que disponho para enviar mensagens, e não obtenho retorno (as
pessoas devem preferir meu endereço institucional). Isso acontece igualmente
com pessoas diversas que se comunicam comigo através do meu e-mail de trabalho e não percebem sinal
de vida meu. Foi o que se verificou com Fátima Quintas, presidente da Academia
Pernambucana de Letras. Uma mensagem dela para mim retornou, mas só uma semana
depois de enviada. Dessa forma, a comunicação assume ares do século XIX.
A experiência
vivida agora está sendo triste e assustadora. Entristece porque nos sentimos
marginalizados dos processos que ocorrem em nosso campo de trabalho – o da
ciência social (ainda que a FJN só tenha a pesquisa, hoje, como um
compartimento a mais de seu amplo rol de atribuições). Assusta porque se
evidencia, pelo menos no tocante à gestão dos recursos de informática na
instituição, uma fragilidade que põe em risco atividades que requerem perícia e
um uso confiável das novas tecnologias. Por sua vez, isso ocorre apenas alguns
meses depois que se passaram semanas com o site
da Fundação fora do ar, submetido a completa reformulação que o tornaria mais
ágil. O episódio causou muito mal-estar. Digamos que o site haja melhorado. No entanto, o que ocorre agora – sem
explicações convincentes dos responsáveis – constitui evidência de descuido de
gestão. Fico imaginando se algo semelhante se passaria sem traumas no Ipea, no
IBGE, no Banco Mundial, na Universidade Federal de Viçosa, na Receita Federal,
no CBPF, na Universidade de Coimbra, neste Diario.
Eu, pessoalmente, não conheço caso análogo. Pesquisei sobre isso na Internet.
Falei com pessoas de vários locais sobre o assunto. Descobri que, em agosto
último, houve enorme pane no Sudão – mas foi ato terrorista e se solucionou em
menos de 24 horas!
Na Fundação
Joaquim Nabuco, notícia alguma é veiculada sobre o desastre que sua pane
significa – uma calamidade, deveras. Pedido de desculpa dos responsáveis? Nenhum. É como se tanto servisse trabalhar
com Internet quanto não. Até 2003, contava-se ali com equipes eficientes, à
frente um grande conhecedor da tecnologia, Delano de Valença Lins, profissional
de grande valor humano, prematuramente falecido em março do mesmo ano. Se
Delano ao menos pudesse interceder por nós...
Artigo publicado no DP, Dom 29 setembro de 2013
PROKOFIEV
Clóvis
Cavalcanti -
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Meu neto Mateus, de 8 anos, que mora
em Cambridge (Inglaterra), estuda violino. Maria, sua irmã, também, há 5 anos.
Mateus começou há 3. Passou 2, porém, sem frequentar as aulas. Acaba de voltar
a elas. Na presença da mãe, minha nora Juliana, foi entrevistado pela
professora há poucos dias. Entre outras coisas, ela perguntou se ele tem um
compositor preferido. Tem. Qual? Prokofiev – sim, o ucraniano Serguei Prokofiev
(1891-1953). Apesar de ser um dos compositores mais famosos do século XX,
certamente não é um nome popular como Mozart, Beethoven ou J.S. Bach.
Surpreende, pois, que uma criança tão nova já o considere merecedor de sua
preferência. Isso, com certeza, se deve à boa educação que se oferece na Grã
Bretanha, a qual valoriza a inteligência e o gosto apurado. A ideia me vem à
baila diante da tirania de compositores e músicas medíocres, vulgares e
ofensivas ao intelecto a que somos submetidos na área do Fortim do Queijo, em
Olinda, onde moro (e em muitos outros lugares). São audições berrantes, de
bares na orla, que passam a noite inteira martirizando a população sob o
beneplácito dos poderes municipais – ausentes aí como em muitas outras coisas
de Olinda. Meu irmão Cláudio, que mora em São Paulo e se hospeda atualmente em minha casa,
contou que não conseguiu dormir na noite de 21 para 22 deste mês. Até 5h, teve
que aturar o som miserável emitido por pessoas que nunca ouviram falar em
Prokofiev – nem querem.
Isso se dá numa cidade rica em
cultura e que sedia eventos como o Movimento (ex-Mostra) Internacional de
Música em Olinda (Mimo). No qual, concertos de ótima qualidade, inclusive de
música popular, são executados de forma sóbria – como deve ser em ambientes
educados. Audições de música se sucedem durante o Mimo no convento de São
Francisco, junto de minha casa. Nesta, contudo, não escutamos nada do que se
passa dentro da igreja. O silêncio, na verdade, é predicado de uma sociedade
civilizada, culta, desenvolvida. Barulho de qualquer espécie, musical também,
constitui evidência de atraso. Uma perturbação na vida das pessoas obrigadas a
contragosto a escutá-lo. A propósito, em seu número de 7.9.13, a respeitável
revista The Economist lembra que os
gregos da colônia de Sibáris já tinham decretado que, assim como os galos,
ferreiros e oleiros tinham que morar fora da cidade por causa da zoada que
faziam – uma zoada que não virava a noite, diga-se. Segundo membros da
Sociedade para Abatimento do Barulho, fundada nos EUA em 1959, um ambiente
silencioso é necessário para conduzir as pessoas à plena realização de seu
potencial intelectual e criativo. Isso tem respaldo em relatórios da
Organização Mundial de Saúde, como o de 2011, que mostram o mal de sons
emitidos sem respeito ao direito humano ao silêncio. E há empresas no mundo,
inclusive, segundo a The Economist,
que buscam desenvolver produtos ou processos que minimizem sons altos. Diz ela:
“Pouco ruído faz sentido econômico porque barulho elevado é comumente sinal de
desperdício e ineficiência”. Bom, isso é para gente e lugares que compreendem
que música é para se apreciar em tom decente. O mesmo tom decente que leva meu
neto Mateus a indicar Prokofiev como seu compositor preferido. O avô se rejubila.
Artigo publicado no DP, Dom 15 setembro de 2013
Olinda não merece seus gestores
Clóvis Cavalcanti - Economista
ecológico e pesquisador social
Sempre
que visito outros lugares, olho-os com o intuito de tirar lições que possam
servir para as cidades onde passo o maior tempo de minha vida – Olinda e o
Recife. No mês de agosto, estive em Irkutsk (Sibéria) e falei aqui no Diario do
que encontrei por lá. Perto do 7 de Setembro, viajei ao Rio e a Nova Friburgo,
duas cidades com que estabeleci fortes laços na década de 1950, internado que
fui em colégio na última delas. Aproveito também minhas caminhadas matinais
(até janeiro de 2012, eram corridas) para observar os ambientes. Pois bem, fico
deprimido quando volto para a minha cidade de escolha. É incrível como Olinda
se deteriora em vários sentidos – apesar de abrigar eventos como a Mimo, há
pouco ali realizada. Nova Friburgo foi arrasada em janeiro de 2011, devido a uma
tromba d’água monumental que lá despencou durante horas seguidas. Cerca de mil
pessoas morreram. Casas e até prédios, infra-estrutura, obras de urbanização
sofreram danos gigantescos.
Pois bem, apesar do roubo escandaloso de dinheiro público de socorro, que houve
por lá – como denunciam os friburguenses –, é possível ver agora, no lugar dos
escombros, uma cidade totalmente reconstruída. E uma cidade limpa, de calçadas
cuidadas, praças bonitas, calçamento sem buracos. A igrejinha de Santo Antônio,
na praça do Suspiro, de que só escapara a fachada, foi reposta de forma
esplendorosa. Faz gosto ver.
A diferença para Olinda é gritante. O pior é que obras recentes, caras, se
deterioram rapidamente, sem que tivesse havido qualquer arremedo de inclemência
da natureza na cidade. Por exemplo, o calçadão da área do Fortim, que data de
2010, expõe um piso de placas de pedra que tendem a se desmanchar. Na praça do
Carmo, um calçamento que havia lá há décadas foi removido e substituído por
outro mais irregular, com trechos de passagem para pedestres, mais elevados,
cujas pedras se soltam periodicamente, ficando buracos que, quando a coisa se
agrava, são preenchidos, alguns não mais com pedras semelhantes às de antes. É
tudo amadorista – para dizer o mínimo. Parece que os gestores da cidade não
possuem qualquer orientação técnica para o que fazem. A desgraça que causaram
há uns 8 anos no adro do convento franciscano mais antigo do Brasil,
deformando-o e deixando no lugar do antigo pátio uma deformação, perigosa até
quando chove para ali se caminhar na rampa ruim que inventaram, é algo
inconcebível.
A limpeza que se vê em Nova Friburgo – e no Rio, pelo menos no Flamengo, na
Glória, no Catete – contrasta horrivelmente com a imundice de Olinda (uma
cidade que fede). Nas proximidades do hospital Tricentenário, há sempre
montanhas de sujeira, uma coisa feia, triste, lamentável – e perigosa para a
saúde. O bairro do Amaro Branco exibe uma visão do descaso público de um sítio
que é Patrimônio da Humanidade (instituído pela Unesco em 1983). A beleza de
Olinda, o charme de seus monumentos arquitetônicos que resistem à desídia, a
energia da população que quer bem à cidade – e fazem coisas como o Hotel 7
Colinas, o restaurante Maison do Bonfim, a Casa de Olinda, uma galeria-hospedaria-ponto
de encontro colada a minha casa – mostram que essa cidade ímpar não merece os gestores
que dela se apoderaram.
Artigo publicado no DP, Dom 1 setembro de 2013
POR UM BRASIL BONITO, GENTIL E AMOROSO
Clóvis Cavalcanti - Economista ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Há 95 anos, o Clube Lenhadores,
da Mustardinha, realiza uma festa anual denominada Matinê Branca. A 96ª versão
do evento aconteceu no dia 25 de agosto último. Compareci a ela com Vera, meu
filho Cacá e nora Sílvia. Foi a segunda vez que tive o enorme prazer de
participar do tradicional baile – que é nisso em que consiste a ocasião. Que
baile, diga-se! Começa pela exigência, totalmente legítima, do traje. Para
homens: terno branco, camisa social de mangas compridas e meias brancas,
gravata borboleta, sapatos e cinturão pretos. Das mulheres exige-se: vestido
branco, de comprimento abaixo do joelho, sapatos e bolsa pretos. Todas as
pessoas que lá se encontravam, vestiam-se assim. Não adianta querer quebrar
algum item do regulamento. O infrator não é aceito. Um casal de membros do
clube, na entrada, olha a indumentária dos convidados e, aprovando-a, permite
seu ingresso. O resultado é que a festa fica bonita, civilizada, decente. Segue
normas que só a fazem enriquecer-se.
Ela principia às 13h, com música mecânica. Às 14h, começa a tocar (foi assim
igualmente em 2012) a orquestra do Maestro Memeu. De saída, frevo rasgado, que
sacode a multidão (umas 300 pessoas, domingo passado, na minha avaliação.
Número adequado). Dez minutos depois, ritmos românticos, com “New York, New
York” de partida. Boleros, rumbas, sambas se sucedem. Apesar da hora e do ambiente
fechado, calor não é um problema de que se possa reclamar. Ventiladores
discretos amenizam o clima, dispensando ar-condicionado. Dança-se muito e não
se fica suado O assoalho, de madeira polida, do salão, facilita os movimentos.
Não há como não aproveitar tanta combinação precisa de elementos favoráveis a
um baile de categoria. E dá gosto ver todo aquele público elegante, sem
exageros, sem afetação, sem presunção, sem ninguém metido a besta. A atmosfera
que transparece é de pura felicidade, sem bêbados, sem pessoas inconvenientes,
sem excesso de som, as conversas fluindo tranquilamente em tom normal de voz –
muito ao contrário do que acontece em tantos lugares supostamente elegantes, de
elite, em que é impossível escutar o que alguém diz a você e vice-versa durante
encontros com fundo musical (na verdade, fundo de zoada).
Olhando toda a beleza da Matinê Branca, cujo público – dado interessante – é
majoritariamente de pessoas negras, meu deslumbre teve um desfecho. Estava ali
o que poderia chamar de “Brasil bonito, gentil e amoroso”. Ou seja, exatamente
aquilo que nós queremos de uma pátria: a existência de possibilidades para se
viver bem, em alegria, em clima de afeto e de respeito às normas civilizadas.
Uma lição – dada por um clube sem a fama de tantas agremiações de
privilegiados. Lição de cultivo de valores que só trazem alegria, bem-estar,
satisfação pela convivência gentil entre estranhos. No meio de boa música – de
música de verdade, não de sons irritantes, executados em níveis insuportáveis,
com letras de extremo mau-gosto. Para completar, a Matinê Branca ainda tem uma
valsa, bailada com entusiasmo pelos presentes. Ela se encerra com a
inconfundível beleza do frevo pernambucano. Que maravilhoso exemplo de
exaltação dos melhores e mais autênticos valores da sociedade brasileira!
Artigo publicado no DP, Dom 19 agosto de 2013
LIÇÕES
DE IRKUTSK
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Na semana de 4-8 de agosto, estive
em Irkutsk, na Sibéria. Fui ao congresso de 2013 da Sociedade Russa de Economia
Ecológica, de cujo comitê científico fiz parte. A viagem me proporcionou
experiência extraordinária. Basta dizer que o fuso horário de lá se acha 12
horas à frente do nosso. De Moscou a Irkutsk, a distância é quase a mesma do
Recife a Lisboa. Trata-se de um mundo distinto, sem nada que lembre o Nordeste,
Pernambuco, o Recife, Olinda. Na região se encontra o belo lago Baikal, que
possui um volume de água doce mais de 50 por cento maior do que o de toda a
Amazônia. Nele, nasce o rio Angará, enorme, robusto, que banha Irkutsk. Embora
haja poluição por ali, nada se vê no rio que sugira imundice. Pelo contrário, suas
águas são agradáveis de contemplar, sem papéis, plásticos, pneus, latas e
outros destroços boiando. Coisa digna de nota é que as margens do grande rio
são protegidas, com jardins, calçadões, parques, áreas de lazer, grades
graciosas. Só a uns 300m da água é que se estendem vias de circulação, depois
das quais vão surgir construções (de baixo gabarito). Nada semelhante aos
absurdos recifenses, como o da incrível privatização da beira do Capibaribe em parte
da cidade e hoje, especialmente, junto do açude de Apipucos. Ali, a prefeitura
do Recife construiu um parque que não valoriza nosso poético rio (dá-lhe as
costas) e permitiu que se erga conjunto de vários arranha-céus entre a avenida
e o curso d’água. Triste, cruel, lamentável. Aberração de tal jaez não se
testemunha em Irkutsk.
Essa cidade russa, de 650 mil
habitantes (por onde passa a famosa e lendária Ferrovia Transiberiana), aliás,
mostra muitas outras coisas que servem de enorme contraste com relação à
realidade pernambucana (lembro que a Rússia e o Brasil possuem o mesmo nível de
renda por habitante). Por exemplo, Irkutsk tem muitos parques verdadeiros: nada
que se assemelhe à estranha concepção de parque do D. Lindu ou do já referido
de Apipucos. As calçadas de lá são todas bem cuidadas, sem buracos, amplas, de
boa confecção. Vi meios-fios feitos com pedras de alta qualidade. Tudo também
muito limpo. Ah, que diferença de Olinda, uma cidade emporcalhada, de pavimento
em frangalhos, de calçadas inimigas do bem-estar humano! E o transporte público
do burgo siberiano inclui bondes, ônibus elétricos, ônibus diesel, trens e
barcos – todos em abundância. Sem contar o automóvel. Resultado: trânsito que
flui, eficiente, bom. Depois de alguns dias na Suíça, Holanda ou Alemanha, é
natural que um recifense ou olindense perceba como aqui se possui pior
qualidade de vida urbana. Mas verificar tão fortes diferenças com respeito a
uma cidade perdida na Sibéria, próxima da Mongólia, causa choque. Fui para lá
com uma expectativa desfavorável – que, em parte, se confirmou quando, no
aeroporto, precisei resolver um problema de extravio de bagagem e ninguém que
importasse, no caso, falava inglês. Mas uma russa jovem que esperava alguém e
que falava inglês me ajudou de bom grado. Até me levou ao táxi e indicou ao
motorista para que hotel eu ia. Disse-me quanto eu deveria pagar, que foi o que
paguei de fato. Bom, isso tem a ver com o nível da educação, ciência e
tecnologia do país, algo realmente admirável. Estamos longe disso.
Artigo publicado no DP, Dom 4 agosto de 2013
No início deste ano, dois distinguidos biólogos
da Universidade de Stanford, EUA, Paul e Anne Ehrlich, publicaram artigo
preocupante na revista da Real Sociedade da Grã-Bretanha (a SBPC de lá),
disponível em http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2012.2845,
sob o título: “Um colapso da civilização global pode ser evitado?”. Segundo
eles, depois de mostrarem o destino infausto de civilizações localizadas como a
da Ilha de Páscoa e a Maia Clássica, pela primeira vez, é toda a civilização
planetária (interconectada, altamente tecnológica) em que estamos inseridos que
se vê ameaçada de colapso. Sobretudo, por um elenco de problemas ambientais,
que eles desfiam. Segundo os autores, a humanidade se acha afundada naquilo que
o príncipe Charles descreveu como “um ato de suicídio em grande escala”, e que
o principal conselheiro de ciência do governo do Reino Unido, John Beddington,
chamou de “perfeita tempestade” de problemas ecológicos. Mas não são apenas
problemas relativos à mãe Natureza que avultam. Na verdade, eles nem são
exclusivamente ambientais: são socioambientais, pois só existem onde há
presença humana. Nenhuma outra espécie causa traumas em larga escala que o
sistema ecológico não solucione com facilidade. A Homo sapiens se destaca por
cavar buracos, alguns irreversíveis, no ecossistema e não parar de nele
depositar montanhas de lixo, uma parte da qual não há como ser reciclada. O
acúmulo de tais perturbações ameaça a vida na Terra, afirmam os dois
cientistas.
Pois bem, o Brasil não foge à regra. Mas aqui, a questão cresce de relevo porque
a sociedade se vê infelicitada pela incapacidade de conquistar uma qualidade de
vida digna de alegria e que não se veja ameaçada de desfazimento. Por toda
parte, é visível que a infraestrutura nacional se desmonta. Não há mais
transporte confiável no país. Além de os trens – que existem como alternativa
em toda parte – terem desaparecido tragicamente, o mesmo aconteceu com o
transporte marítimo de pessoas e, fora da Amazônia, fluvial. Quem pode andar
ainda de gaiola no rio São Francisco, ou ir de barco em linha regular do Recife
a Itamaracá, a Cabedelo, a Natal? Além de ter viajado muito de trem e tomado
bonde em todo o Brasil, fui de navio, quando adolescente, duas vezes, do Recife
ao Rio de Janeiro. De trem, fui de São Paulo a Corumbá, do Rio a Belo Horizonte,
de Nova Friburgo a Campos, do Recife a Gravatá. De bonde, ia ao Maracanã em
dias de jogos (era uma tranquilidade). Hoje, nada disso é
possível. A alternativa do carro, por sua vez, virou uma angústia. Na sexta-feira,
dia 26, de Olinda à Cidade Universitária (19 km), levei 1h10. Precisava chegar antes das
10h; só o fiz às 10h15, seguindo por Dois Irmãos e Várzea. Na BR-101, o
trânsito, como acontece muito, era uma desgraça. Todos nós vimos o inferno em
que virou o Rio de Janeiro nos dias da bela Jornada Mundial da Juventude, com
uma presença simpática do papa Francisco. E no país se testemunha a reação
insana, muitas vezes, nas ruas, de pessoas bastante inconformadas com a
realidade. Como será nos próximos meses? Há solução clara que se esteja contemplando
para mudar tudo isso, já? Tristemente, cresce o temor de que nós estamos
entrando em um beco que se afunila. Esse é o prenúncio de colapso iminente.
Grande, monumental esforço é necessário para evitá-lo. Tomara que o jeito
humano, caloroso e cheio de afeto do papa Francisco contribua para ele.
Artigo publicado no DP, Dom 21 julho de 2013
UMA ANTÍTESE DO
BRASIL
Clóvis Cavalcanti - Economista ecológico
e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Já relatei aqui em outros instantes,
meu envolvimento numa atividade assaz gratificante: figurar em grupo de
trabalho constituído de alguns nomes muito ilustres da pesquisa social no mundo
que elabora para o governo do Butão relatório a ser apresentado à ONU para se
tentar difundir globalmente a proposta butanesa de novo paradigma de
desenvolvimento. O Butão, desde 1972, por escolha de seu Quarto Rei, então com
17 anos, adotou um caminho para a prosperidade que visa não o crescimento da
economia (ou do PIB), mas a promoção da felicidade do povo e o bem-estar de
todas as formas de vida. A opção feita, que nunca foi retórica, mas efetiva, levou
esse país a uma situação, hoje, que é motivo de admiração para todos que se
debruçam sobre ela. De fato, visando alcançar a felicidade com uso prudente da
natureza e respeito às tradições e cultura nacionais, o Reino do Butão
(budista) atingiu um quadro que oferece enorme contraste com os dois gigantes –
China e Índia – com que faz fronteira. E com nações como o Brasil, a Rússia, a
África do Sul, o México, os EUA, o Egito.
Nele, saúde e educação, além de
gratuitas, possuem apreciável qualidade. Quase todas as crianças em idade
escolar (99%) estão na escola. A esperança de vida da população dobrou nas
últimas duas décadas. Não há índices elevados de violência no país e a pobreza
extrema foi quase zerada. O status da
mulher sobressai de forma eloquente diante da situação que se vê, por exemplo,
na Índia, Paquistão e mesmo China. É proibida a propaganda de refrigerantes e
de comida que não seja saudável, além da de bebidas alcoólicas. De cigarro, não
é permitida a venda (o consumo, sim). Não há outdoors ali nem barulho de alto-falantes nas ruas. Ninguém usa som
em nível elevado. As pessoas falam baixo, são amáveis, mostram civilidade na
forma de agir. Percebe-se isso no hotel, no aeroporto, nas lojas, nos táxis, na
zona rural, no trânsito (não há um único semáforo no país inteiro). Espera-se
que, até 2020, toda a agricultura butanesa seja cem por cento orgânica – para
benefício tanto das pessoas quanto dos seres sencientes da natureza que sofrem
com os venenos das práticas “modernas”.
Em 1972, a monarquia desse Reino
simpático – onde passei dez dias no começo de 2013, com Vera – era do tipo
absoluto. Não agradava ao rei que propôs a felicidade (ao invés de PACs) como
primeira prioridade nacional. Contra a vontade da população, que queria que
continuasse do jeito que era, o monarca conseguiu promover a monarquia
constitucional, adotada finalmente em 2008, com nova Constituição, que entrega
o governo a um primeiro-ministro eleito. Pouco antes de conseguir esse avanço
na direção da democracia, o Quarto Rei, em 2006, com 52 anos, renunciou. Passou
a coroa ao filho de sua terceira esposa (poligamia e poliandria são permitidas
no Butão. O ex-rei tem 4 mulheres). O novo rei tem 33 anos (tive a oportunidade
de conhecê-lo, e à rainha, de 23 anos, com meus colegas de grupo de trabalho). O
pai alegou que estava na hora de se aposentar. Hoje leva vida sóbria, cultiva a
terra, anda incógnito de bicicleta. Nem ele nem o filho moram em palácios
luxuosos. No país, não se veem favelas, mendigos, meninos de rua. Nem palacetes
ou camarotes à la Galo da Madrugada,
Festival de Inverno de Garanhuns, São João de Caruaru. O Reino do Butão, com
sua paz, e espiritualidade notável, representa a antítese de um país tão cheio
de aberrações como o nosso.
Artigo publicado no DP, Dom 7 julho de 2013
QUANDO O CRESCIMENTO SE TORNA ANTIECONÔMICO
Clóvis Cavalcanti - Economista ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
O distinguido economista ecológico americano Herman Daly, meu amigo, que tem laços afetivos com o Brasil, há tempo fala sobre uma situação nada desejável de crescimento não econômico, ou antieconômico. Como se sabe, crescimento econômico se revela através do aumento contínuo da grandeza chamada de produto interno bruto (PIB). Daí, a enorme atenção que se dá nos meios de comunicação, nas falas dos políticos, nos programas eleitorais, no discurso dos dirigentes à taxa de expansão desse agregado. Acontece que o PIB só mostra um lado da moeda. É o dos benefícios do funcionamento da economia, a qual tem por finalidade produzir bens e serviços para satisfazer as necessidades da população. Mais PIB implicaria maior alcance da missão da economia. Só que, ao lado de benefícios, o PIB também gera custos de toda ordem (solenemente ignorados pelos que nele falam). Produzir gasolina significa extrair petróleo, que é um estoque finito guardado nas entranhas da Terra. Quando se eleva o consumo de combustível pelo uso maior de automóveis, diminui-se para sempre um recurso esgotável. No PIB só entra aquilo que é positivo da equação. Omitem-se totalmente valores da perda do estoque, além de outros custos envolvidos no uso do petróleo, como o da poluição, o das emissões de CO2, o dos estragos causados pela construção de refinarias, etc.
Na verdade, são amplos os custos de toda a atividade econômica. Por exemplo, o que Daly e seu colega John Cobb Jr. chamam de despesas defensivas, como as de limpeza de rios degradados ou de reconstrução após um desastre natural. Elas entram no cálculo do PIB com o mesmo significado da compra de alimentos ou de roupas. Outros tipos de custo: as doenças causadas por agrotóxicos ou chuva ácida, que levam a despesas desnecessárias; o tempo adicional que se perde para a mobilidade urbana com os congestionamentos, com efeitos negativos sobre o bem-estar humano e o uso mais produtivo das horas desperdiçadas; as despesas com acidentes de carro e de moto; os custos do barulho que desgraça horas de descanso de tanta gente; os custos das filas intermináveis; os custos da perda de solo fértil (que tem que ser enfrentada com fertilizantes: mais despesas). E por aí vai.
Como resultado, seguindo a lógica da microeconomia, que compara custos e receitas adicionais (ou marginais, como dizem os economistas), o crescimento só deveria ocorrer quando os novos benefícios gerados excedessem os novos custos correspondentes. Pelas próprias leis de funcionamento do sistema econômico, sabe-se que a tendência desses ganhos adicionais é de declinar e a dos custos extras, de subir. Chega um momento em que os dois se igualam. A partir daí, mais PIB vai significar menos benefícios que custos. Tem sentido continuar elevando-o? A população não faz contabilidade do fenômeno em questão (se nem os economistas o fazem!). Mas todo mundo percebe que não se pode viver com cada vez menos tempo para gozar a vida – e usando o pouco lazer para consumo frenético e endividamento correspondente. Um dia, a realidade fica evidente (o Brasil hoje). Não dá para viver em paz quando o crescimento se tornou antieconômico e quem tem responsabilidade (todos os partidos) só faz endeusar o PIB.
Artigo publicado no DP, Dom 23 junho de 2013
A SOCIEDADE TEM
QUE PROTESTAR
Clóvis Cavalcanti - Economista ecológico
e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Há duas semanas, no Diario, escrevi sobre a ilusão do PIB.
Não é uma descoberta minha. Celso Furtado (1920-2004), por exemplo, em 1974, no
importante livro de que ninguém gosta de falar, O Mito do Desenvolvimento Econômico (isso mesmo: o desenvolvimento
como mito), chama o PIB de “vaca sagrada dos economistas”. Furtado, economista
respeitado e admirado, um dos maiores que o Brasil já conheceu, sabia do que
estava falando. Todavia, o assunto PIB se converteu numa espécie de evangelho
dos políticos, dos meios de comunicação, dos empresários, dos adoradores enfim
dessa “vaca sagrada”. O que o PIB esconde, no caso brasileiro, porém, é uma realidade
de ineficiência, injustiças e procedimentos inumanos.
Todo mundo sabe que perder tempo no
trânsito, a um ritmo cada vez maior, é uma via
crucis que vai tornando nossa vida um
inferno. O que significa perder tempo? É perder vida, pois tempo não é
dinheiro, como pensam os adoradores do PIB, mas o recurso mais básico de nossa
existência. Ficar preso no trânsito ou em filas absurdas – como a dos bares da
abominável Arena de Pernambuco – significa não estar lendo, não estar
participando de uma boa conversa, não estar curtindo a família, não estar
vivendo. Muitos alunos meus residentes em Olinda, por exemplo, levam, pelo
menos, duas horas para chegar à Cidade Universitária. Minha auxiliar
administrativa na Fundação Joaquim Nabuco, gasta 2 horas e 40 minutos do Janga
a Apipucos. São mais de 5 horas por dia numa atividade que nada acrescenta à
vida dela. Todos nessa situação deixam de contribuir para a vida social. Ficam
engessados, digamos 4-5 horas por dia, 20-25 horas por semana, 80-100 horas por
mês, 960-1.200 horas por ano. Quanto desperdício de recursos! É uma adição
óbvia à ineficiência. O tempo de 1.200 horas, equivalente a 50 dias, não usado
para fins úteis (como mais tempo de leitura), corresponde a uma perda de
capacidade produtiva. Essa é uma medida do custo de oportunidade (conceito dos
economistas) da vida que não foi bem aproveitada. Pura ineficiência, que se
soma a muitas outras no país: infra-estrutura horrorosa; ausência de transporte
ferroviário; telefonia precária; urbanização incômoda.
Ao mesmo tempo, tudo isso acontece
de forma enviesada. Os poderosos, os privilegiados, os abonados de sempre
conseguem criar espaços que lhes aumentam o conforto de que já desfrutam. No
Recife, hoje, dois fatos ilustram bem isso, a meu ver. Um é a captura feita do
Cais José Estelita pelo projeto que ali se implanta de um condomínio de
ricaços. O outro é algo semelhante nas margens do Capibaribe, em Apipucos, onde
se constroem prédios de luxo cuja concepção ofende a percepção de que beira de
rio é para uso de todos: um bem comum. Com isso, os excluídos vêem aumentar sua
exclusão. Eles são lançados nas periferias imundas, desurbanizadas, sem
serviços dignos de nossas cidades. O caráter desumano que se percebe aí é mais
um elemento para que se compreenda o mal-estar que a população consciente de
sua cidadania não quer mais admitir. Ela se levanta e tem razão em adotar o slogan “Acorda, Brasil”. Que equivale à
rejeição de propostas vazias como a do “Espetáculo do Crescimento”.
Artigo publicado no DP, Dom 9 junho de 2013
ILUSÕES
DO PIB
Clóvis
Cavalcanti - Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
O PIB brasileiro tem sido objeto de
muitos comentários recentes. Na verdade, ele é sempre motivo de considerações
quando se fala da economia de qualquer lugar, especialmente com relação ao tema
do desenvolvimento. Mas o que é mesmo o PIB – ou produto interno bruto, seu
nome real? Na televisão, os apresentadores de noticiários costumam defini-lo
como “a soma de todas as riquezas produzidas no país”. A mesma coisa
transparece nos jornais, no discurso dos políticos, nas manifestações de
autoridades. E a população acaba acreditando numa falácia. Sim. O PIB não soma
riquezas obtidas no processo econômico. Ele contabiliza o valor dos bens e
serviços de uso final (no consumo, no investimento, no setor público) que saem
da máquina econômica e passam pelo mercado, virando lixo algum dia. Do PIB, omite-se
completamente tudo aquilo que não é visto pelo mercado. Por exemplo, o trabalho
doméstico das donas-de-casa. O das empregadas, ao contrário, se considera. Mas
o pior é que custos para a sociedade do processo econômico nem de longe entram nos
cálculos. A extração de petróleo, que representa perda de um ativo (a jazida
que vai se esgotar), é vista apenas pelo acréscimo que proporciona através do
consumo de derivados. Pior ainda, um acidente rodoviário, de trágicas
consequências, eleva o valor do PIB. Ou seja, na versão dominante, constitui
riqueza!
E todo
mundo espera, e quer, que o PIB se eleve sempre, de um ano para outro, no ritmo
mais acelerado possível. Só que aumentar de 10% o PIB, quando ele é de 500
bilhões de reais significa um acréscimo absoluto de 50 bilhões; quando é de 4
trilhões de reais, a elevação passa para 400 bilhões. Ora, 50 bilhões correspondem
a uma combinação física de bens e serviços finais muito menor do que uma no
valor de 400 bilhões. São menos artefatos de todo tipo que se produzem. Ao se
elevar o nível do PIB, mais recursos têm que ser extraídos, mais infraestrutura
deve ser usada – e se ela for insuficiente? –, mais dejetos são lançados de
volta à natureza, de onde, inexoravelmente, procedem todos os recursos de que a
economia depende. Da água, ao nitrogênio do solo; do peixe do mar ao minério do
subsolo. Quando se usam recursos não renováveis, fica um buraco no chão, que não
cessa nunca de crescer, eterno. Do mesmo modo, coisas que não se reciclam –
poeira, fumaça, energia dissipada, sucata de baterias, etc. –, empilham-se,
formando bolo eterno, o qual, à medida que segue a produção, não para de inchar.
Essas parcelas negativas que saem do processo econômico – entropia, para usar
uma aproximação do problema, da Física – nem de longe passam na cabeça de quem
imagina o PIB como “soma das riquezas”.
Além
desses graves equívocos conceituais, o problema é que se criou a expectativa de
que o PIB deve crescer sempre em ritmo elevado. Se não for assim, não se tem
progresso. Ora, a visão que a isso corresponde é de uma estreiteza lamentável.
Se progresso se entende como elevação efetiva do bem-estar humano, muita coisa
pode ser tentada – como a redistribuição da renda e da riqueza, entre outras –
para que, com PIB menos exuberante, se alcancem níveis de felicidade que, de
fato, signifiquem a promoção da arte da vida para o máximo de pessoas.
Artigo publicado no DP, Dom 27 de maio de 2013
A MODESTA
“CORRIDA AOS BANCOS” DO BOLSA FAMÍLIA
Clóvis
Cavalcanti - Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Uma das
coisas mais temíveis da realidade econômica é quando a situação se deteriora de
tal forma na economia que as pessoas, não confiando mais nas autoridades,
partem para sacar, todas, simultaneamente, seus saldos bancários. Trata-se da
chamada corrida aos bancos, de que houve ameaça no Brasil em janeiro de 1999,
devido a um boato de que o real seria brutalmente desvalorizado. Minha cunhada
Vilma Guimarães de Mendonça, respeitada ginecologista do Recife, me ligou
apreensiva para que eu opinasse sobre o fato. Era um momento de férias meu.
Estava meio desinformado. Mas de imediato, sem consultar nada, ninguém, afirmei
que aquilo não ocorreria. Apesar da conjuntura insegura da ocasião, não se
justificava que o Banco Central, em são julgamento, adotasse medida tão
drástica. Era tudo boato mesmo. A corrida aos bancos significa um salve-se quem
puder sem saída suave. O sistema bancário não possui reservas para honrar a
entrega do dinheiro de todos os seus depositantes de uma vez. Na verdade,
apenas 10% do que pertence ao público encontra-se nos cofres dos bancos em dado
momento. Na Grã-Bretanha, um boato, com fundamento, da insolvência do banco de
clientes de alta renda, Northern Rock, levou em setembro de 2007, a uma corrida
a ele – prenúncio da crise financeira que se arrasta até hoje. A confusão
culminou com o governo assumindo a dívida do estabelecimento e decretando sua
falência. Coube aos contribuintes pagar o que o banco devia. É o preço que envolve
o temido “risco sistêmico”.
No fim de semana passado, algo parecido, em
escala reduzidíssima, teve lugar com respeito aos beneficiários do Bolsa
Família. Houve uma corrida para saque do benefício antes da data de pagamento,
logo resolvida pela Caixa Econômica Federal. Que não teve problema algum para a
entrega do numerário, tão insignificante ele era. Absolutamente nada da
magnitude do episódio do Northern Rock britânico. Se isso é motivo de alívio, é
também de apreensão. Pois como é que a situação socioeconômica de uma multidão
de brasileiros ainda os faz vassalos de um sistema de caridade pública, que
deveria ser apenas emergencial? A gente humilde que foi pegar seus trocados (um
benefício mensal que
varia de R$ 70 até R$ 306) vê neles sua salvação. Para mim, causa indignação
que tantos brasileiros precisem dessas quantias para prover sua subsistência.
Até quando durará tal programa? Eternamente? Tem data para terminar? Em face do
clamor envolvido na “corrida à Caixa”, não se pode nem admitir que um fim para
o esquema seja aventado. A presidente Dilma Rousseff esbravejou quanto aos
autores do boato que provocou a revoada de miseráveis atrás de seu dinheirinho.
Estava certa. Estaria mais ainda, porém, se estipulasse que, por exemplo, no
mês de maio de 2014, véspera da Copa do Mundo, por desnecessidade, o Bolsa
Família seria extinto. Ou que isso iria ocorrer no dia 31.12.2015. Sabemos que
não há possibilidade alguma de que isso aconteça quando há, como informa o IBGE,
45% de domicílios no Brasil sem saneamento básico. Ditoso o dia em que nossa
corrida a banco for do tipo da do Northern Rock.
Artigo publicado no DP, Sab. 10 de maio de 2013
A HORA DA
BICICLETA NO RECIFE
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Das mais
auspiciosas, sem dúvida, a iniciativa do prefeito Geraldo Júlio, do Recife, de
criar condições para que as pessoas se desloquem de bicicleta na cidade. Além
de merecer aplausos, serve para aferir, nesse particular, a mediocridade das
gestões dos prefeitos anteriores, especialmente João da Costa. Nenhum deles fez
qualquer esforço de vulto para aliviar o sofrimento dos que não dispõem de
automóvel ou dos que, dispondo, prefeririam pedalar ou usar o serviço público
de transporte. O pranteado vereador comunista Byron Sarinho (1942-2002), meu
amigo, conseguiu aprovar lei municipal, em 1990, prevendo implantação de
infraestrutura física através de ciclovias, sistema de sinalização, segurança,
estacionamento exclusivo para bicicletas e conscientização da população para o
uso dela como meio de transporte no Recife. A lei nunca saiu do papel. Quando
assumiu a Secretaria de Meio Ambiente do estado, em 2011, Sérgio Xavier
procurou João da Costa para propor parceria visando ao desenvolvimento do uso
das bicicletas. Não houve eco na prefeitura.
Ganhei minha primeira bicicleta, uma
Raleigh britânica, de sólida estrutura, ao completar 11 anos (em 1951). Usei-a
durante toda minha adolescência, mas só nas férias, na usina Frei Caneca (município
de Maraial), onde meus pais moravam. Com ela, fazia grandes percursos e andava
até dentro de canavial. Eu estudava em Nova Friburgo (RJ), que era uma cidade
conhecida exatamente pela popularidade, ali, da bicicleta. Vivendo em
internato, não precisava de transporte. Mas, com colegas, alugava esse veículo
para passeios nos domingos, sempre que possível. Andei de bicicleta em Olinda
até maio de 2004, quando um ônibus me derrubou, machucando-me. Fora do Brasil,
porém, valho-me dela com frequência em países como Inglaterra, Suécia, Holanda,
Alemanha, Suíça, Itália. É uma delícia pedalar nessas terras civilizadas, onde
há espaço seguro e macio para os ciclistas, onde não se correm ameaças, onde se
ganha tempo.
Tremendo contraste com o que ocorre
aqui, onde tudo conspira contra os afoitos usuários, exceto aqueles que
desfrutam de ciclovias protegidas por policiamento especial – nos fins de
semana e em áreas de classe média, geralmente. Isso, inclusive, compromete
muito a promoção do ciclismo por Geraldo Júlio. Pois quem precisa da bicicleta,
mesmo, no Recife não é a elite, mas o povão – no dia-a-dia. A bicicleta virou
também oportunidade de exibição de poder aquisitivo. As pessoas se esmeram em
vestir trajes de participantes da famosa Tour
de France. Usam capacetes de marca, sapatos idem. Ora, eu já vi autoridades pedalando em Amsterdam e Gotemburgo
de terno e gravata; vovós conduzindo netinhos com roupas domésticas em
Oldenburg (Alemanha); professores renomados de Oxford e Cambridge com seus
jalecos de pesquisadores. É preciso tanta parafernália para os recifenses se
servir de algo tão ecológico – e que sempre foi motivo de propostas de adoção
do Partido Verde? Adoção por toda a sociedade, entenda-se, nos dias úteis e de
descanso, sem distinções de classe e privilégio. Mas isso já é pedir que nos
civilizemos! Faço fé que dê.
Artigo publicado no DP, Dom. 28 de abril de 2013
O
EXTERMÍNIO DE ÍNDIOS NO BRASIL
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Notícia
recente, saída no Diario do domingo
21.4, me causou enorme comoção. Ela fala que foi encontrado documento, dado
como perdido há 4,5 décadas, que relata massacres e torturas de indígenas no
interior do país. Sou ligado a questões dos habitantes originários do Brasil.
Leio bastante sobre eles, inclusive já tendo pesquisado elementos de sua vida
material a fim de examinar em que medida podemos encontrar demonstrações de uma
vida ecologicamente sustentável dos nossos nativos (há muita coisa, na
verdade). Tais leituras me fazem ficar preocupado em face do nível de
ignorância da sociedade acerca do universo dos índios – um universo que causou
enorme admiração, por exemplo, a Pero Vaz de Caminha, revelada em sua famosa
carta de 1500 ao rei de Portugal. Ora, se alguém que já leu tanto sobre índios
se surpreende com um documento novo sobre essa população, que dizer das pessoas
desinformadas que tanto a difamam? A
tendência delas pode ser não acreditar na história.
O
material ora descoberto, conhecido como Relatório Figueiredo, diz a notícia,
apurou matanças de tribos inteiras, torturas e toda sorte de crueldades
praticadas contra indígenas no país – principalmente por latifundiários e
funcionários do extinto SPI, cujo nome, Serviço
de Proteção ao Índio, se revela de dolorosa ironia. O relatório teria
desaparecido em incêndio no Ministério da Agricultura, em 1968. Milagrosamente,
foi recuperado há pouco no Museu do Índio, no Rio. Tem mais de 7 mil páginas e
29 tomos (eram 30 no original). Uma das inúmeras passagens brutais do texto
divulgado conta sobre um instrumento de tortura apontado como o mais comum nos
postos do SPI à época. Chamava-se “tronco”. Consistia na trituração dos
tornozelos das vítimas, através de duas estacas, cujas extremidades, ligadas
por roldanas, eram aproximadas lenta e continuamente.
A
investigação que levou ao documento foi feita em 1967, na ditadura, a pedido do
ministro do Interior, Albuquerque Lima, tendo como base comissões parlamentares
de inquérito de 1962 e 1963 e denúncias posteriores de deputados. Consistiu em
uma expedição, chefiada pelo procurador Jader de Figueiredo Correia, que
percorreu mais de 16 mil quilômetros, entrevistou dezenas de agentes do SPI e
visitou mais de 130 postos indígenas. Evidências de caçadas humanas com
metralhadoras e dinamites, a partir de aviões, são contadas. Do mesmo modo, o
relatório indica inoculações propositais de varíola em povoados isolados e
doações aos índios de açúcar misturado a estricnina. Jader de Figueiredo e sua
equipe constataram muitos crimes mais, e propuseram investigação. Nada
aconteceu. Em dezembro de 1968, com o AI-5, as liberdades foram cerceadas.
Sumiu o relatório. Salvou-se a pele de quem tinha culpa em cartório. Figueiredo,
ameaçado de represálias, morreu num estranho acidente de ônibus em 1977. E o
extermínio dos índios, que dura desde 1500, não pôde se tornar mais conhecido.
Artigo publicado no DP, Dom. 14 de abril de 2013
DESENVOLVIMENTO E SOFRIMENTO EM PERNAMBUCO
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social;
clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
A realidade do que se convencionou chamar de
desenvolvimento econômico produz turbulências humanas e ecológicas que assustam.
É como explica o cientista social suíço Gilbert Rist, professor em Genebra: “O
‘desenvolvimento’ consiste em uma série de práticas...que requerem – para
reprodução da sociedade – transformação e destruição tanto do meio ambiente quanto
de relações sociais. Seu propósito é aumentar a produção de mercadorias”. Tal
ponto é reforçado pelo que proclamou um grupo de destacados pensadores,
reunidos em Barcelona em março de 2010: “Uma elite internacional e uma ‘classe
média global’ estão causando sofrimento ao meio ambiente através do consumo
conspícuo e apropriação excessiva de recursos humanos e sociais”, com padrões
de vida cuja imitação leva “a mais ruína ambiental e social...num círculo
vicioso de busca de status através da
acumulação de possessões materiais”.
O progresso material sem fim, como se busca, tende
a ser excludente. Não extingue a miséria. E causa dor a pessoas marginalizadas
e à ecologia. É óbvio que impactos ambientais de nossas ações sempre haverá. No
entanto, o que clama é a forma desprovida de anteparos éticos com que se
exploram os recursos insubstituíveis da mãe Terra. Pior: fazer isso e provocar
ainda tormentos infindáveis a pessoas desprivilegiadas e indefesas da
sociedade. Exatamente o que se vê hoje em Pernambuco, sobretudo em Suape e no
novo pólo de Goiana. No dia 5 deste mês, a propósito, Nivete Azevedo, militante
do Centro das Mulheres do Cabo, enviou desesperada mensagem de e-mail (que me chegou) sobre uma ação de
despejo que se realizava naquele instante no sítio de um morador de Massangana,
Sr. Cláudio Manoel. De maneira violenta e sem maior amparo legal, prepostos da
Empresa Suape submetiam o sitiante e familiares a vexames e humilhações. Houve
reação imediata de uma advogada da comunidade, que recorreu ao Tribunal de
Justiça de Pernambuco, obtendo do desembargador Gabriel de Oliveira
Cavalcanti, no dia 8, a
intimação da Suape para que a ação fosse suspensa.
Situação
parecida, que tem sido acompanhada de perto por pesquisadores da Fundação
Joaquim Nabuco – pagos pela sociedade para ajudá-la a conceber como alcançar
prosperidade genuína –, é observada no sítio de instalação da Fiat em Goiana.
Realiza-se ali, neste momento, uma intervenção de vulto. Suas características
levam a impactos sobre o regime hídrico e os
ecossistemas da bacia fluvial local, em particular sobre estuários e manguezais.
Consequentemente, sobre a atividade pesqueira e a vida dos pescadores dali.
Tudo isso não foi previamente avaliado como ocorreria, antes da obra. Ora, o projeto
se implanta em área de influência de uma Unidade de Conservação de Uso
Sustentável (no caso, uma Resex, ou Reserva Extrativista), que, por lei,
deveria ter sido consultada ainda no início do processo de licenciamento das
obras. Tudo é feito às pressas, sem transparência, sem participação da
sociedade. Ignora-se que ali há uma comunidade – como em Suape – que está
sofrendo como se sua existência, invisível que é, não tivesse nenhum valor para
seus componentes. Triste desenvolvimento.
Artigo publicado no DP, Dom. 31 de março de 2013
DESIGUALDADE
INFINITA
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico
e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Recentemente, foi lançado em Pernambuco, o Fórum
Permanente de Discussões sobre o Complexo de Suape. À sua frente, a militante
do movimento feminino do Cabo Nivete Azevedo e o professor da UFPE Hélio Scalambrini.
Trata-se de iniciativa que ajuda a preencher o vazio na iniciativa do governo
estadual, que já tem 4 décadas, de discussão com as partes interessadas (stakeholders) acerca da obra. Sobre
isso, em abril de 1975, liderei um grupo de cientistas pernambucanos –
Vasconcelos Sobrinho, Nelson Chaves, José Antonio Gonsalves de Mello, Renato
Carneiro Campos (tio do governador Eduardo Campos), Renato Duarte e Roberto
Martins – que contestava o projeto e pedia que ele fosse discutido. Expusemos
isso em documento publicado num dia por semanário da época, o Jornal da Cidade e, no dia seguinte,
pelos demais jornais recifenses. Nunca a sugestão foi ouvida. O resultado é
visível.
Como diz, com razão, documento do novo fórum, a
intervenção estatal em Suape “tem sido caracterizada pela violência na retirada
das famílias moradoras sem que indenizações justas sejam pagas, e nem novas
moradias disponibilizadas, levando estes moradores a se tornarem sem teto, e
famílias a viverem precariamente nas cidades localizadas em torno do Complexo”.
Essa é uma situação cuja dimensão de calamidade só se percebe conversando com
pessoas que passam pelo calvário em que se transformou para elas a truculência
do Estado em face de cidadãos ordeiros. Mais incrível é a facilidade com que se
martiriza gente humilde, esmagando-a com artifícios jurídicos para que abandone
suas casas, seus meios de vida, sua história, seu pertencimento a um território
muitas vezes ancestral. É incisivo sobre o tema, o documento do Fórum
Permanente de Suape: “Sem dúvida, para a manutenção de padrões sociais
dominantes desde o período colonial, os poderes constituídos (executivo,
legislativo e judiciário) fecham os olhos para a violação dos direitos destas
populações invisíveis à sociedade”.
A mesma realidade foi constatada pela ONG Both ENDS,
incumbida pelo governo dos Países Baixos, de onde procede, de averiguar a (ir)responsabilidade
social de uma empresa holandesa, a Van Oord, que faz dragagem no porto desde
1995 e que recebe apoio do governo holandês para isso. Fui procurado pelo
experiente antropólogo ambiental da Both ENDS Wiert Wiertsema em agosto de 2012
para falar sobre Suape. Disse-lhe que fosse ver com seus olhos o que estava
acontecendo; que conversasse com gente de lá. Ele ficou alarmado com a situação
(ver http://www.bothends.org/uploaded_files/document/130222_Report_Suape.pdf).
Falou com pessoas demolidas na sua integridade, como o agricultor Luís Abílio,
de Tiriri, um estóico trabalhador de 87 anos, expulso de casa por integrantes
da aterradora Tropa de Choque. Infelizmente, essa dureza insana é jogada contra
pessoas desprotegidas. Ao mesmo tempo, a elite se diverte construindo, como em
Apipucos, um edifício na beira do Capibaribe, contra todo bom senso e a
necessidade de proteção às margens de rios. É uma desigualdade infinita.
Artigo publicado no DP, Sab. 16 de março de 2013
SERVIÇOS PÚBLICOS
PRIVATIZADOS QUE PIORAM
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico
e pesquisador social
Em julho de 2001, escrevi aqui no
DIARIO sobre problemas que estávamos tendo na Fundação Joaquim Nabuco com o
suprimento de eletricidade. Eram freqüentes os apagões, e sua solução,
demorada. Atribuí isso a descaso de uma empresa boa, privatizada algum tempo
antes, com histórico de serviços melhores. Minhas críticas foram
tratadas pela Celpe de modo gentil. De lá me telefonou o então diretor Reide
Barros, solicitando uma conversa sobre a empresa e seus planos. Tivemos a
conversa; diminuíram as panes do sistema elétrico. Na ocasião, eu estava de
volta de uma viagem à Espanha, em cujos jornais lera sobre maus serviços da
Iberdola (dona da Celpe) e da Endesa, a última das quais estava sendo obrigada
pelo governo das Ilhas Baleares a pagar R$ 2 milhões, apreços de hoje, como
multa por um apagão ocorrido em junho de 2000. Algo parecido sucede atualmente
no serviço de suprimento de eletricidade em Pernambuco – sem multas.
Na
zona rural, o fenômeno se multiplica de forma que incomoda cada vez mais. Sinto
isso como proprietário de terra em Gravatá. É comum ficarmos vários dias sem luz
(como na semana passada). Experimentei o problema e diversos outros que não
tínhamos com a Celpe em melhores tempos no dia 2 deste mês, um sábado. Ao
meio-dia, foi embora a eletricidade. Na verdade, a luz ficou uma brasinha, mas
som, TV, bombas pararam de funcionar. Em propriedades vizinhas, a energia sumiu
por completo, como na da mãe de meu caseiro, junto. Sabendo que ia passar, como
passei, pela chateação das mensagens gravadas – algumas, idiotas – (com a Celpe
pública conversávamos pele telefone com pessoas amáveis), liguei para a Celpe
às 13h. Deram um prazo até 16h para que tudo estivesse solucionado. Nada
aconteceu. Voltei a ligar às 17h30, sempre sendo advertido de que a chamada
seria gravada. Tudo bem, que fosse. Mas que houvesse acolhida e solução da
reclamação. Para minha surpresa, o atendente notificou que o problema estava
resolvido. Uma equipe viera até o local e constatara o restabelecimento da
eletricidade. Pensei que era só em minha propriedade que faltava luz. Fui aos
vizinhos, à minha ex-empregada, a 1,5 km de minha casa. Ninguém tinha energia.
Nova chamada para a Celpe. Promessa de solução até 20h30. Escuro. Ligo às
21h30; uma voz feminina diz que o retorno da luz se daria às 21h31! Fui para a
cama às 22h. Acordei algumas vezes para verificar se tínhamos energia.
Negativo.
Às
5h45 do dia 3, domingo, ligo para a Celpe. Não consigo falar; nem às 6h30.
Nessa ocasião, perdi 20 preciosos minutos escutando as mesmas mensagens
gravadas irritantes, algumas ridículas. Mais tarde, tentando o número
08000810196, informam de lá que esse serviço não está disponível nos fins de
semana. Por si própria, assim como se fora, a luz voltou às 10h, 22 horas depois
de se ir. Situação rara? Nada disso. Trata-se de um fenômeno usual,
inaceitável, maligno, que nos coloca numa situação de ameaça de colapso. Para
isso a Celpe foi privatizada?
Artigo publicado no DP, Dom. 3 de março de 2013
RECIFE NOVO, SIM!
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico
e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
O jornalista-blogueiro e cineasta
Cloves Geraldo, no portal paulista Vermelho,
dia 15.2.13, escreveu interessante crítica do ótimo e premiado filme de Kleber
Mendonça, O Som ao Redor. Nela,
procura mostrar que as mazelas retratadas por Kleber, longe de evidenciar reflexos
do desenvolvimento socioeconômico do Brasil, “na verdade, retratam a
permanência de suas estruturas feudais”. Esse mesmo sentimento me ocorre em
relação ao abominável projeto chamado de Novo Recife. Primeiro não se trata de
um empreendimento da cidade, mas de imposição dos que querem tirar proveito
monetário das coisas agradáveis que o Recife ainda oferece. Um espaço como o
dos antigos armazéns do cais José Estelita, com os quais, quando criança, eu me
encantava passando por ali da zona sul, onde morava minha avó Iaiá, para o
centro, não pode ser desfigurado da noite para o dia sob o pretexto de que isso
gera ganhos presumíveis para o município. E a desfiguração que se propõe não é
coisa banal. Consiste em substituir o conjunto agradável formado pela enseada
do Pina, as torres de igrejas vetustas do bairro de São José e os armazéns do
cais por espigões sem graça, tão medíocres e pobres de imaginação como os que
pululam por toda parte em Pernambuco (Garanhuns, até!).
Nesse
particular, o articulado e inteligente filme de Kleber Mendonça, a pretexto de
expor a vida da classe média no bairro do Setúbal, em Boa Viagem, exibe uma
realidade assustadora de construções “modernas”. Que prazer se pode desfrutar,
de fato, quando se abre a janela nobre de um apartamento e o que se vê são
construções feias, sem imaginação, vulgares, pavorosas de todo lado? Comparo
isso com a vista fantástica de Olinda, do mar, da rua que contemplo de minha
casa. Meu conceito de felicidade inclui a beleza do lugar onde se mora. E
defende que todas as pessoas têm o direito de residir em lugares como o dos
privilegiados que podem adquirir um imóvel na Reserva do Paiva, no Poço da
Panela ou na Cidade Alta de Olinda.
Ora,
isso não é oferecido às classes subalternas de nossa sociedade. Junto do
complexo para gente rica do projeto Novo Recife – que denominação espúria! – há
comunidades que vivem miseravelmente em todo tido de habitação condenável. Por
que não proporcionar a seus habitantes, moradia decente no cais José Estelita,
em conjuntos bonitos (que não precisam das breguices dos novos ricos que só fazem
encarecer certos tipos de construção)? O sítio tem que ser para os
privilegiados de sempre, aqueles que podem escolher Boa Viagem, Casa Forte,
Graças ou Aflitos para morar, e não para os excluídos condenados fatalmente a
viver para sempre no Coque, nos Coelhos ou na Ilha de Deus? Esse dado da
realidade não passa de expressão das estruturas feudais da sociedade
pernambucana, denunciadas por Kleber e explicadas por Cloves Geraldo. São elas
que exigem mobilização da sociedade por um Recife Novo: Recife Novo, sim! De
forma alguma, algo como um projeto Novo Recife sem absoluto sentido social.
Artigo publicado no DP, Sex. 1 de fevereiro de 2013
De Thimphu, com admiração
Clóvis Cavalcanti
Desde o sábado, 26 do corrente, estou em Thimphu, capital do Reino do Butão, país do Himalaia espremido entre a China e a Índia. Vim (com Vera) para participar de reunião do grupo de peritos em que me puseram para discutir como espalhar em termos globais a proposta butanesa de substituir o PIB (produto interno bruto) pela noção de felicidade interna bruta (FIB) como objetivo do desenvolvimento. A FIB faz parte do paradigma da economia butanesa há quase 40 anos. Não é novidade, portanto. Ganhou força quando perguntaram cavilosamente, em 1982, no exterior, ao quarto rei do país acerca da força da economia butanesa e seu PIB. O rei, de sopetão, respondeu: “A felicidade (FIB) é mais importante do que o PIB”. Foi uma coisa intuitiva, no meu entender. Não o resultado de raciocínio lógico, linear.
O Butão é um país budista. A população crê que seu quarto rei (que está vivo, tem 58 anos, mas passou o trono ao filho, de 32 hoje) é uma reencarnação do Senhor da Compaixão. Ele vive modestamente, para um ex-rei, anda incógnito de bicicleta, cultiva a terra. Além disso, conseguiu convencer seus súditos de que a democracia, com um primeiro ministro eleito, é melhor do que uma monarquia absoluta tal como antes. A população o queria rei com todos os poderes. Não foi fácil mudar a opinião do povo. Uma constituição foi aprovada em 2006, o rei abdicou, houve eleições. Agora tem-se parlamento, primeiro ministro, oposição. A sociedade é aberta. Admira mesmo ver que um país onde se valoriza tanto a tradição (os homens, por exemplo, usam uma espécie de quimono que vai até os joelhos, meiões e sapatos; as mulheres vestem saias longas, com blusas e mantos, todos de cores belíssimas) não demonstra conservadorismo. Pelo contrário, há igualdade de direitos entre homens e mulheres, liberdades políticas amplas, respeito às minorias.
Andando pelo país para conhecê-lo como parte do trabalho do meu grupo, impressiona ver como não há miséria nele. E nem gente sequer gordinha. Não se percebem desníveis sociais grandes, muito menos os indecentes. Não vi ainda ninguém pedindo esmola. Os campos são bem cultivados. Violência baixíssima. Saúde e educação gratuitas para todos. Em qualquer lugar fala-se inglês bom. Na segunda-feira, fomos a uma reserva biológica a 6 horas de carro de Thimphu, onde se protege a ameaçada espécie da cegonha do colo negro (no caminho, passamos por um ponto, de 3.200 m de altitude, de onde se avista em todo esplendor, no horizonte, a cordilheira fantástica do Himalaia, inclusive o ponto culminante do país, de 7.550 m de altitude). Na reserva, muito bem cuidada, Vera e eu, mais um casal americano, a guia e o motorista do carro, nos hospedamos e dormimos numa casa de pequeno proprietário rural (foi um recebimento com demonstração de extraordinária gentileza). A casa era ampla, bem decorada com motivos butaneses budistas. Nela, mora uma família de pai, mãe, um filho de 20 anos, outro de 8, e filha de 18. Pois bem, ali no mato, longe de qualquer lugar mais habitado, o rapaz e o menino, de enorme simpatia, falavam ótimo inglês (brinquei com o americano: “É melhor que o meu!”). A mãe entendia um pouco. A filha que não estava, fala. O pai, não. Aqui, na verdade, se tem uma língua nacional e 19 dialetos. Nossa guia e o motorista, entre si, conversavam no de Thimphu. Isso tudo me causa enorme admiração. Como um país economicamente pobre, guiado pela busca da felicidade, educa bem, dá saúde a todos, é organizado, seguro, belo! E limpo, sem poluição sonora, sem outdoors, sem apelos consumistas. Demonstra que seu caminho da felicidade não é utópico. Existe como fato. Vê-se. E faz a nós muito bem.
Artigo publicado no DP, dom. 20 de janeiro de 2013
VALORES EM CONFRONTO
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social;
clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
A polêmica relacionada com o absurdo
projeto Novo Recife, que interfere no agradável cais José Estelita, decorre de
uma coisa que podemos denominar de “valores em confronto”. De um lado,
interesses econômicos poderosos querem usar uma área pública para promover
lucros privados. Do outro, a sociedade, que busca qualidade de vida, uma cidade
para todos e com beleza estética, reage, invocando razões que dizem respeito
não a lucros privados, mas a benefícios públicos. Pode-se imaginar a situação
de conflito que aí surge na medida em que, aliados à Prefeitura (gestão do
prefeito João da Costa, no caso), os interesses econômicos conseguem impor seus
valores diante dos que lhe fazem contraponto.
Para entender a questão, vale a pena
recorrer a um exemplo hipotético. Imaginemos que se quisesse encontrar uma área
pública do município para implantar um complexo habitacional e de serviços.
Onde localizá-lo? Digamos que existam 3 possibilidades de localização – áreas
A, B e C. O local A é um
ecossistema público valioso, com biodiversidade, água, solo bom; como paisagem,
porém, é sem graça; e poderia render algo em uso econômico. Já a alternativa B possui belo cenário, oferecendo
muitos atrativos; como habitat é pobre, tem pouca biodiversidade; não sugere
vantagens para uso econômico. Finalmente, o local C é ótimo para um complexo urbanístico, podendo gerar renda
significativa; como paisagem é razoável; e como ecossistema, pobre. Assim, a comparação
de A, B e C quanto a ecossistema ou habitat (dimensão 1), paisagem (dimensão 2)
e valor econômico (dimensão 3),
indicaria a seguinte ordem de preferências. Em termos da dimensão 1, A-B-C;
quanto à 2: B-C-A; e quanto à 3, C-B-A. Ou seja, tem-se uma classificação dos
três locais que não faz nenhum deles se sobrepor aos demais em todas as
categorias – ou dimensões – tomadas para efeito de comparação. O lugar A é o
melhor para habitat natural, o B o é como paisagem e o C, como sítio de um
projeto econômico.
Qual dos lugares deve ser o escolhido? Como decidir?
Quem detém o poder de impor a
linguagem econômica como discurso supremo de uma discussão de cunho socioambiental,
político e cultural? Para a sociedade, interessa não só a valoração monetária,
mas também avaliações físicas, estéticas,
sociais e culturais. Não faz sentido simplificar a complexidade, impondo
uma decisão estreita e que interessa apenas a um segmento da sociedade – por
mais importante que seja – desqualificando outros atores. Nem faz sentido
deixar que um enfrentamento persistente e sem remédio entre expansão econômica
e conservação leve sempre ao sacrifício do patrimônio público. Ao herdarmos
locais conservados, transformando-os em condomínios privados, agimos de maneira
míope, esquecendo a complexidade e múltiplas dimensões da vida social. Além
disso, comete-se uma injustiça socioambiental, às vezes e de modo legítimo,
considerada como forma de racismo. Isso significa que o valor do dinheiro não
pode impor descaradamente sua vontade, como no cais José Estelita. E como,
aliás, parece estar acontecendo ainda no caso da estrambótica e lamentável arena
do glorioso Sport Club Recife.
Artigo publicado no DP, dom. 6 de janeiro de 2013
A ESTRANHA
NOÇÃO DE PROGRESSO DO RECIFE
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social;
clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Trabalhando no momento em projeto do
Butão, que lhe foi encomendado pela ONU a partir do objetivo que move esse
país, de buscar a felicidade nacional em lugar do aumento ilimitado do produto
interno bruto (PIB), causa-me ainda mais espanto constatar como, no Recife, se
procura um tipo de progresso totalmente diverso. De fato, no Butão, o propósito
é levar à felicidade humana e ao bem-estar de todas as formas de vida,
respeitando limites planetários, com mínima degradação da natureza e depleção
de recursos (sustentabilidade ecológica), distribuição justa dos frutos do
trabalho social e uso eficiente da economia. Nada disso se observa, diga-se a
bem da verdade, não somente no Recife, mas também em Olinda, em Pernambuco, no
Brasil. Não se está aqui, com certeza, promovendo felicidade para as pessoas de
forma duradoura e convincente e, muito menos, bem estar para todos os seres vivos.
No caso do Recife, a polêmica do (mal)
denominado projeto Novo Recife demonstra bem isso. O que se quer com ele?
Justiça social, construindo-se espaço para proveito de todas as classes que
formam nossa sociedade, o que seria “novo”? Não. Com certeza, não. O que se
aprovou há pouco para aproveitamento do belo espaço do Cais José Estelita foi a
mais excludente iniciativa de desenvolvimento possível. Não irá para o espaço dali
a população que habita o Coque, Brasília Teimosa, os Coelhos. Serão os mesmos grupos
afluentes que tomaram conta das Torres Gêmeas do Cais de Santa Rita. Mais
estranho é que tal suceda sob a batuta de um partido que teria compromissos com
a classe trabalhadora. Nesse particular, os dois prefeitos petistas do Recife
constituem a negação de seu discurso. Deixam uma herança maldita e
indesculpável. Seus métodos foram autocráticos, sem compromisso com a inclusão
dos grupos marginalizados. A esperança é de que o prefeito Geraldo Júlio
desperte para a insensatez do Novo Recife – uma agressão ambiental que desfigura
a paisagem, como as Torres Gêmeas.
Aliás, em matéria de insensatez
ecológica – tirando a elogiável atitude do prefeito João da Costa de respeitar
o legado do Hospital da Tamarineira –, o Recife está cheio de aberrações.
Chamar, por exemplo, de “parque” a área do D. Lindu ou a do novíssimo parque de
Apipucos é desconhecer a tradição desse modelo em muitas partes do Brasil
(Parque da Cidade, em Brasília, o Farroupilha, em Porto Alegre, o Bosque
Rodrigues Alves, em Belém do Pará) e do mundo. E que dizer da desfiguração do
Memorial Arcoverde, em Olinda, destruído pelo Cirque du Soleil em 2009, sob as
bênçãos do governo do estado e da prefeitura olindense? Nossa noção de progresso,
mais que estranha, é uma aberração. Oferece-se mais e mais conforto a quem já
desfruta dele em abundância. Para os excluídos não são migalhas que se oferece.
O que se lhes dá é o pior dos mundos: promessas ocas e uma realidade de
abandono, marginalidade e negação da felicidade. Está na hora de mudar o
paradigma vigente. Geraldo Júlio tem a oportunidade de pensar a respeito. E o
governador Eduardo Campos, bem assessorado pelo secretário Sérgio Xavier, pode
ser uma novidade significativa no cenário nacional buscando a felicidade humana
e combatendo a insustentabilidade ecológica, a exclusão e o uso ineficiente de
recursos.
Artigo publicado no DP, dom. 16 de dezembro de 2012
SECA, NATAL,
POBREZA
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social;
1970 foi um ano de enorme sofrimento
para a população sertaneja do Nordeste. Uma seca de grandes proporções, a
primeira da era da Sudene, que havia sido criada no rasto da estiagem braba de
1958, alcançou praticamente todo o semiárido da região. Provocou grande quebra
de safra de produtos de subsistência, morte de rebanhos e levas extensas de
flagelados do fenômeno. Na verdade, ela expunha com severidade o estado de
enorme pobreza da população sertaneja, assunto que Celso Furtado (1920-2004) e
sua equipe expuseram em trabalho marcante, o famoso “Relatório do GTDN” (de
1959). Meu grande amigo Dirceu Pessoa
(1937-1987), que fora técnico da Sudene, conseguiu convencer a última da
necessidade de realização de uma pesquisa socioeconômica de grande porte sobre
o flagelo de 1970. Fui chamado por Dirceu, que fundara sua empresa de
consultoria, a Sirac, a integrar a equipe do estudo. Mobilizamos equipes vastas
para levantamentos de campo sobre a situação das vítimas oficiais da seca (eram
um milhão), alistadas em frentes de trabalho, bem como sobre proprietários
rurais de todo porte e outros atores sociais.
Escrevemos, nós dois, para a Sudene, um
relatório intitulado Caráter e Efeitos da
Seca Nordestina de 1970, que foi o estudo mais abrangente, até então, do
fenômeno climático que, como em 2012, aflige periodicamente a região. A
realidade que conseguimos apreender era a de que os trabalhadores rurais sem
terra eram quem mais sofria com a ausência de chuvas. Quanto mais terra fosse
controlada pelas pessoas, tanto menor o impacto da seca nesse nível social. Em
outras palavras, a seca – que é algo de certa rotina em zonas semiáridas do
mundo – simplesmente retirava a tênue capa de proteção dos assalariados,
meeiros, posseiros, deixando-os na completa indigência. Em 1979-1981, durante
nova grande seca, já na Fundação Joaquim Nabuco, Dirceu e eu levamos à frente
outra pesquisa que mostrou a persistência do desastre social do sertão,
decorrente, em anos de inverno miserável, da situação prévia de exclusão em que
vive grande parte da população sertaneja.
Em ambos os estudos, presenciamos
cenários desoladores de sofrimento e privação. Uma linhagem indômita e forte de
gente do Nordeste – tão bem cantada por Luiz Gonzaga (1912-1989) –, ademais, se
submetia à vergonha da esmola governamental por completa falta de opções.
Depois das duas pesquisas, sugerimos algumas ações que, em anos bons,
fortalecessem a sociedade nordestina para conviver menos penosamente com a
seca. Nada, entretanto, com as características de projetos monumentais do tipo
da Transposição do São Francisco, sobre a qual, aliás, também fizemos uma
pesquisa na Fundação J. Nabuco em 1983 que, em termos muito simples e claros,
mostrou que os sertanejos não queriam essa obra (logo esquecida pelo governo
militar, que encomendara o estudo justamente para saber o que a população
pensava da ideia). É assim que chegamos a mais um Natal em ano de seca terrível.
O momento é de esperança para o mundo cristão. Só que, para atingir o que se
espera, é preciso cultuar não o dinheiro como valor supremo, como faz nossa
sociedade, mas a felicidade plena das pessoas.
Artigo publicado no DP, dom. 2 de dezembro de 2012
CRESCIMENTO E PROSPERIDADE
Clóvis Cavalcanti
“Crescimento sem prosperidade” é
o título em tradução literal do interessante livro, publicado na Grã-Bretanha
em 2009, Prosperity without Growth.
Seu autor, um economista, Tim Jackson, faz parte do mesmo grupo de trabalho
sobre o Butão, já referido por mim aqui, no qual fui incluído. Quando nos
conhecemos no Rio, em junho deste ano, brinquei: “Crescimento sem prosperidade
ou prosperidade em crescimento?” Meu comentário não deve ter sido original, mas
Tim, de qualquer forma, sorriu. É que, de fato, virou dogma falar em
crescimento como requisito indispensável para o progresso humano. No livro,
contudo, Jackson afirma que, em qualquer senso genuíno da palavra,
“prosperidade transcende preocupações materiais”. Ele realizou pesquisa idônea
sobre a questão por encomenda da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, do
governo britânico. No seu raciocínio, partindo das complexas relações entre a
economia, o meio ambiente e a sociedade, os dados levantados provam que,
“depois de certo ponto, o crescimento não eleva o bem-estar humano”. Para ele, em
face da crise de 2008, o caminho que se trilha hoje para o sucesso econômico
revela-se fundamentalmente equivocado. No caso das economias avançadas do
Ocidente, “a prosperidade sem crescimento não é mais um sonho utópico. Trata-se
de necessidade financeira e ecológica”.
É óbvio que num país onde o
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) constitui a prioridade máxima da
política pública, usar o livro de Jackson como suporte de análise não atrai
simpatias. Ao mesmo tempo, quando se têm tantas carências, como as brasileiras,
o crescimento é necessário para, por exemplo, promover infra-estrutura, educação,
saúde, habitação. Claro, isso requereria clareza quando às interconexões entre
tantas coisas básicas para o bem-estar humano. Só que essa não tem sido a regra
no Brasil. Nossa saúde, por exemplo, maltrata de forma penosa até classes
sociais que não precisam passar, pelos recursos que possui, por situações de
incerteza em tratamentos de doenças menos convencionais. Que diferença do
Japão, para ilustrar, onde todos os recursos são assegurados sem fila e sem
chateação no momento em que se precisar do que quer que seja – até um hospital
em casa por muitas décadas! Aqui se tem muito crescimento e poucas ilhas ou
poças de prosperidade.
Um país que tem tudo para ser uma
desgraça – Bangladesh – prova que é possível alcançar prosperidade sem
crescimento. Sobre isso – e revelando enorme surpresa pelo que constatou –, a
insuspeita revista britânica The
Economist, de 3.11.12, declara: “A experiência de Bangladesh...mostra que
não temos que esperar por...crescimento econômico elevado para deflagrar
transformações sociais”. Esse país, uma vez e meia maior que Pernambuco (é o
94º do mundo em área) tem uma população de 161 milhões. Não tem recursos
naturais importantes. Sujeita-se a ciclones tropicais violentos. É muito pobre
(1.900 dólares de renda per capita).
E sofreu três golpes de estado entre 1975 e 2007. O que explica seu sucesso, a
despeito de um crescimento irrisório? Investimento (saúde e educação) na força
de trabalho feminina, microcrédito, ONGs excelentes (como o Grameen Bank) e uma
resposta positiva da população. Como o Brasil seria diferente se seguisse o
caminho da prosperidade, e não o da fé no PAC!
Artigo publicado no DP, dom. 18 de novembro de 2012
FESTA
LITERÁRIA QUE INCOMODA
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Há um ano, escrevi no DIARIO: “Acho estranho que a Festa
Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) decida por si própria que vai
ficar em Olinda em 2012”. Não que eu tenha qualquer coisa contra eventos de
promoção da literatura. Não sou autor de romances, novelas, contos. Mas, além
de ter lido, e ler, muito, já escrevi livros e publico artigos de literatura
científica há mais de quatro décadas (o último, em abril deste ano, na revista Estudos Avançados, da USP). Assisti a
muitos eventos de escritores no Brasil e em outros países, como os promovidos
no Rio em julho de 1961 e 1962 (conheci Manuel Bandeira na ocasião) e a Feira
do Livro de Guadalajara, no México, em 2001. O problema é que a Fliporto, que
deve seu nome a Porto de Galinhas, de onde provém, escolheu um espaço público
de Olinda que privatiza e deixa arrasado, sem contar que sua infraestrutura nem
de longe adota modelo ecologicamente correto. De fato, o que os moradores de
Olinda veem é sua agradável praça do Carmo ocupada por semanas (sim, a Fliporto,
que acaba hoje, dura 4 dias, mas a área que invade é desarrumada para seu
benefício muito tempo antes) com instalações que são cópias de estufas tornadas
viáveis tão só mediante uso de potentes sistemas de ar-condicionado. Uma
aberração que ofenderia um defensor de soluções adaptadas ao trópico como
Gilberto Freyre, por exemplo.
Ora, tudo é decidido
autoritariamente, a portas fechadas, entre os promotores da Festa e os poderes
municipais, sem qualquer consulta à população que vive na área e paga seus
impostos para ter essa possibilidade. Não conheço ninguém no meu círculo de
convivência (eu moro a 300 m da praça do Carmo), com efeito, que tenha podido
opinar sobre o transtorno que a Fliporto causa aos moradores. Ninguém foi
avisado do evento. Sabe-se dele pela mudança (para muito pior) no visual da
praça, pelos painéis que o anunciam nos postes, pelo noticiário dos jornais,
pela comunicação do preço de 80 reais para ingresso nas atividades da Festa. É
tudo antidemocrático, arrogante e excludente. A mesma coisa, aliás, de que
Olinda já foi vítima quando, contra todo bom senso e lucidez, se instalou o Cirque du Soleil no Parque Memorial
Arcoverde em 2009. Destruíram uma área de vegetação e campos esportivos,
cobrindo-a de paralelepípedos e asfalto, para gozo da minoria de privilegiados
(não 1%, mas 0,01% da sociedade) que podia pagar os ingressos durante 4 semanas
de espetáculos. O que ficou depois? A destruição do parque, a despeito da
alegação de que ele seria refeito e de que a empresa canadense que o usou pagou
indenização por isso. Está lá a desgraça para quem quiser ver, com um campo de
futebol, que antes existia em moldes aceitáveis, improvisado nos últimos tempos
através da colocação de barro vermelho sobre o asfalto miserável, jamais
removido.
O modelo de concepção e gestão
dessas coisas – Fliporto, Cirque du
Soleil – demonstra incrível insensibilidade social de quem as promove.
Demonstra também desprezo – ou será ignorância – de princípios ecológicos. E
reflete o vezo prepotente de quem não tem respeito pela fórmula participativa
da vida política. A Fliporto é uma festa literária que incomoda. Que vá abusar do
Centro de Convenções, do D. Lindu. Olinda já o foi demais!
Artigo publicado no DP, dom. 21 de outubro de 2012
TURISMO
PÓS-COPA DO MUNDO DE 2014
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Escrevi aqui, faz pouco, sobre o
reino do Butão. Pois bem, esse país tem uma política rigorosa de controle do
turismo. Admite uns 10 mil turistas estrangeiros por ano (pagando por dia de
permanência um imposto de 440 reais). Conheci o primeiro-ministro butanês,
Jigmi Thinley, no Rio de Janeiro, em junho passado. Perguntei-lhe então sobre o
sentido dessa política. Explicou-me: “Nós queremos um turismo de alto valor e
baixo impacto”. O oposto do que temos aqui. O assunto vem à baila na medida em
que nos preparamos para uma avalancha de turistas no período da Copa do Mundo
de 2014. A
dúvida é se nos preparamos realmente, de modo que mais e mais turistas apareçam
depois. Como estamos em matéria de língua inglesa, por exemplo? No Butão
fala-se inglês nos ambientes urbanos, dos táxis aos hotéis, sem contar quem
possui nível de educação secundária na população em geral. Quantas
pessoas se comunicam nessa língua entre nós? Faço o teste entre meus alunos na
UFPE. Indago no início das aulas: “Quem fala inglês aqui, levante o braço”. Uma
pessoa ergue a mão – duas no máximo. Há sempre umas 3-5 que conseguem ler. Ora,
isso é um atestado incrível de atraso – comum, infelizmente, entre
intelectuais, professores universitários, pesquisadores, técnicos.
Recentemente, no Rio de Janeiro,
comentei em hotéis, restaurantes e com taxistas que os benefícios turísticos da
Copa e das Olimpíadas de 2016 devem ser bem aproveitados para se fazer do Rio, no
pós-eventos, uma atração permanente, semelhante não digo a Paris, mas a Praga,
Atenas ou Lisboa. Isso requer domínio bom do inglês. Requer também uma
qualidade decente de serviços. Limpeza. Educação. E preços que valham a pena –
não os escorchantes que se cobram hoje em hotéis e restaurantes no Brasil. A
propósito, almoçando no dia 6 de outubro no Oyster Bar, restaurante de New York
no subsolo da Grand Central Station, com amigas recifenses (Mônica Monteiro,
Anita Távora, Silvana Meireles e Gisela Abad), tive uma experiência excelente.
Começa que se trata de espaço enorme. Muito bem decorado, bonito. Reservei mesa
com antecedência. A recepção foi competente. Atendimento sem nenhuma demora,
preciso, de bom nível. Pedimos a carta de vinhos. Havia mais de 300 para
escolha. O primeiro indicado, um tinto do vale do Napa, veio logo em seguida. Aqui no
Recife, é comum, depois de uma escolha, o aviso: “Está em falta”. Cardápio
superior. Comemos salmão-rei selvagem, de rio, peixe espada, calamares,
carpácio de salmão e outras iguarias. Nenhuma espera depois de feitos os pedidos.
Foram mais de 2 horas de festim, num sábado à tarde, no ritmo civilizado e
gratificante da slow food. Tudo isso,
mais cerveja Guinness, cheesecake (o
dali, considerado o melhor dos EUA), café, água, por 66 dólares por pessoa.
Turismo é atividade que se
alimenta de referências dos turistas satisfeitos. Infelizmente, estamos muito
longe de enriquecer nossas atrações – monumentos históricos em Olinda, belas
praias, folclore, cultura – com um conjunto de recursos que faça quem nos
visita sair falando bem de nós. Nossa infraestrutura é precária; o trânsito,
horroroso. Falta-nos transporte público digno. Há muita arquitetura medíocre em
toda parte, etc. Turismo de alto valor e baixo impacto exige uma qualidade que não
é comum em muito daquilo que temos para oferecer.
Artigo publicado no DP, dom. 7 de outubro de 2012
REPULSA
AO “MENSALÃO”
Clóvis
Cavalcanti - Economista
ecológico e pesquisador social
Meu amigo, o professor da UFPE Lucivânio Jatobá postou
em seu espaço do Facebook, na semana
passada, a seguinte declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Celso de Melo: “O cidadão tem o direito de exigir que o estado seja dirigido
por pessoas íntegras e por juízes probos. […] Quem tem o exercício do poder não
pode exercê-lo em seu próprio benefício.” E acrescentou: “Aplausos, Excelência!
Aplausos!” Essa admiração não seria necessária se vivêssemos em um país que
cultivasse, de forma rigorosa, sobretudo entre os políticos, a virtude da
probidade. Ninguém notaria, na verdade, o cidadão decente. Os de indigno
comportamento, se porventura existissem, seriam logo identificados – e
escorraçados, como se impõe. No Brasil atual, tristemente, o contrário é que
prevalece. A ponto de muita gente se sentir sem ânimo para votar nas eleições
municipais de hoje. E começar a enxergar no ministro do STF Joaquim Barbosa,
com sua cruzada de limpeza nos pareceres que dá sobre o abominável escândalo do
“mensalão”, uma esperança de dignidade. Sobre o julgamento que ocorre agora em
Brasília, perguntei a uma jovem de 23 anos, da zona rural de Gravatá, domingo
passado, se o estava acompanhando. Ela afirmou que sim. Indaguei ainda sua
opinião. Ela demonstrou nojo com respeito ao que está sabendo. E teceu elogios
a Joaquim Barbosa, falando ao mesmo tempo mal de ministros que não demonstram firmeza
equivalente.
Outro geógrafo, como Lucivânio, professor da UFPE e
pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, meu amigo, o grande Mário Lacerda de
Melo (1913-2004), acentuava com freqüência que a primeira condição para alguém
ser homem público era a da probidade; depois vinha a da competência. Ele
gostava de citar Barbosa Lima Sobrinho, ex-governador de Pernambuco
(1948-1951), com quem trabalhou – e a quem me apresentou em 1996 na Fundação
Nabuco –, como exemplo de integridade. Procuro seguir seu conselho até mesmo
para escolher mecânico para meu carro. Sem contar que procuro inspiração também
nas lições que meu pai não cansava de ministrar aos filhos – lições visíveis de
respeito à lei, de honradez máxima. É à luz de antecedentes assim que dói ver o
quadro de ruína da integridade pública no Brasil. Querer fazer de conta que o
“mensalão” foi um crimezinho, um caso
banal de “caixa 2”, uma ação de “aloprados”, a reprodução de práticas comuns no
nosso cenário público, francamente, é o mesmo que achar que um estupro pode ser
justificado por este ou aquele motivo. Quando demos um voto de confiança na
proposta de renovação que o PT trazia em 2002, foi por acreditar que se estaria
ali refundando o Brasil. Que se marchava para um novo tipo de poder em que os
mandatários não iriam exercê-lo em seu próprio benefício. O “mensalão”
constituiu um golpe miserável nessa expectativa. Merece a mais enfática
repulsa. E um banimento dos que com ele se envolveram.
Artigo publicado no DP, dom. 23 de setembro de 2012
FLORA DAS CAATINGAS: BELO E VALIOSO LIVRO
Clóvis
Cavalcanti - Economista ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Sabe-se que a caatinga é um dos
biomas menos conhecidos da ciência no Brasil. Ao mesmo tempo, tem sido vítima
de longo processo de destruição, agravado nas últimas décadas. Uma tentativa de
oferecer luz sobre esse ecossistema que confere identidade própria ao Sertão
nordestino e, simultaneamente, permitir que se atue sobre ele de forma
responsável encontra-se no livro recém-publicado Flora das Caatingas do Rio São Francisco. Trata-se de obra de
enorme valor, em edição primorosa. Seu organizador – e autor ou coautor de
vários dos capítulos que a integram – é o biólogo da conservação (botânico)
José Alves de Siqueira Filho. Tive o privilégio de colaborar com ele, jovem e
brilhante pesquisador da Univasf, na magnífica obra – também de grande valor
artístico em seu design – que
produziu juntamente com o grande jurista e botânico Elton Leme, Fragmentos da Mata Atlântica do Nordeste (de
2006). Sou testemunha da seriedade, rigor e envolvimento na pesquisa que José
Alves impõe a seu trabalho. No caso do livro sobre a Mata Atlântica, ele e
Elton Leme passaram 10 anos em pesquisas de campo. No da belíssima obra de
agora, foram quatro anos, envolvendo 99 coautores que, em 212 expedições de
campo, percorreram 340 mil km. Um trabalho que ninguém pode fazer sentado
apenas na frente de computadores com acesso às maravilhas do Google: tem que
ser lá na realidade, apalpando-a, vendo-a, sentindo-a, captando-a (os
economistas são useiros e vezeiros na modalidade de pesquisa puramente de gabinete,
só consultando estatísticas frias e dando-se por satisfeitos com isso).
O livro oferece conhecimento
sólido sobre os mecanismos que regulam e organizam as comunidades vegetais ao
longo do rio São Francisco, compondo um conjunto que José Alves classifica em
sua apresentação da obra como de várias “caatingas”, e não de uma apenas. Interessante
é que o trabalho resultou de convite feito pelo Ministério da Integração
Nacional, interessado nos impactos da Transposição do São Francisco e na
conservação da flora e fauna da região. José Alves escreve: “Com olhos de um
biólogo da conservação, posso afirmar que muito do que vi foi chocante, mas
também se configurou em uma fonte de aprendizado fantástica e uma possibilidade
de amadurecimento profissional jamais imaginada”. Como assinala ainda, iniciadas
as obras do projeto, tomadas as decisões (controvertidas), restava a
possibilidade de “uma espécie de prestação de contas à sociedade brasileira
diante do expressivo recurso investido”. O livro tem esse propósito. Inclusive
mostra como “todos os mecanismos de crescimento econômico” levam no caso do S.
Francisco a “progressiva e contínua desconstrução da sustentabilidade”. De
fato, o panorama aí visto mostra “formação de solos salinizados, desertificação
de áreas e migração para novas fronteiras agrícolas, repetindo ad infinitum um ciclo insustentável”.
Para a biologia da conservação, trata-se de um cenário de desastres futuros
“cada vez mais difíceis de serem evitados pela sociedade pós-moderna”. Algo
como o que procurei sintetizar no capítulo que escrevi para o livro sobre a
Mata Atlântica: opulência vegetal, ganância insaciável e a entronização da
entropia. Triste. Tudo exposto na moldura de belo livro de arte produzido pela
competência de Andrea Jakobsson (do Rio de Janeiro).
Artigo publicado no DP, dom. 9 de setembro de 2012
UM NOVO PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social;
clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
O Butão (ou Bhutan) é um país pouco conhecido.
Não admira. Com uma área equivalente à do estado do Espírito Santo (mais do dobro
da de Sergipe), fica espremido entre dois gigantes – China e Índia. A Costa
Rica, contudo, é só um pouco maior que ele e a Holanda, menor. Em população, o
país se equipara à Região Metropolitana do Recife. E equivale ao Timor Leste e Trinidad-Tobago.
Nos últimos tempos, porém, tem aparecido no cenário internacional por haver
adotado como bússola do progresso da sociedade o conceito de “felicidade interna
bruta” (FIB). Como diz documento do governo butanês, supõe-se que “a felicidade é um objetivo fundamental
do ser humano e aspiração universal; que o PIB [produto interno bruto], por sua
natureza, não reflete esse objetivo; que padrões insustentáveis de produção e
consumo impedem o desenvolvimento durável; e que uma abordagem mais inclusiva,
equitativa e equilibrada é necessária para promover sustentabilidade,
erradicação da pobreza e alimentar o bem-estar e uma felicidade profunda”.
Independente do que se pense sobre o conceito,
o fato é de que ele foi proposto deliberadamente pelo rei do Butão em 1972 como
contraponto à busca universal de aumento do PIB. A ideia, portanto, não é nova.
Novidade é estar ela sendo agora mais conhecida. Desde 2 de abril último, o
Butão iniciou um processo junto às Nações Unidas para estender ao mundo o novo
paradigma de desenvolvimento embutido na FIB. Em press-release, o governo do país faz alusão a um decreto do rei, de
agosto passado, que cria um grupo de trabalho internacional de peritos
convocado para assessorar o país nessa empreitada, no qual se declara que “A Felicidade Interna Bruta
reflete e é produzida pela integração do desenvolvimento material, relacional e
espiritual”. O mesmo documento explica: “A experiência prática do Butão em
seguir esse caminho multidimensional do desenvolvimento social e pessoal integrado
pode contribuir e ser benéfico para outras nações e para todos os seres sencientes.”
A expectativa é de que o Grupo de Trabalho, compreendendo economistas,
cientistas, filósofos e outros profissionais, possa, com o recurso a saberes
diversos, elaborar o novo paradigma de desenvolvimento global para promover bem-estar
e felicidade como propósito global, através de políticas públicas
internacionais efetivas. O Grupo deve se alimentar das melhores práticas
existentes, de pesquisas e discursos elaborados em todo o mundo por pensadores
progressistas, visando alcançar quatro princípios-chave, a saber: bem-estar e
felicidade como objetivos e propósitos fundamentais, e sustentabilidade
ecológica, justa distribuição e uso eficiente de recursos como condições
necessárias para alcançar aquela meta. No rol das 55 pessoas, algumas muito
ilustres, que formam esse grupo, tive a honra de ver meu nome incluído. Minha própria
FIB subiu.
Artigo publicado no DP, dom. 26 de agosto de 2012
QUANDO
A VITÓRIA É DO TALENTO
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Devemos
à suave pernambucana Yane Marques a alegria de termos ganho uma medalha – ainda
que de bronze – no último dia das Olimpíadas de Londres. Não fosse isso, a
frustração pelo medíocre desempenho brasileiro nos agradáveis jogos olímpicos
de 2012 teria sido ainda maior. A conquista da atleta, em uma modalidade – o pentatlo
moderno – totalmente ignorada pela maioria das pessoas no país só pode ser
atribuída a seu talento único. De fato, quem é que encontra facilidade em
qualquer espaço esportivo nacional para a prática simultânea de esgrima, tiro,
equitação, natação e corrida? Yane teve a sorte, já atleta consagrada, de ser
acolhida pelo Exército, que sempre promoveu atividades esportivas em bom nível.
Tive um professor de educação física no Colégio Nova Friburgo (estado do Rio),
onde cursei o secundário, que havia se especializado em esgrima no CPOR. Com
ele, aprendemos um pouco desse difícil esporte (o colégio dispunha de bons
equipamentos). Yane não contou com patrocinadores. Imagino o esforço que fez
para alcançar a forma que lhe permitiu destacar-se entre 36 competidoras,
subindo ao pódio olímpico. Seu feito, então, é para ser cantado em prosa e
verso. Penso que, especialmente em Pernambuco, temos elevado débito para com
essa linda conterrânea.
Assistindo
à frustrante campanha do Brasil em Londres, não se pode esconder que isso se
deve ao desleixo com que se trata a juventude do país. O desleixo é evidente
quando, por exemplo, nos comparamos com Cuba. Na nação caribenha, o índice de
desenvolvimento humano a coloca no 51.º lugar, em termos mundiais, enquanto o
gigante que somos obtém a 85.ª posição. Cuba tem mortalidade infantil
comparável à do Canadá e esperança de vida no nível dos Estados Unidos.
Resultado: em Londres, os cubanos ficaram em 16.º lugar no quadro de medalhas
(foram 5 ouros), enquanto o Brasil alcançou o 22.º (3 ouros). Em Cuba, por pura
dedicação, pois o país não é rico (seu nível de renda per capita é bem inferior ao brasileiro), formam-se excelentes
atletas, cujo destaque é realçado pelo fato de Cuba ter apenas 5,8% da
população brasileira.
São
dados que incomodam e assustam, sobretudo quando se constata que o panorama da
educação e saúde, entre nós, é dos mais infelizes. No Brasil, não se lê, não se
tem muita gente falando inglês com fluência, não se adotam práticas civilizadas
como a do silêncio, mais da metade dos domicílios não tem saneamento (é uma
desgraça morar em habitação sem sanitário digno), doenças como leishmaniose,
hanseníase, esquistossomose, doença de Chagas, febre reumática, ainda têm
incidência absurda, etc. Enfim, possuímos uma fachada brilhante que oculta
mazelas sociais inadmissíveis (que um país como Cuba já conseguiu superar). O
insucesso brasileiro em jogos olímpicos vai perdurar enquanto não se superarem
tais labéus. Até lá, teremos que depender de valores exemplares, de talento
verdadeiro bem aproveitado, como no caso da admirável pernambucana Yane Marques
(e da piauiense Sarah Menezes, ouro olímpico no judô, do paulista Arthur
Zanetti, campeão na argola, e das belas meninas do vôlei).
Artigo publicado no DP, dom. 13 de agosto de 2012
VITÓRIA
DA MEDIOCRIDADE
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
É
triste. A população olindense praticamente não tem em quem votar este ano para
prefeito da cidade. No Recife, apesar de todos os contratempos da escolha do
candidato do PT – com descabida interferência de um suposto “cérebro” paulista
do partido na definição da candidatura de Humberto Costa –, pelo menos se tem
bom leque de opções. De Roberto Numeriano a Mendonça Filho, de Edna Costa a Daniel
Coelho, a Jair Pedro, e de Humberto a Geraldo Júlio, o eleitor vislumbra
perspectivas. Já em Olinda, o que se tem é a possível façanha de perpetuação na
prefeitura de um desbotado Partido Comunista do Brasil (PCdoB), o do atual
ocupante do cargo (Renildo Calheiros) e de sua antecessora (Luciana Santos).
Quando Luciana se apresentou em 2000, foi como um raio luminoso no cenário de
mediocridade em que a política olindense tinha mergulhado. Jovem, cheia de
energia, ligada, ela correspondeu à expectativa no seu primeiro mandato. Já no
segundo, foi um desastre, quando se deixou envolver por manobras politiqueiras
de baixo nível. Sua sucessão trouxe um forasteiro para o seu lugar, Renildo
Calheiros – alagoano, originário da política estudantil, sem vínculos com
Olinda, da qual sequer era morador de verdade. Não sei dos detalhes, mas pessoa
informada me contou que o nome de Renildo foi uma imposição do então presidente
Lula da Silva.
O
resultado é que a cidade paga a conta – ou seja, nós, moradores permanentes. Um
lugar admirado como Olinda, Patrimônio da Humanidade, tem um poder público
municipal que nada adiciona para que essa admiração aumente e se consolide. Há
iniciativas particulares que a reforçam, sem dúvida. É o caso do legado de
belos monumentos da igreja católica e dos respectivos sítios ecológicos (áreas
verdes fantásticas do convento franciscano, das beneditinas do Monte, das
freiras do Santa Gertrudes e do convento das Dorotéias, dos monges de São
Bento, do vetusto Seminário de Olinda). É o caso também do sítio dos
Manguinhos, o Horto Del Rey, o segundo mais antigo jardim botânico do Brasil. É
o caso ainda do Hotel 7 Colinas, exemplo de bom gosto moderno, com agradável
parque; de restaurantes como o Maison do
Bonfim, o Beijupirá, a Oficina do Sabor, o Don Francesco, que contribuem para que a vida em Olinda fique mais
charmosa. Sem falar de esforços federais como no caso da restauração da igreja
do Carmo, uma relíquia do primeiro convento carmelita das Américas.
Exemplo
da má gestão municipal de Olinda é a obra que se faz neste momento na av.
Marcos Freire (beira-mar do Bairro Novo). O calçadão foi implantado com lajes
de pedra na gestão de José Arnaldo há 22 anos. Inexplicavelmente, Luciana
Santos retirou tais pedras há 8 anos, substituindo-as por cimento e ladrilhos –
que, logo, apresentaram problemas. Pois bem, Renildo está substituindo esse
material... pelo mesmo material! É inacreditável. A única diferença da calçada
de Luciana para a de Calheiros é sua largura. Diminuiu 70 centímetros,
ampliando a ciclofaixa. Precisava destruir todo o calçadão? Infelizmente, essa
é mais uma razão para tanta tristeza dos eleitores na próxima eleição
municipal. Vitória da mediocridade.
Artigo publicado no DP, dom. 29 de julho de 2012
CONTRASTE
DO MARANHÃO COM GARANHUNS
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Neste
julho, estive em Garanhuns e São Luís do Maranhão. No primeiro, para o fabuloso
FIG (Festival de Inverno, em sua 22ª edição). Na capital timbira, para o importante
evento da 64ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência). Conheço São Luís desde julho de 1968. Visitei a cidade como turista,
numa época em que ela não era destino turístico algum. Hoje, teoricamente,
exibe tal rótulo. No entanto, o que a cidade de belo (e aviltado) patrimônio
histórico oferece é a imagem de uma decadência inexorável. Seu aeroporto,
reformado há menos de 20 anos, passa por nova reforma – que se arrasta há pelo
menos 2 anos – porque a anterior foi um desastre. Quem nele desce, tem horrível
impressão. De lá ao hotel na praia onde fiquei (o Veleiros Mar), faz-se um
percurso que não é a regra para quem vai de aeroportos a hotéis em qualquer
lugar civilizado, ou semicivilizado, do planeta. São vias de calçamento muito
ruim com desvios e mudanças de direção que cansam e espantam.
No
meu hotel, por outro lado, serviços básicos do tipo água de beber no
apartamento ou atendimento de restaurante, quando o hóspede não quer, ou não
pode, sair do quarto, eram desconhecidos. Numa noite, solicitei uma pizza e
suco de laranja. Informação do empregado do chamado room service: “Não temos atendimento nos apartamentos. O hóspede
deve buscar no restaurante o que pediu”. Certo, pensei, vou buscar. Queria
deixar o pedido e esperar o aviso de pegar o que desejava quanto tudo estivesse
pronto. Nova frustração: “Não temos suco de laranja”. Desisti. Logo na chegada
ao hotel, depois de lavar as mãos, vi que faltavam toalhas no cômodo que
ocupei. Telefonei para a recepção. Recomendaram-me procurar a governança.
Ninguém atendia do outro lado. Voltei a ligar para a recepção. Mandaram-me
aguardar. Esperei 20 minutos. Nada. Nova chamada à recepção. Recomendação:
ligar para a governança. “Ora, lá não atendem”, protestei. Disseram que iam
providenciar. Mais 10 minutos, chegaram as toalhas!
O
fenômeno do desmoronamento maranhense era visível no campus da Universidade
Federal (a UFMA), no Bacanga. Em obras desordenadas, a infra-estrutura
disponível exibia tudo o que de ruim se poderia esperar. Em enorme contraste,
aliás, com o que encontrei na própria São Luís, em 1995, na 47ª Reunião Anual
da SBPC. Nessa ocasião, o campus e o apoio logístico exibiam estado muito
superior. Agora, é comum faltar luz, por exemplo. Isso aconteceu numa mesa que
presidi dia 23, das 15h30 às 18h. Às 17h, a energia desapareceu. Acabaram-se
iluminação e ar condicionado. Voltaram às 18h. Nos dias 24 e 25, nas aulas que
dei, de 8h às 10h, o ar condicionado ia e vinha. Algumas vezes, apagava-se a
luz e o data show também. No térreo
do prédio central do encontro, simplesmente inexistia sanitário! Combinando
hotel, aeroporto, cidade, patrimônio, campus, o que se pode dizer de São Luís é
que é lugar a ser evitado. Uma pena. Em 1995, Roseana Sarney governava o
estado. Continua a governar hoje. Seu pai, que deveria estar de pijamas em
casa, manda na República. Dizem os taxistas com quem andei que as razões do
atraso maranhense residem aí. Um contraste com a beleza de Garanhuns e seu
maravilhoso Festival de Inverno.
Artigo publicado no DP, dom. 15 de julho de 2012
OBEAU GESTE DE MAURÍCIO RANDS
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social
No
deplorável episódio da nomeação paulista de um candidato do PT a prefeito do
Recife, o esperado de um político com a formação acadêmica de Maurício Rands
seria que, de modo civilizado, reconhecesse a vitória, na prévia do Partido, do
prefeito João da Costa, retirando sua postulação. Não foi isso o que fez,
submetendo-se ao carão que foi passado em São Paulo a ele e a seu opositor.
Alijado aí do páreo, despareceu para uma reflexão sobre o fato. O prefeito, no
seu indiscutível direito, tentou reverter a situação, visando mudar o revés que
seus “superiores” – que não deveriam se considerar assim – lhe impuseram.
Perdeu. Foi humilhado ao extremo. Maurício Rands, em contrapartida, aproveitou
bem seu sumiço. A consciência lhe falou mais alto. Num gesto apreciável para
quem vê na política o exercício da cidadania plena, desligou-se do PT. Mais: renunciou
a seu mandato de deputado e afastou-se da vida pública. Fez o que os franceses chamariam
de “beau geste”.
O
inacreditável é que haja quem a isso considere como traição, usando o samba de
Beth Carvalho para fazer supor que o PT tenha sempre dado a mão a Rands. Sou
amigo de seu irmão Alexandre, competente economista, e fiquei sabendo algo de
Maurício quando fui professor visitante na Universidade de Oxford (Grã-Bretanha),
em 2000. Lá ele se doutorou – uma honra, sem dúvida, não acessível a tantos que
desejariam estudar nessa formidável universidade, fundada há mais de 800 anos.
Seu orientador, Hermínio Martins, sociólogo português, meu amigo, tinha sempre
palavras positivas sobre o aluno. Por isso, não me surpreende o caminho que escolheu.
Consegue, assim, pairar acima da mediocridade de políticos que, para o avanço
da carreira, aceitam qualquer imposição. Na eleição de 2002, quando Rands foi
candidato a deputado federal pela primeira vez, surpreendeu-me em Gravatá a
mobilização de militantes a seu favor. Rands, ao lançar sua candidatura, disse
que ia bancá-la com rendimentos próprios de seu ofício como advogado
trabalhista. Na ocasião, favoreceu enormemente os candidatos do PT, pois fazia
campanha por todos eles, inclusive Humberto Costa. E obteve grande votação. É,
pois, com a maior surpresa que o vejo ser acusado de trair “a quem sempre lhe
deu a mão”.
Não
tenho qualquer motivo pessoal para falar a favor de Rands. Nunca votei nele
(votei em Pedro Eugênio, por exemplo). Só trocamos cumprimentos sociais creio
que uma única vez (mas me beneficio da hospitalidade de seu irmão Alexandre). O
que, para mim, merece registro na atitude de Maurício foi ele ter abdicado de
partido, e de cargos. Pois o hábito é de políticos saírem de partido, mas não
renunciarem a mandatos, embora até se compreenda que não o façam. A invocação
do samba de Beth Carvalho, passando a ideia de traição de Maurício Rands, revela
pobreza de espírito. Ao mesmo tempo, querer atribuir a políticos paulistas ou a
quem desfrute de elevados cargos na República a condição de grandes eleitores
do prefeito do Recife, como se os detentores de título em Pernambuco fossem
crianças bobas precisando de tutores, é de uma indigência mental extrema. Além
de fazer a exaltação de extemporâneo autoritarismo.
Artigo publicado no DP, dom. 17 de junho de 2012
A RIO-92 FOI MAIS SÉRIA
Clóvis
Cavalcanti
Economista
ecológico e pesquisador social
Estive
presente às grandes conferências da ONU no Rio, em 1992 (a Cúpula da Terra ou
Eco-92, como ficou conhecida), e agora em junho (a Rio+20). Na verdade, não
participei dos eventos oficiais de ambas. Na primeira, durante 3 semanas,
assisti à parte científica, à parte de tecnologia e meio ambiente e às
discussões da economia ecológica. Na versão de agora, durante apenas 5 dias, fiquei
todo o tempo no congresso bienal da Sociedade Internacional de Economia
Ecológica (ISEE, sigla em inglês), que
tem uma correspondente brasileira (EcoEco), da qual sou presidente de honra.
Isso não impediu que eu tivesse contato com pessoas que estavam em outras
atividades, do universo paralelo que precedeu e acompanhou a Rio+20, e andasse
um pouco na Cúpula da Terra (em 1992, sua equivalente foi o Fórum Global). Da
experiência, posso dizer que a Rio-92 foi mais séria. Ela não só produziu
compromissos concretos (não importa se eles tenham se esvaziado com o tempo), a
exemplo da Agenda 21 e Convenção do Clima, como introduziu o conceito de
desenvolvimento sustentável – a meu ver, um pleonasmo, pois não existe
desenvolvimento insustentável.
O
encontro da ISEE, no entanto, foi muito proveitoso. Falaram lá, na abertura (a
que presidi), Cristovam Buarque e a presidente do WWF, Yolanda Kakabadse. Posteriormente:
os criadores do conceito da pegada ecológica (William Rees e Mathis
Wackernagel), a indiana que venceu uma luta contra a Coca e a Pepsi na Índia
(Sunita Narain), o canadense (Peter Victor) e o britânico (Tim Jackson) que
mostraram como se pode ter desenvolvimento sem crescimento econômico, Ignacy
Sachs – bem conhecido no Brasil –, mais gente interessante e, por último, Jigmi
Thinley, primeiro ministro do Butão (Bhutan). Esse país de feição budista,
perdido no Himalaia, ficou conhecido por haver rejeitado há quase 4 décadas o
modelo de desenvolvimento centrado no PIB (produto interno bruto), adotando em
seu lugar a noção de felicidade nacional bruta (FNB). Sobre ele, a Rede Globo
apresentou ótimo Globo Repórter, com
Glória Maria, há um ano, em que a jornalista não conseguia esconder sua
perplexidade diante do que encontrou ali: um povo alegre; um país igualitário;
um clima de tolerância e compreensão; uma valorização dos laços familiares; uma
proteção decidida dos ecossistemas nacionais (as florestas butanesas cobrem
hoje 80% do território do país. Eram 60% há 50 anos).
Thinley começou elogiando o campo da
economia ecológica. Afirmou: “Chego mesmo a dizer que o trabalho dos
economistas ecológicos deveria ser na verdade o ponto de referência primário
para a cúpula que está começando”. Segundo ele, essa reflexão oferece expressão
corajosa da bondade básica e da sabedoria inerente da humanidade. Para ele, a
economia ecológica tem demonstrado sem sombra de dúvida que é absurdo isolar os
sistemas econômicos do ecossistema que os abriga e lhes provê recursos básicos de
sustentação da vida, além de absorver todos os seus dejetos. Ele acrescentou
ainda que o Butão será, em breve, o primeiro país 100% orgânico do mundo.
Realmente, palavras precisas e sensatas, do maior significado e que levam a
admirar-se uma nação pequena como o Butão que sabe ser dona de seu destino.
Artigo publicado no DP, dom. 17 de junho de 2012
A VOLTA DOS BIÔNICOS
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
Pode-se dourar a pílula como for, mas para quem já viveu sob o império das escolhas biônicas, a indicação do candidato do PT a prefeito do Recife tem enorme semelhança com o abominável processo do período militar recente no Brasil. Não sou eleitor regular do Partido dos Trabalhadores. Votei nele algumas vezes, inclusive em Humberto Costa. Nas eleições de 2010, sufraguei apenas nomes do meu partido, o PV. Mas, como observador da cena política, não posso deixar de registrar o enorme desagrado que colhi de inúmeras pessoas que pensam com seriedade nossos problemas, em face da rasteira de que foi vítima o prefeito João da Costa. Afinal, quem deveria julgá-lo, primeiro, eram os filiados do PT e, depois, caso saísse candidato à reeleição, o eleitorado recifense. Os integrantes do partido se manifestaram de forma democrática na prévia realizada, a qual deveria servir de exemplo a outras instâncias do PT, e aos demais partidos brasileiros. Tristemente, não foi isso que se viu, porém. Uma camarilha assumiu o papel das bases, rasgou a manifestação dos filiados ao PT no Recife e impôs o nome que lhe convinha. Ora, um candidato desse naipe só pode ser chamado de biônico. Pelo menos, para nós, simples eleitores, massa de manobra da nova elite de coronéis sem a pompa do velho coronelato.
Como eleitor que sou em Olinda, talvez alguém sugira que eu devesse ficar calado. Ora, fazer isso é simplesmente querer impor mais obscurantismo numa situação lúgubre. Está na hora de todos se manifestarem, de invocar os brios pernambucanos – nosso “rubro veio”, diria Evaldo Cabral de Mello. A capital de Pernambuco não é São Paulo. Parecia. O prefeito João da Costa e seu adversário dentro do PT, nada menos do que um doutor da vetusta Universidade de Oxford, Maurício Rands, para resolver sua pendenga ficaram num vaivém grotesco entre o Recife e a capital paulista. Lá, ouviam admoestações, relhos, puxões de orelha. Não sei se era bem assim, mas as cenas mostradas das reuniões na Paulicéia fazem supô-lo. Durante a ditadura militar (ou “democracia relativa”, como a definiu o general-presidente Ernesto Geisel), carões em adultos crescidos eram frequentes. Repetiu-se a dose agora, sem possibilidades de apelação para quem quer que seja.
Aliás, o presidente Lula da Silva, segundo comentários ouvidos em Olinda, teria apontado o nome do prefeito Renildo Calheiros como candidato em 2008, na sucessão de Luciana Santos. O fato é que a autoridade olindense não é um nome da cidade, não morava aqui; apenas integra o mesmo partido (PCdoB) da prefeita que o antecedeu. Votei em Luciana, uma olindense autêntica. Não fiz o mesmo em Calheiros. E depois de 3 anos e meio de mandato inoperante, é lamentável que se candidate à reeleição. Os filiados a partido da chamada base foram ouvidos em Olinda? Não. Na minha rua, no sítio histórico, desconheço quem quer que tenha sido consultado. Em 2002, Luciana Santos chegou a vir a minha casa para escutar o que eu tinha a dizer de seu nome como candidata. Foram coisas boas. Calheiros, pelo contrário, tem meu repúdio. O mesmo que sinto com relação à volta dos biônicos no Recife.
Artigo publicado no DP, dom. 3 de junho de 2012
A REDUÇÃO DO IPI DOS CARROS BRASILEIROS
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Entre leitores pacientes, conto com pessoas qualificadas como o biólogo e cordelista dos bons, meu ex-aluno Bartolomeu Leal de Sá. Recentemente, dele recebi mensagem contestando a atual política do governo cortando no IPI dos automóveis. Em sua argumentação, Bartolomeu esclarece: “As pessoas que desejam comprar ou trocar o carro usado aplaudem a decisão do governo para baixar os preços de automóveis e criar facilidade reduzindo os juros e aumentando o prazo do financiamento. Os que não têm carro alegram-se em poder realizar o sonho de ter mais conforto, e poderem se deslocar com mais rapidez”. Todavia, acrescenta: “mais carros nas ruas das grandes cidades significa trânsito congestionado, imobilidade urbana, poluição generalizada, atrasos, prejuízos, péssima qualidade de vida. O conforto do automóvel será o ar refrigerado, a música ambiente, as luzes dos controles no painel. Desfrutando de tudo isto, parado no trânsito”. Concordo com Bartolomeu. E acrescento que os congestionamentos contribuem para maior emissão de CO2, o gás-estufa que parece ser o vilão do aquecimento global (há quem conteste isso).
Como observa Bartolomeu, “O objetivo do governo não é bem tornar possível o sonho das pessoas [de ter o seu carrinho], mas aumentar o faturamento das montadoras, dos fornecedores, das concessionárias, dos produtores e vendedores de combustíveis, enfim aumentar o consumismo neste setor, aumentar o PIB, e em conseqüência arrecadar mais impostos, o que compensará a redução [do IPI]. Governos e empresas fazem acordos entre si, para ajustar seus interesses de faturamento, e não para ajudar o povo. Mas isto deixa os consumidores eufóricos”. Na verdade, o sonho das pessoas é viver bem, ter paz, poder sair sem medo à rua, confraternizar, aproveitar a beleza do mundo. Infelizmente, os meios de publicidade e de comunicação fazem crer que, para isso, é preciso consumir insanamente. Ora, consumir requer produção de bens e serviços. E produzir significa duas ações: extrair mais recursos da natureza (não se produz alguma coisa do nada) e jogar aquilo que se produziu e virou sucata algum dia de volta à natureza. De um lado, cavam-se buracos cada vez maiores, alguns dos quais eternos; de outro, amontoa-se detrito de todo tipo (cinzas, pó, lixo eletrônico, etc.), acumulando-se sujeira, parte da qual também eterna.
Promovendo o automóvel, supõe-se que o PIB vá crescer. O que aliviaria a tensão suscitada pela ameaça de declínio na atividade econômica. Numa ótica puramente econômica, isso pode fazer sentido. Contudo, levando em conta os impactos negativos da indústria automobilística, é óbvio que a saída tem que ser de outra índole. O que acontece é que o governo não tem orientação para determinar o tipo de crescimento que interessa ao país. Resolver problema de transporte da população não tem que levar ao automóvel. Pelo contrário, o modelo do carro está ultrapassado para o meio urbano. Como propõe Bartolomeu, “Seria mais eficaz... que o governo federal investisse ou atraísse investidores, para explorar serviços de trens metropolitanos de qualidade”. Sua justificativa: o “transporte público de qualidade é melhor que o transporte individual, de carro parado numa fila de trânsito congestionado”. Concordo.
Artigo publicado no DP, dom. 20 maio. de 2012
MENOS DE UM CONTRA MAIS DE 99 POR CENTO
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
O mal-estar que está causando ao país a lamentável peça de legislação saída da Câmara de Deputados no dia 25.4.12 dá todo sentido à monumental campanha “Veta, Dilma!”, em curso no país. Só o Greenpeace, uma ONG ambientalista de relevo mundial, conseguiu reunir quase 2 milhões de pessoas num abaixo-assinado pedindo à presidente que rechace o projeto dos deputados brasileiros. A propósito, o prof. José Eli da Veiga, da USP, escreveu no Valor – jornal paulista – de 15 do corrente: “Qual será o limite de desfaçatez dos que sonham com uma lei que legitime os desmatamentos criminosos dos últimos 12 anos e ainda torne desprotegidas as áreas úmidas, os manguezais, as margens dos rios, as encostas e os topos de morro?” Pois é isso justamente o que permite a decisão da Câmara Federal, ao aprovar a triste proposta de reforma – apoiada surpreendentemente por parecer de um congressista do PCdoB – do salutar Código Florestal brasileiro. Como lembra o respeitado prof. José Eli, meu amigo, o território brasileiro tem sido ocupado “por um esquema de desmatamento, queimada e capim que atropela todas as precauções intrínsecas ao cuidado de se manter as APP [áreas de preservação permanente]”. Diz-se que a necessidade de aumentar a produção agrícola do país impõe isso.
Só que, com o projeto da Câmara, as áreas protegidas teriam “imediato salto de valorização patrimonial, apesar de todos os riscos de erosão dos solos e assoreamento de rios” que adviriam da rejeição dos cuidados com terrenos frágeis do ponto de vista ambiental. Ótimo para os especuladores. O medo dos que têm destruído de modo sistemático nossas terras, levados por uma gula insaciável de lucro, é que o veto de Dilma Rousseff significa “exigir a reversão de tão trágico malfeito”, conforme José Eli, que cito também acima e abaixo. A Lei de Crimes Ambientais (de 12/2/98) está regulamentada desde 1999. Desmatar APP depois dela gera crimes dolosos “que, se perdoados, configuraria mais indulto que anistia”.
Daí por que é fundamental que não se crie uma situação em que o crime compensa – e crime em escala de 8,5 milhões de km2. A quem interessa que o projeto da Câmara passe? Aos menos de 1% de brasileiros que desmatam, põem fogo, destroem biodiversidade, aterram manguezais. Tentam disfarçar o crime alegando que não permitir que se avance em APP significa que os preços de alimentos vão subir em decorrência de diminuição da área cultivada. Daí ser preciso revogar o saudável Código Florestal em vigor. Essa é a argumentação da presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu (PSD/TO), a quem o relator do PCdoB, o hoje ministro Aldo Rebelo, equivocadamente se aliou. Estudo do próprio agronegócio, o “Outlook Brasil 2022”, mostra que a área necessária para expandir a produção de grãos até 2022 não chega a 3% do espaço coberto por capim. Ora, tudo isso equivale a querer impor a mais de 99% dos brasileiros, o que interessa a menos de 1%! Por algo assim começou a briga do Occupy Wall Street. Veta, Dilma!
Artigo publicado no DP, dom. 6 maio. de 2012
O TITANIC E A RIO+20
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
Em que medida o destino do Titanic tem a ver com a conferência da ONU no Rio de Janeiro em 20-22 de junho próximo, a Rio+20? Nada, aparentemente, uma vez que a grande reunião que se aproxima é uma comemoração da conferência de junho de 1992, a Cúpula da Terra, também conhecida como “Rio 92”, cujo tema foi meio ambiente e desenvolvimento (o da que irá ocorrer é desenvolvimento sustentável, com ênfase no que se está chamando de “economia verde”). Ambas dizem respeito às possibilidades de se promover oportunidades econômicas à luz das restrições ecológicas do planeta. É aqui que o fim do Titanic no dia 15 de abril de 1912 e o encontro da ONU se cruzariam.
A ideia vem do cineasta James Cameron, diretor do aclamado filme Titanic, que declarou, em recente programa da TV a cabo National Geographic, ser o afundamento do navio uma metáfora do que acontece no mundo, hoje, em termos de arrogância, prepotência e fé na impossibilidade de dar errado o modelo econômico de crescimento que as nações do mundo consideram como solução para o progresso. Como se sabe, do navio, que fazia sua viagem inaugural, dizia-se que jamais naufragaria. Segundo Cameron, a enorme máquina, “esse sistema humano, marchava para frente com tal dinâmica que não podia dar volta, não podia parar a tempo de evitar um desastre”. A seu ver, “isso é o que temos agora. Não podemos dar meia volta por causa da dinâmica do sistema, da dinâmica política, da dinâmica dos negócios”.
Sobre o assunto, o blogueiro Dave Gardner, no site http://steadystate.org, postou uma coluna (“O Código do Titanic”) no dia 19.4.2012 em que considera a metáfora de Cameron bastante adequada na medida em que o tamanho do navio significa que ele não era ágil. Nem podia parar bruscamente, nem mudar de curso. Era necessário que o comandante pudesse ver muito à frente para sondar o horizonte distante e planejar o curso da viagem com antecedência. Com uma população de 7 bilhões de pessoas, um PIB de 75 trilhões dólares, cidades em toda parte (do Nepal ao Marrocos, da China ao Brasil) entupidas de carros, obras de infra-estrutura monumentais que se erguem de todos os lados, o mundo vê sua máquina econômica mover-se a todo pano, com ímpeto inexorável. Com um agravante: quase ninguém deseja vê-la parar.
Em 1992, percebia-se claramente que a Terra estava com seus limites ameaçados pelo crescimento econômico (ficou pior em 2012). Daí, a noção de desenvolvimento sustentável – que a ONU conceituou como o da economia que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de satisfação das necessidades das gerações que virão. O uso excessivo da natureza conduz ao esgotamento não só de recursos não-renováveis, como também de renováveis cujas taxas de reposição não forem respeitadas. Isso é o que se vê agora, com a capacidade de assimilação de CO2 da atmosfera ultrapassada, pesqueiros esgotados, rios que secam, solos que se desertificam, biodiversidade que se extingue. É nesse contexto que se persegue uma “economia verde”, um sistema que respeite a capacidade da natureza de prover recursos. Sentido da Rio+20. Para que não nos aconteça o destino trágico do Titanic.
Artigo publicado no DP, dom. 28 abr. de 2012
“OCUPE ESTELITA, JÁ!”
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
O grito de guerra “Ocupe Estelita, já!” foi lançado no Recife, com êxito, no domingo de Páscoa, 15 de abril último. Iniciativa da sociedade civil, um movimento se estrutura por detrás dessa palavra de ordem que diz respeito à briga da população contra o destempero de se desmontar a paisagem recifense tão agradável de ver na região do cais José Estelita às margens da baía do Cabanga. Lembro-me, quando criança, indo da casa de minha avó, no Pina, de ônibus, para o centro do Recife, e passando por esse local singular. Os armazéns dali, então fervilhando de estivadores e caminhões carregados de sacas de açúcar, compunham um cenário que agradava, o bairro de S. José emoldurando-o. Depois veio o absurdo do viaduto das Cinco Pontas, monumento à burrice arquitetônica, esmagando o forte de tanto significado histórico. Felizmente, urbanizou-se o cais e deixou-se a passagem livre para contemplação. Diante disso, o destino que as autoridades querem dar ao cais José Estelita, vendendo-o a especuladores imobiliários, é uma ofensa de enormes proporções à memória da capital pernambucana.
Frente ao descalabro, rebela-se a população. É a batalha dos 99% de desprezados contra o 1% de beneficiários das arbitrariedades governamentais e da sede insaciável de lucro. A mesma motivação do movimento que iniciou a rebeldia contra a prepotência dos que se julgam donos dos destinos da coletividade. Como se sabe, tal movimento começou em Nova York (no Zuccotti Park) em 17.9.2010 com o nome de “Occupy Wall Street”. Nasceu, segundo um dos que o conceberam (Kalle Lasn, editor da revista Adbusters), a partir de eventos como a Primavera Árabe, as ações anarquistas nas ruas da Grécia, o protesto dos jovens “Indignados” da Espanha. Ou seja, trata-se de uma luta da sociedade contra o aparato que reprime a manifestação de maiorias substanciais da população. No caso americano, foi a percepção de como os ricos têm ficado absurdamente mais ricos enquanto 99% da sociedade não sai do canto ou enfrenta desemprego e declínio da renda real. Conforme Lasn, algo tem que ser feito para mudar o país. Nas suas palavras “Criemos um momento de Praça Tahir na América”.
É o que precisa ser feito no Recife, em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil. Lasn, sobre o Ocupe Wall Street, afirma: “Precisamos de uma mudança de regime também nos EUA”. Não, porém, “uma mudança dura como no Egito, onde ditadores torturavam gente. Estamos atrás de uma mudança suave”. Sem violência, claro. Ora, aqui entre nós, as ações públicas surgem embaladas por muitas formas de violência. Em Suape, por exemplo, muitas pessoas que ali sempre viveram reclamam de milícias armadas que as estão sitiando e ameaçando. É o vezo autoritário que continua valendo em plena vigência da democracia, conquistada a duras penas (sim, aqui houve tortura!). Está na hora de toda a sociedade reagir. De se rebelar contra a destruição de bens públicos, como essa do cais José Estelita. A cidade do Recife já foi demais sacrificada, como pela construção das abomináveis torres do cais de Santa Rita e da horrorosa av. Dantas Barreto. Está na hora de um “Ocupe o Recife” intenso, efetivo, corajoso.
Artigo publicado no DP, dom. 8 abr. de 2012
OS VIADUTOS DA AGAMENON MAGALHÃES
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
Em 1978, passei algumas semanas como professor visitante na Universidade de La Trobe, em Melbourne ( Austrália). Voltei de lá impressionado com a qualidade do transporte de massa da respectiva região metropolitana. Um casal australiano de amigos e compadres (Rowan e Mary Ireland) me dava hospedagem (e a minha filha, Claudinha). Era fácil ir de sua casa, na cidade satélite de Lower Plenty (havia até uma Olinda nas redondezas) ao centro de Melbourne, cidade maior que o Recife. Tomava-se um trem e depois um bonde. Tudo rapidíssimo. O mesmo sistema, com aperfeiçoamentos, encontrei em 2000, quando lá estive de novo. Imaginei em 1978 por que o Recife não poderia ter algo semelhante. Trens, por exemplo, que saíssem do centro da cidade e fossem para Maria Farinha, para Barra de Jangada, para Beberibe ou Paulista, para Camaragibe, para Tejipió. Como isso, apoiado em linhas suplementares de bondes, facilitaria a mobilidade das pessoas! Tentei vender a idéia onde pude, mas não havia audiência. Não dá para estranhar que se chegue a 2012 no Recife com um sistema de transporte público estrangulado. E que surjam soluções paliativas mirando a Copa de 2012, como é o caso desse projeto local para a av. Agamenon Magalhães. Todo ele apoiado no modelo do ônibus.
A questão é que viaduto significa prioridade para os carros e não há futuro na primazia do automóvel como meio de transporte urbano. Os países mais ricos do mundo estão abrindo espaço cada vez mais para a bicicleta e, desde há muito (a exceção é os EUA), investem em trens e bondes. É assim na Suíça, na Áustria, na Holanda, na Itália. Os turistas brasileiros que andam por lá (pena que as autoridades, quando viajam, tenham transportes individuais em carrões) vêem como a coisa funciona, e bem. Até mesmo em Portugal, cujo desenvolvimento não é dos maiores, os transportes públicos oferecem condições bem melhores que aqui. É famosa, em Lisboa, a linha de bonde conhecida como Carreira 28, cujo terminal sul é no cemitério dos Prazeres (nome curioso). Há mais de um século que funciona.
É comum o governo alardear planos mirabolantes como favas contadas e exibir plantas, maquetes, animações que procuram convencer o público de que tudo foi bem planejado e que se terá no futuro aquilo que desenhos bonitos mostram. Tal é a sensação que experimentei vendo a publicidade da administração estadual com sua proposta para a Agamenon Magalhães. Não está em questão o intento do governo de melhorar a vida das pessoas, facilitando seus deslocamentos. Mas interessa aos usuários e a quem habita os espaços vizinhos à avenida que mais carros não convirjam para lá. Pelo contrário, é necessário afastá-los da cidade de modo geral, e que não se enfeie ainda mais a paisagem. Assim, causa a maior estranheza que nada se tenha feito para privilegiar a bicicleta no novo projeto e que o meio ferroviário não esteja nele contemplado. Vai se eternizar a hegemonia do ônibus com todas as limitações e falta de leveza a ele associadas? Os viadutos da Agamenon Magalhães sinalizam para isso. Mesmo que se ofereça uma solução de última hora contemplando bicicletas. Marginalmente.
Artigo publicado no DP, dom. 25 mar. de 2012
DESIGUALDADES PERSISTENTES
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social; clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Há cerca de um mês, um tio do marido de minha empregada de Olinda, José Ivanildo dos Santos, de 42 anos, passou mal e desmaiou na rua em S. Cruz do Capibaribe. Aí morava e fazia serviços de pedreiro. Sem documentos na ocasião, foi levado ao hospital público da cidade. A família, obviamente, não pôde ser logo notificada. E o caso era sério: requeria UTI. Esse recurso não estava disponível em qualquer lugar próximo – como foi dito aos parentes. O paciente foi levado então para Juazeiro do Norte (CE), local mais perto onde o sistema de saúde teria identificado uma vaga de UTI, a quase 600 km de distância. De recursos modestos, não foi possível à família prestar assistência a José Ivanildo. Ainda se conseguiu que alguém fosse até Juzeiro para se inteirar da situação e fazer uma visita ao doente. Ele não voltou do coma em que tinha entrado e faleceu uma semana depois (parece que tudo começou com comida estragada de que ele se serviu). Lutando com dificuldades, os familiares conseguiram trazer o corpo para Santa Cruz, onde foi enterrado. A prefeitura de Juazeiro deu o caixão. A família arcou com as despesas de transporte. Acompanhei de perto o drama e também colaborei para as despesas.
No mês de janeiro, meu amigo, o antropólogo e professor da UFPE Renato Athias, que estuda assuntos indígenas, estava em São Gabriel da Cachoeira, quase fronteira com a Colômbia. Sentiu-se mal. Foi a pé até o hospital que o Exército mantém ali e, logo, lhe diagnosticaram um infarto agudo. Ao mesmo tempo, mesmo sem um cardiologista na equipe médica do hospital, deram-lhe tratamento preciso, o que lhe salvou a vida. Uma UTI aérea foi providenciada e o levou até Manaus, a 850 km de distância. Na capital amazonense, fez-se o que era necessário e Renato hoje está de volta a suas atividades, recuperado do susto por que passou. Ótimo que tenha sido assim. Essa é a maneira com que todo cidadão brasileiro deveria ser tratado quando precisasse de algo tão importante quanto socorro médico. Aliás, trata-se de um direito civil consagrado pela Constituição Brasileira em vigor. Lamentavelmente, porém, o modo com que José Ivanildo e Renato foram tratados evidencia enorme desigualdade social. Algo que, na verdade, é um traço característico de nosso país.
Na semana que passou, fui a uma audiência no Fórum de Gravatá. Tive que firmar um documento. Um jovem de uns 20 anos, também na mesma audiência, não pôde deixar a assinatura no papel. Ficou sua impressão digital. Ou seja, de um jovem completamente analfabeto. Caso isolado? Sabemos muito bem que não. Os excluídos de nossa sociedade são enganados, na maioria dos casos, em termos da educação que recebem. Tenho um excelente trabalhador na minha propriedade de Gravatá – verdadeiro engenheiro, pelas habilidades que revela (até computador conserta!). Mas não lê. Soletra. Tem carteira de habilitação e é exímio na direção de carros e motos. São inumeráveis as situações dessa natureza em Gravatá, em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil. Que país desigual, este Brasil!
Artigo publicado no DP, dom. 11 mar. de 2012
A HORA E VEZ DA BICICLETA
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
É visível, para quem pensa, que as condições do transporte urbano na Região Metropolitana do Recife caminham para o caos mais completo. Não adianta construir viaduto. Na verdade, isso, no longo prazo, só faz piorar. É que funciona como atrativo para que os carros individuais, que geram o problema, continuem a entrar impunemente no tecido da RMR. Em toda parte do mundo onde a sensatez tende a imperar, o que se faz é dificultar, nas cidades, a vida do automóvel – tão apreciado como suposto fator de mobilidade e símbolo de status. Na Bélgica, empresas estão pagando aos funcionários para que se dirijam ao trabalho de bicicleta. Em Cingapura, o correspondente a nosso IPVA é tão alto que quase equivale a se comprar um novo carro todo ano para poder andar com o velho. Em Londres, desenharam-se anéis em torno do centro da cidade para entrar nos quais, de carro, paga-se um pedágio cada vez maior à medida que se chega perto do eixo de referência. A cobrança é feita através de cartão magnético colado no parabrisa dos veículos por leitura de câmeras instaladas exatamente para tanto. Há lugares na Europa onde, simplesmente, os autos não entram. Caso de Louvain-la-Neufe, na Bélgica. E de Vauban, subúrbio de Freiburg, no sudoeste alemão, perto da França e Suíça.
Bom, em todos esses lugares, os transportes públicos são de qualidade muito superior aos da RMR. Mas, a despeito disso, promove-se o uso da bicicleta. Esta é encontrada na Europa inteira. Amsterdã, Berna, Bremen, Cambridge, Copenhague, Gotemburgo – cidades de elevado padrão de vida – oferecem as melhores condições possíveis para ciclistas. Nas estradas de rodagem européias é comum a existência de vias paralelas para bicicletas. Indo de trem de alta velocidade, certa vez, de Paris a Genebra, eu via quase ao lado dos trilhos, em certos trechos, rodovias, ciclovias e canais por onde trafegavam balsas, iates a barcos leves. Se alguém vai do Recife a Gravatá, o que tem como opção? Somente uma BR-232 cada vez mais martirizada pelo tráfego que não pára de engrossar.
Está na hora de dar valor à bicicleta na RMR, transporte que muita gente de baixa renda já utiliza no seu dia-a-dia. Como seria conveniente que uma faixa exclusiva fosse reservada para ciclistas de Olinda a Candeias pela Agamenon Magalhães e vias que lhe correspondem no trajeto! Ou da Pracinha do Diário a Camaragibe. Ou do Marco Zero à Macaxeira, tendo como eixo a av. Norte. Mas não é pintar a faixa exclusiva e deixar os afoitos pedalando suas bicicletas sob a ameaça de motoristas enfurecidos. Necessita-se de isolar completamente o espaço cicloviário, proibindo-o também às ameaçadoras motos que infernizam o trânsito recifense. Quando vereador do Recife, há 20 anos, o saudoso comunista histórico Byron Sarinho conseguiu aprovar lei criando ciclovias no Recife. Se tivesserm sido implantadas então, como estariam melhor a cidade, seus habitantes e o trânsito infernal que nos martiriza!
Artigo publicado no DP, dom. 26 fev. de 2012
CARNAVAL, ATRASO E DESIGUALDADE
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
Passado mais um Carnaval, é inevitável que se avalie o que aconteceu. Como folião de Olinda, posso dizer que a festa da cidade agradou. Houve progresso em relação a anos recentes, com mais liberdade de circulação para blocos e pessoas, por exemplo. Sabendo-se evitar certos pontos, tudo corre de forma agradável. É isso que faço. Não passo na rua Prudente de Morais, nos 4 Cantos, na Ribeira, na pç. de São Pedro, na rua do Bonfim. Esses espaços tornam-se aberrações (inventam um carnaval próprio, pobre de valores e de conteúdo). A escolha do horário também é importante. O bom carnaval termina no começo da noite. Depois, é gente bebendo, parada no meio da rua, homens urinando nas calçadas, sem nenguma graça. Nas manhãs e tardes, entretanto, tem-se a oportunidade de pegar Ceroula (que era melhor quando saía às 15h), Eu Acho É Pouco (o de adultos e a versão mirim, esta às 9h da segunda-feira), Mulher na Vara, Sala de Justiça, Bonecos Gigantes. Fora desse tempo, bom mesmo é o Homem da Meia-Noite, que este ano foi um arraso. No Recife, onde vou uma única vez nos dias de carnaval, o desfile do Galo da Madrugada, que começa às 9h, ainda oferece coisa boa. Mas só até a pç. Sérgio Loreto e longe dos trios barulhentos que o monopolizam cada vez mais (acompanho a Frevioca; mas a orquestra no chão de 2011 foi muito mais gostosa).
Passada a Sérgio Loreto, o desfile desemboca num corredor abominável. Embaixo, o povão, incluindo pessoas de outros níveis, mas que preferem o ruge-ruge momesco da folia popular. Trepados em camarotes de luxo, nas beiradas, os privilegiados de todas as estirpes, capitalistas, socialistas e comunistas, todos irmanados na inglória ação de não se sujar dos odores e suores do povaréu, preferindo a companhia de autoridades, parceiros, lobistas, carreiristas, amigos de ocasião que desfrutam do melhor que a classe poderosa sabe reservar para si. Eu fujo dessa situação constrangedora, à qual um cunhado meu, major do exército, que dela experimentou, se refere como “nojenta”. Ele, que é paranaense, acredita que, em 5 anos, o Carnaval do Recife virará festa baiana. Aliás, um casal de amigos paulistas que veio para Olinda e ficou, com os filhos, no exemplar Hotel 7 Colinas – guardião do bom carnaval –, foi uma noite ao Recife Antigo e não se agradou. Avaliou melhor o carnaval de Olinda, com mais vibração, dança na rua, alegria de quem brinca sem querer incomodar ninguém.
Numa conversa posterior com amigos e familiares que vinham a minha casa (tivemos, nos 4 dias, um total de 125 pessoas alomoçando comigo e Vera, algumas todos os dias), a impressão que se tem é de que o cenário que se vê reflete bem a condição de atraso cultural e educacional que caracteriza nossa sociedade, além dos privilégios de que desfruta a classe dominante. Impressiona, por exemplo, como carros que nada têm a ver com Olinda ocupam os estacionamentos. Na minha rua não ficam os veículos de minha casa, retirados para deixar espaço para os foliões. Aí vêm os forasteiros, alguns com placas de outros estados, com ou sem adesivo de morador. Na terça-feira, durante todo o dia um carrão negro (Hyundai Santa Fe), do Recife, sem adesivo, achou pouco; passou o dia inteiro estacionando sobre a calçada! Sem dúvida, nossa sociedade incivil, atrasada e prepotente assegura as aberrações do Carnaval.
Artigo publicado no DP, dom. 13 fev. de 2012
O SOFRIMENTO DA POPULAÇÃO EM IPOJUCA
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
Durante muito tempo, eu ia com assiduidade à região das praias de Ipojuca, a de Muro Alto, que descobri em 1972, em especial. Todo o espaço ali existente me encantava enormemente e às pessoas com quem fazia programas no lugar (programas que não eram só de fim de semana). Levei muitos estrangeiros para conhecer as belezas de Porto de Galinhas, Cupe, Gamboa, Suape, Calhetas. Foram tempos memoráveis. Nos contatos com a população, sobressaía uma pobreza altiva. Havia um único residente em Calhetas, por exemplo, pescador, que morava com a mãe. Parecia um homem muito feliz, vivendo com dignidade. O mesmo transparecia de famílias humildes que apareciam em Muro Alto (então uma praia totalmente desabitada e sem estradas de acesso), aos domingos, para o divertimento de colher ouriços do mar, assá-los e comê-los ali. Algumas vezes meus acompanhantes e eu provamos da iguaria. Na vila de Nossa Senhora do Ó encontrávamos as mangas mais deliciosas da Região Metropolitana do Recife. Perto de Suape, os cajus e as mangabas eram fantásticos. Bom, isso é só uma pincelada rápida do que eu poderia sair dizendo sobre a região que hoje simboliza o “progresso” de Pernambuco e na qual só estive duas vezes, muito a contragosto, nos últimos 17 anos.
A última vez, a convite da comunidade franciscana de Ipojuca, foi para dar uma palestra em 3.11.11, sobre os impactos do complexo industrial-portuário de Suape. Aliás, desse mesmo tema tratou um manifesto criticando a obra, que escrevi, foi subscrito por alguns nomes de peso da ciência em Pernambuco e saiu publicado em abril de 1975 no Jornal da Cidade (semanário hoje extinto). O documento, que pode ser encontrado no Google, alertava para realidades trágicas como as que hoje se delineiam no município de Ipojuca e outros vizinhos. A situação observada, de fato, mostra que as populações aí vivendo constituem verdadeiros mártires dos interesses hegemônicos da economia. Pude ver isso no dia 3.11.11, a começar do trânsito infernal que se tem de enfrentar para chegar e sair de Ipojuca. Na palestra que proferi havia umas 200 pessoas, inclusive autoridades do município. Estas, aliás, foram as únicas que, sem negar os problemas existentes, procuraram fazer uma defesa dos inevitáveis “custos do progresso”. Depoimentos candentes foi o que o público em geral ofereceu. Algo semelhante está acontecendo no momento, em escala até maior, na Mongólia, para satisfazer a voracidade do absurdo crescimento chinês. É imensa a dimensão do impacto sobre os bens da natureza que lá e aqui se produz. Igualmente, impõe-se um sacrifício humano que destrói pessoas, famílias, comunidades, formas de vida – um bem-estar que jamais será reposto. Tornam-se explicáveis, dessa forma, os protestos constantes que se verificam nas proximidades das obras de Suape. E tornam-se louváveis atitudes, como a do Psol, que tem se empenhado em mobilizar os atingidos pela megalomania de Suape. Uma obra que jamais atrairia para morar em suas proximidades aqueles que a defendem com unhas e dentes.
Artigo publicado no DP, dom. 29 jan. de 2012
OLINDA, CARNAVAL E ELEIÇÕES
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
A expectativa da chegada do Carnaval é um momento de aperreio para quem mora no sítio histórico de Olinda e para quem ali paga seu IPTU. As autoridades municipais falam que as “prévias” atraem turistas, os quais supostamente deixariam um retorno financeiro para a cidade. Deve-se duvidar dessa asserção. Os “turistas” que invadem Olinda aos domingos nesta época do ano não estão nem um pouco interessados nos valores culturais e históricos que fazem da cidade um lugar especial. São pessoas de baixa demanda de cultura, que vão ali à procura de imaginária zona franca para vazão de instintos incivis, totalmente inadequados para ambientes com foros de civilização. Ou será que o turismo é atraído por arrastões, depredação do patrimônio, lixo jogado no espaço público, urina despejada acintosamente no meio da rua? Será isso que se vê na Times Square, de Nova York, no Palácio de Buckingham, em Londres, no Largo do Chiado, em Lisboa? Minha prima Lita, que mora perto da prefeitura de Olinda, contou-me na semana que passou que, em frente a sua casa, numa ladeira, aos domingos, urina desce continuamente pelo pé do meio fio como se fosse água de chuva. Que “turismo” é esse que tanto agrada aos gestores municipais? O fato é que, sem exceção, quem mora na cidade alta, deplora de forma veemente os festejos carnavalescos da atualidade que ali se verificam durante meses até o tríduo convencional. No meu caso, que tenho a sorte de residir no sítio histórico, mas em rua poupada da desordem (sofro, porém, da poluição que os amantes do lixo musical impõem), não tenho como sair de carro aos domingos. Ou tranco-me com Vera, minha mulher, em casa, ou vamos para o ambiente salubre que temos no brejo de altitude de Gravatá.
Os infortúnios por que passam os olindenses levam a que se deva pensar com cuidado na eleição municipal deste ano. Não se pode mais ter o partido que comanda a cidade desde 2001 no poder. É preciso substituí-lo por uma proposta de mais respeito à cidadania dos eleitores dali. O Carnaval de Olinda tem que ser desenhado de acordo com a visão dos seus habitantes. Por que essa festa tem fama? Porque, no passado, ela era um momento de sonho, de alegria, de confraternização, de respeito à convivência em nível elevado. Em 1976, por exemplo, primeiro ano da administração do prefeito Germano Coelho, o Carnaval foi uma beleza. Mas havia a permissão para os carros circularem no meio dos blocos. Em 1979, por conta de uma mobilização dos moradores, que assumiram diretamente a responsabilidade pela providência, essa permissão foi revogada. Bloqueou-se a cidade ao trânsito de veículos. Foi difícil; havia quem burlasse a proibição; mas o balanço foi positivo. Nos anos seguintes, aperfeiçoou-se a norma, embora haja quem teime em desrespeitá-la. Algo tem que ser feito para restituir a paz e o encanto do Carnaval olindense. O prefeito atual já se mostrou incapaz disso. Está na hora de encontrar novo gestor e outro partido que restaurem a Olinda de nossos sonhos.
Artigo publicado no DP, dom. 15 jan. de 2012
PROGRESSO PRECÁRIO, SE É QUE É PROGRESSO
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
Tenho uma experiência de quase 38 anos como proprietário no brejo de altitude do município de Gravatá (PE). O local é ímpar. Sempre foi tranqüilo, a ponto de deixarmos aberta, até hoje, nossa casa de campo, quando nos distanciamos dela. Salvo duas exceções, nunca, ali, se deu desaparecimento de qualquer coisa. Na primeira investida (em 1985), um ladrão, à noite, roubou alguns cobertores e um par de sandálias havaianas. Na outra ocasião (2007), um mais sofisticado (que logo identificamos) carregou vinhos, uísques, taças e um abridor europeu de garrafas. Ultimamente, essa paz está sendo ameaçada. Pela violência que extrapola das cidades maiores de Pernambuco. Pessoas da região vêem com temor a invasão do crack, de que se afligem famílias cujos filhos não querem trabalhar e se entregam ao vício. Assaltos nas estradas tem se tornado comum. No sábado, 6 de janeiro, às 18h30, um rapaz do brejo (de nome Jaime, e conhecido como “Dílson”), foi vítima de assalto quando voltava da cidade, a 10 km de distância. Dois ladrões tentaram tomar-lhe a moto no local do Riacho do Mel. Ele não entregou o bem que havia adquirido há pouco. Foi morto, junto com seu carona. Tinha 18 anos. No mesmo dia, às 6h, quando tomava o café, um morador de mais idade do brejo, viúvo (seu Djalma), viu entrarem dois malfeitores em sua casa. Pediram dinheiro. Ele falou que não tinha. Aí, levou uma pisa e tiraram a quantia modesta que carregava no bolso. Mais tarde, ele reclamou a minha ex-empregada Zeza, sua vizinha, que nunca apanhara de ninguém, nem do pai nem da mãe.
Algumas estatísticas mostram diminuição da violência no Recife e região metropolitana, mas no estado como um todo os índices não têm caído. Isso não é indicador de progresso. Ao longo dos anos de minha ligação com a zona rural de Gravatá, tenho presenciado algumas mudanças positivas. Quando cheguei lá, por exemplo, não havia energia elétrica. Só em 1980, passamos a ter luz na casa (mas era melhor sem ela...). As pessoas andavam a cavalo, jegue, burro ou a pé. Hoje pegam paus-de-arara, ônibus, motos. Alguns têm carro. Todos vêem TV, embora, com antenas parabólicas, estejam perdendo sua identidade nordestina. As escolas (públicas) dali, entretanto, são ruins. Ensinam muito pouco – o que, aliás, não difere da precariedade geral que se verifica na zona urbana do interior pernambucano. Constatação análoga se aplica à área da saúde. Nesse ponto, na verdade, os serviços no interior do estado merecem muitas críticas. Na quarta-feira, dia 4 de janeiro, um incêndio próximo a minha propriedade avançava para ela. O caseiro ligou preocupado. Acionei os bombeiros. Eles foram lá, mas estavam cansados. E acabou a água porque faltava eletricidade para bombeá-la. Dois trabalhadores meus, mais um rapaz vizinho e uns “pirralhas”, terminaram pondo fim ao fogo. Usaram abafadores dos bombeiros, que, sentados, observavam a luta dos locais e os elogiavam pela ajuda que ofereciam. Segundo eles, incomum. Quanto à energia elétrica, voltou no dia seguinte. Com árvores queimadas, canos de água derretidos, o chão transformado em tapete negro. Não, isso não é progresso.
Artigo publicado no DP, dom. 1 jan. de 2012
LIÇÕES DA CONJUNTURA EM PERNAMBUCO
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
Nas últimas semanas, duas notícias deixaram apreensivas as pessoas que cultivam valores de decência e zelo com a coisa pública. A primeira delas falava da retirada do apoio do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) ao trabalho que a ASA (sigla da Articulação do Semi-Árido, uma ONG que trabalha no sertão) realiza. Com êxito, a ASA tem construído cisternas de placas para aliviar o problema da falta de água das populações rurais sertanejas. De repente, surge a informação de que o MDS quer introduzir cisternas de plástico no lugar das apreciadas cisternas de placas. Estas custam menos da metade do preço daquelas, empregam material e mão-de-obra locais em sua confecção e dispensam transporte para os sítios de instalação. Apenas duas das de plástico, devido a seu tamanho, cabem nos caminhões que as transportariam. Ora, o programa da ASA é de um milhão de cisternas. Já foram instaladas 350 mil. Logo, 650 mil teriam que ser carregadas nas estradas, com encarecimento exorbitante do projeto todo. E com dispensa de força de trabalho sertaneja, inclusive para os reparos das cisternas. Como salienta o pesquisador João Suassuna, a ASA é “uma instituição que vinha desenvolvendo um dos trabalhos mais viáveis na solução definitiva das questões do abastecimento das populações difusas residentes no polígono das secas”. Felizmente, o bom senso prevaleceu, depois que uma onda de protestos indignados cobrou apoio para a ASA. Em seguida a uma reunião dela com o MDS, o governo voltou atrás. Continuará com os apoios ao programa “Um milhão de cisternas”. No episódio foram vitoriosos a prudência, a sensatez e o poder de articulação dos movimentos sociais. Em benefício do bem público.
Tristemente, não é essa a sensação que causa iniciativa da Assembléia Legislativa de Pernambuco, de beneficiar deputados de legislaturas passadas com um misterioso “auxilio-moradia”. Pior são as justificativas para isso. Uma delas se refere ao fato de que se padre é remunerado, por que não deputados? Ora, o que o caso está mostrando é uma falta total de sintonia dos deputados estaduais de Pernambuco com a realidade da população e seus sentimentos. Qual é o trabalhador que, morando em Paulista e trabalhando em Suape, vai poder ser ressarcido de gasto de moradia para ganhar salário pouco acima do mínimo. A situação que se criou em Pernambuco causa enorme mal-estar. Vale referir o que aconteceu na Grã-Bretanha em 2009. Membros do Parlamento (deputados federais) de lá, moradores de cidades distantes, recebem auxílio para alugar apartamento em Londres. Alguns usaram essa verba para fazer reformas em suas casas permanentes. Quando o caso foi descoberto, estourou um escândalo que causou reações raivosas dos eleitores. Como resultado, muitos deputados renunciaram, alguns foram presos e todos tiveram que devolver os recursos mal empregados. Uma lição que deveria ser aprendida e aplicada aqui. Ao invés disso, os deputados mostram desdém quanto à opinião pública e se divertem alegremente nas suas esbanjadoras confraternizações de fim de ano. Mau.
________________________________________________
Artigo publicado no DP, dom. 18 dez. de 2011
ATRASO PERSISTENTE DO BRASIL
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
Fala-se constantemente sobre a ocorrência de um processo de ascensão social no Brasil na última década. Não consigo me convencer de que isso seja verdade. Pelo menos, na minha compreensão, se existe, não se trata de um fenômeno sustentável. Na semana passada, conversando com um frentista do posto de gasolina onde abasteço meu carro, indaguei por que há tanta mudança no quadro de empregados dali. Ele me disse que é uma dificuldade estrutural – chamemo-la assim (interpretação minha). Não se consegue contratar gente “responsável”. Ninguém quer trabalhar. As pessoas de perfil de renda mais baixo preferem, segundo o frentista, o benefício de uma bolsa qualquer dessas que o governo distribui em abundância. Tais pessoas, jovens, não se guiam por princípios de civilidade. Nas proximidades fica um bairro periférico de Olinda, a Ilha do Maruim, onde se poderia recrutar mão-de-obra. Mas o nível de educação dos candidatos é muito fraco. O frentista me contou que ouviu de mais de uma professora pública do lugar como a vida delas não é fácil. Por exemplo, recebem ameaças de alunos que pedem para não colocarem falta nos dias em que não vão à aula. É para garantir a migalha da esmola do governo. Uma professora da comunidade do convento franciscano de Olinda, por sua vez, freqüentadora da missa a que assisto, relata histórias que dão conta da educação lamentável que se oferece à juventude.
É óbvio que uma sociedade que não ataca com disposição a questão de educar os moços está fadada a destino miserável. Não importa que as pessoas consumam, ainda mais quando se trata de um consumo tão oco como este do período natalino. Crédito? Sua expansão é só o prelúdio da formação de bolhas financeiras que, mais cedo ou mais tarde, explodirão, como ocorreu nos EUA em 2008, acontece neste momento na Europa, pode manifestar-se aqui. De forma paralela, o quadro da saúde brasileira é dos mais tristes. O tratamento do ex-presidente Lula, beneficiado com todos os privilégios a que tem acesso a classe rica – o 1% do movimento “Occupy” – evidencia uma realidade cruel do país. Essa realidade se traduz no fato, por exemplo, de que, no Brasil, o número de pessoas que não têm acesso a saneamento básico (situação que ilustra um quadro de extrema pobreza), em 2010, era muito maior do que toda a população do país em 1940: 106 milhões contra 41 milhões de habitantes, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. Não dispor de saneamento no domicílio indica melhor a miséria do que dados de renda por pessoa. Ou se consegue conceber um ser humano vivendo bem e que não possua saneamento básico em casa? Eu seria um desgraçado se me enquadrasse nisso.
Que adianta ter celular, forno de microondas, um carro comprado a prestação pesada, se os filhos não estudam de fato? Mesmo a saúde dos afluentes não garante bem-estar. A irmã de uma nora minha, residente na Holanda, onde tem cobertura da saúde pública, possui plano aqui também. Neste mês de dezembro precisou ser operada no Recife; foi um drama, semanas de tempo perdido na seguradora, mal-estar indizível. Isso, no caso de quem pode pagar. E quem não pode? Vivemos um atraso persistente e insuportável.
Artigo publicado no DP, dom. 20 nov. de 2011
POR QUE NÃO FUI À FLIPORTO EM OLINDA
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
Acho estranho que a Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) decida por si própria que vai ficar em Olinda em 2012. Ora, para mim, e muitos outros habitantes do Sítio Histórico, esse evento se transformou num transtorno. Quer ir para Olinda, vá para o Centro de Convenções. Ou para Peixinhos. Não para a praça da Preguiça, o Sítio de Seu Reis, etc. Essa festa se julga proprietária da cidade? Ela paga o IPTU anual (pago o meu de uma vez sempre no mês de fevereiro)? Fujo de um encontro assim, que traz um guru (literato? Prêmio Nobel?), para falar de leis espirituais em meia hora de palestra por 150 mil reais. Ora, vá ser materialista assim na quinta dos infernos. Se é para orientar uma meditação de 7 minutos, por que não chamar a mestra Célida Samico, que mora junto do Mosteiro de São Bento, sem ônus maiores? Por que não dar os 150 mil reais do guru ao Seminário de Olinda e realizar lá atividades realmente literárias? O seminário está desabando. Olinda perderá o charme que faz com que se deseje tanto usá-la como cenário para encontros e badalações (Casa Cor é a bola da vez), caso monumentos como ele virem ruína. Essa foi uma das razões que me fizeram fugir da minha cidade para meu refúgio de Gravatá na sexta, dia 11.11.11, e voltar no dia 15. Disse-o a minha amiga querida Fátima Quintas, explicando por que não ia ao lançamento de seu belo livro sobre o Oriente em Gilberto Freyre. Aliás, convém lembrar as inúmeras personalidades ilustres que o grande sociólogo, meu amigo também, trouxe a Pernambuco sem pagar nada (ou pagando honorários simbólicos). Uma delas, por exemplo, o grande teatrólogo Eugene Ionescu, membro da Academia Francesa, que falou na Fundação Nabuco em agosto de 1982, numa rica reunião do Seminário de Tropicologia.
Eu mesmo trouxe, com Roberto Cavalcanti, dois vencedores (mais tarde) do Prêmio Nobel de Economia, para palestras no Recife, sem gastar um tostão: James Tobin, meu professor em Yale, que foi chefe da assessoria econômica do Pres. John Kennedy, em 1968, e Gunnar Myrdal, cuja mulher (Alva) também ganhou o Nobel (da Paz), em 1969. Sem falar na visita do extraordinário economista romeno-americano Nicholas Georgescu-Roegen, em julho de 1973. Nomes assim, da ciência, são de pessoas que enriquecem o conhecimento, sem cobrar nada quando falam. Caso, vale mencionar, de Albert Einstein, outro Nobel, o cientista mais importante do século XX, que esteve no Brasil em maio de 1925, a custo zero. A idéia da Fliporto é boa, claro. Quem a faz e freqüenta contribui para a cultura. Mas que seja, de fato, um encontro da melhor literatura e que não perturbe a vida já tão sacrificada dos olindenses. Vá para o Parque da Jaqueira em 2012. Não para o Sítio Histórico de Olinda.
Artigo publicado no DP, dom. 6 nov. de 2011
DOMINGOS SEM LEI EM OLINDA
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
Muitas pessoas em Olinda pedem-me para transmitir o furor que sentem diante do aparente desgoverno da cidade. Outro dia, quando eu corria na Orla, fui parado por um casal que rogou que eu expressasse aqui a angústia dos moradores da área onde vive, perto da caótica praça de São Pedro. Nem anotei seus nomes. Mas o que ali me foi pedido está bem expresso em texto de meu médico, Carlos Marinho, morador da rua do Bonfim. Sua casa, aliás, reformada de acordo com as regras do Iphan, foi incluída em álbum da Caixa Econômica Federal como exemplo de boa prática de preservação do patrimônio olindense. Carlos Marinho, cidadão participante, folião, amante da cidade, intitulou seu texto de “Domingo sem lei ou Olinda, patrimônio dos arrastões”. Nele começou escrevendo: “Tombada pelo Iphan e Unesco, a cidade alta de Olinda, conhecida também como Sítio Histórico, vem a cada final de semana transformando-se em verdadeiro inferno para seus moradores, comerciantes e turistas. Com o cair da tarde, principalmente aos domingos, a cidade histórica é invadida por drogados, gangues de marginais, batuqueiros da desordem e da paz pública, carros, muitos carros, obstruindo ruas e ladeiras, transformando a cidade alta em verdadeiro caos urbano, e deixando os moradores reféns em suas casas, já que não podem sequer exercer o direito de ir e vir, tamanha a confusão de gente, de automóveis e arrastões. Pensar que todo esse descaso ocorre sob as vistas do poder público, representado pela Prefeitura Municipal de Olinda, Segurança Pública e Governadoria do Estado, é de fazer chorar”.
Acrescenta Carlos Marinho: “Não bastasse o som alto e de mau gosto, na maioria das vezes, produzido pelos batuqueiros de plantão dos finais de semana, o ambiente dantesco se completa por uma legião de barracas, isopores infectos, carros que se transformam em bares ambulantes em cada esquina, quebra-quebra de garrafas e todo tipo de lixo da fanfarra, jogado às ruas. Gente urinando nas calçadas e um comércio, de todo tipo de drogas, complementam o trágico cenário dos domingos sem lei. O incrível e inadmissível é que o poder público não se deu conta, ou não consegue demonstrar nenhuma estratégia convincente e de sua exclusiva responsabilidade para coibir tais exageros e desmandos. Sabe ele, e não deve esquecer que, eleitos ou não, são os impostos pagos pelo povo que mantêm os governantes e que deveriam ser usados para proteger a ordem, o bem-estar, a segurança, e o respeito à maioria da população”. Conclui o médico revoltado: “Sr. Prefeito, Sr Presidente da Câmara de Vereadores, Deputados Estaduais, Federais, Senadores e Sr. Governador do Estado de Pernambuco, BASTA!”.
Artigo publicado no DP, dom. 23 de out. de 2011
BOM FILME-VERDADE
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social; clovis.
Para quem gosta de entretenimento consistente no Recife, o bem-sucedido Cinema da Fundação representa um brinde. Grandes filmes são lá exibidos. As instalações e equipamentos da sala satisfazem gostos apurados. E há ainda um café anexo, com ambientação cult e serviço atencioso, oferecendo comida e bebida de qualidade. Lugar prazeroso para conversas. É possível encontrar lá pessoas que se destacam pela inteligência – caso do meu amigo Jomar Muniz de Brito, uma referência do pensamento rebelde, freqüentador assíduo da sala. Dirigem a atividade dois bons cineastas, Kleber Mendonça, nacionalmente conhecido, e Luiz Joaquim. Seu trabalho de montagem da programação é impecável. Agrada em cheio.
Não sou crítico de cinema. Apenas me encanto ou decepciono com filmes que vejo (fujo de fita americana cheia de efeitos especiais, por exemplo). Recentemente, assisti no Cinema da Fundação a uma película nova e, para mim, sedutora – Avenida Brasília Formosa, dirigida por jovem cineasta pernambucano, Gabriel Mascaro. Sem ser entendido em sétima arte, classifico o filme como cinema-verdade. Ele trata do mundo real no bairro recifense de Brasília Teimosa a partir de quatro personagens principais, que representam a si próprios. Fábio é evangélico, garçom e faz vídeos dali. Registra importantes eventos. Ele é contratado por uma jovem manicure, Débora, moça cheia de vida, alegre, simpática, bonita, para fazer um videobook dela e ajudá-la em sua obsessão: tentar uma vaga no (famigerado) Big Brother. É o caminho para uma ascensão social por ela vislumbrado. Conversando com as amigas, idéias picantes também surgem quanto a esse reality show. Isso, aliás, enriquece o filme, ao mostrar cenas da vida de pessoas comuns. Fábio também filma o aniversário de 5 anos de Cauan, que é fã do Homem Aranha e um terceiro personagem da montagem. Já o pescador Pirambu, o quarto personagem, era de Brasília Teimosa, mas vive agora (pior do que antes) num conjunto residencial no Cordeiro, construído pelo governo para abrigar a população que morava nas antigas palafitas do bairro, de onde surge a Avenida Brasília Formosa.
Mostrando a vida dessas pessoas, seus relacionamentos, suas percepções, seus projetos, Gabriel Mascaro presta enorme serviço. Cumpre-o com encanto e arte. Até a mediocridade da vida em ambientes tão limitados, inclusive fisicamente, é superada pela arte de viver das pessoas filmadas. Aliás, a obra permite inclusive comparar a mediocridade arquitetônica da classe alta (as torres do Cais de Santa Rita se destacam como monumentos de feiúra agressiva nos cenários filmados) com as soluções mais humanas da população de baixa renda. Pena que pouquíssima gente vá a um espetáculo de cinema como esse, dispondo, porém, de pachorra e tempo ilimitado (quase 200 horas) para novelas idiotas que a televisão transmite, a exemplo de uma que acabou há pouco e mostrava até dinossauros se bulindo. Arte verdadeira não vai bem numa sociedade inculta. Assim, pelo menos, é que Paulo Prado escrevia de nosso país em Retrato do Brasil.
Artigo publicado no DP, dom. 9 de out. de 2011
INFERNO EM OLINDA
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
Normalmente, aos domingos, logo depois do ano-novo, o sítio histórico de Olinda, vira um inferno. Por motivos inexplicáveis para os moradores da cidade, hordas errantes de pessoas ocupam o lugar para beber, urinar, tomar droga, fazer barulho, danificar o patrimônio, desrespeitar as mais elementares normas de pudor. Bom, sabe-se que isso reflete o baixo nível de educação e cultura de nossa sociedade (embora se suponha que as pessoas devam ser mais comedidas nos bairros onde moram). Os habitantes da cidade tombada pela Unesco ficam reféns de uma situação que os impede de se locomover, de desfrutar do descanso merecido do fim de semana, de não ter aborrecimentos. Agora, o quadro infernal está se formando desde o mês de setembro. São inúmeros os casos de moradores que não conseguem chegar a sua casa voltando de fora da cidade. Logradouros como a r. do Bonfim, a praça de S. Pedro, a r. Prudente de Morais, a r. do Amparo, a Ribeira ficam intransitáveis. Nos bares, música alta é colocada para que quem estiver fora do estabelecimento ouça também. Moro relativamente distante dessas zonas infernais de barulho e gente perdida, mas, muitas vezes, em minha casa, não consigo desfrutar a música de minha preferência. Sou forçado, como numa sala de tortura, a escutar as escolhas lamentáveis, distorcidas, de quem confunde barulho com melodia. Ora, qualquer peça musical – canto gregoriano, Mozart, Bach, Stravinski – tem que ser ouvida em tom que não incomode. Num salão de concerto não existe alto falante para a música executada por uma orquestra ou para as vozes de um coral (que cante, por exemplo, o coro dos escravos hebreus da ópera Nabucco, de Verdi).
O pior é que a população olindense sofre durante a semana toda, diante de ações do governo municipal que ofendem os brios do cidadão. Enquanto, por um lado, a Prefeitura faz obras necessárias, como a revitalização do Alto da Sé, por outro, assume atitudes que não merecem elogios. É o caso, por exemplo, de cortes de árvores que têm sido feitos em muitos locais, como a Sé, os Milagres, a praça do Carmo e a do Jacaré. Ao mesmo tempo, a população do Alto da Sé, que sempre viveu ali, é tratada como um estorvo. E ainda paira a ameaça, que já vem de muito tempo, de se colocar um teleférico ligando esse local privilegiado ao Bonsucesso ou área adjacente. Na frente do convento franciscano, uma relíquia colonial da cidade-patrimônio, desfez-se o simpático adro, substituindo-o por uma passagem sufocante, com grade de ferro e acesso totalmente vedado a pessoas de idade ou que tenham dificuldade de locomoção. Desrespeito à estética, à cultura, à cidadania. Esse desrespeito se manifesta em obras mal feitas, como o calçamento da praça do Carmo. As pedras não foram bem assentadas. Em dois anos de inaugurado, o calçamento está a receber reparos constantes. Fica a pergunta: quem paga a conta? É uma situação que se soma a outras para mostrar como o inferno se plantou em Olinda.
Artigo publicado no DP, domingo, 25 de setembro de 2011
CONSUMIDORES DE SUCATA SOFISTICADA
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
Notícia do maior relevo dada na semana que passou (sem eco por aqui) foi a de que o consórcio industrial alemão Siemens, com 400 mil empregados em todo o mundo, abandonou por completo o setor de energia nuclear – de que foi um dos maiores construtores, projetistas e vendedores no planeta. O anúncio foi dado pelo diretor geral da organização, Peter Löscher. Há dois anos, o próprio Löscher falava de planos para a construção de 400 novos reatores em todo o mundo até 2030 (são 572 as usinas nucleares hoje existentes). A Siemens ergue atualmente uma central atômica em Angra dos Reis, com tecnologia dos anos setenta, a qual, na Alemanha, é considerada insegura. Tão insegura, que a chanceler Angela Merkel, doutora em física, classifica como “incontrolável”. Algo com essa característica, que os alemães rejeitam, pode ser adotado tranqüilamente pelos brasileiros? Não faz sentido. Vale acrescentar que as conversações nucleares que o Japão entabolava com a Índia, o Brasil, os Emirados Árabes e a Turquia, antes do acidente de Fukushima, foram suspensas. As premissas dessa solução energética perderam consistência. Países sérios não querem se envolver com os altos riscos da energia nuclear.
O primeiro reator da Siemens, curiosamente, foi vendido à Argentina há quase 50 anos, para a central Atucha I. Antes, pois, de haver um equivalente na Alemanha. Será que os germânicos temiam fazer uma primeira experiência em seu próprio território e só a realizaram depois que Atucha I funcionou sem problemas? Essa é uma especulação do ambientalista e escritor argentino Antonio Elio Brailovski que faz sentido. Neste momento, a Siemens constrói a central Atucha II no país vizinho, uma coisa que decidiu que não fará em mais nenhum lugar. No Brasil, ao mesmo tempo, prevalece a insistência quando à solução nuclear, haja vista a ameaça nada discreta de uma usina em Itacuruba, sertão de Pernambuco. Usa-se como justificativa para isso a afirmação de que se trata de “tecnologia de ponta”. Mas o fato é que somos inveterados compradores de “sucata sofisticada”, como diz Brailovski. E nos orgulhamos “de investir no que os europeus descartam”.
Esse quadro de idéias serve para situar a decisão do governo de Pernambuco de trazer para Suape uma planta termelétrica de R$ 2 bilhões, com capacidade de gerar 1.452 MW, o que lhe permite ostentar galardão discutível: o de “maior do mundo”. Ora, no instante em que a Alemanha decide desfazer-se da energia nuclear, dando ênfase às fontes renováveis, com o intento de fazer que elas respondam por 35% da eletricidade do país em 2020 (agora são responsáveis por 17%), fica-se com a sensação de que somos realmente consumidores de sucata sofisticada. A lógica para justificar a decisão de Pernambuco é frágil e só se sustenta no contexto de um discurso autoritário.
Artigo publicado no DP, domingo, 11 de setembro de 2011
MUDANÇAS NA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
Quando o nome de Fernando J. Freire foi escolhido para novo presidente da Fundação Joaquim Nabuco (FJN), ninguém na instituição sabia qualquer coisa a seu respeito. Logo vieram informações que indicavam de quem se tratava: um acadêmico, doutor, professor, ex-pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Rural. Isso sinalizava para coisas positivas, apesar do fato de sua formação ser em agronomia, com doutorado em solos. Nada a ver, portanto, com o trabalho de pesquisas sociais das origens e sentido da FJN. Como pessoa, Fernando mostrou-se de imediato um gestor atento para o lado humano da instituição, sem perder de vista os compromissos assumidos perante o ministro da Educação. É aqui, na verdade, que se manifesta uma fraqueza do processo de escolha do presidente da FJN. De cima para baixo, de Brasília para a periferia, consultando antes o que o ministro Fernando Haddad pensa da FJN do que o que esta, com 62 anos de história, construiu como patrimônio de produção intelectual. Um dado merece relevo. O ministro, quando assessor de Cristovam Buarque, então titular do MEC, em encontro com Jorge Siqueira, que me substituiu em 2003 como superintendente do Instituto de Pesquisas Sociais da FJN, e uma pesquisadora nossa, demonstrou não saber o que era a Fundação. Pior: que ela fosse do MEC.
Cristovam Buarque, por sua vez, quando assumiu o Ministério em 2003, chamou para dirigir a FJN um político quase aposentado, Fernando Lyra. Disse-me Cristovam, que foi meu aluno, falando no dia da indicação de Lyra, que o chamara por três motivos. Era um ex-ministro (da Justiça); tinha visibilidade; a Fundação precisava disso. Depois, Lyra era “um homem do diálogo”, algo necessário para a FJN naquele momento (segundo ele). Terceiro motivo: “Lyra é meu amigo”. Cristovam perguntou-me o que eu achava de sua decisão. Respondi: “Surpreendente”. Pouco depois, o escolhido, que me procurou, via Tânia Bacelar, para ter uma conversa, me contou que a Fundação não era sua “praia”. Que não queria presidi-la. Cristovam, a mim, assegurou que Lyra ficaria 6 meses (ficou 8 anos). Seria uma transição para se adotar novo modelo de escolha do presidente. Achei sensata a idéia, pois sempre defendi que a seleção fosse através de um comitê de busca. Que é justamente o que Fernando J. Freire propõe agora, em linha com sua boa visão.
Como não podia deixar de ser, a gestão de Lyra não teve rumo. A pesquisa ficou largada. Recursos vieram em abundância, sim, mas isso foi fruto da prodigalidade perigosa do governo federal (que hoje percebe que precisa ser austero). Duas revistas científicas idôneas e respeitadas da FJN, Ciência & Trópico e Cadernos de Estudos Sociais, que eram publicadas em dia, sumiram. Ao mesmo tempo, a feia, mal-acabada, cheia de erros de revisão e pretensiosa revista Massangana, invenção dos novos gestores, teve um número publicado. Como não obteve público, foi extinta. Excessiva importância se deu à área cultural, como se estivéssemos no Ministério da Cultura. Perdeu a pesquisa, motivo da existência da FJN, e atividade que lhe deu o prestígio de que desfruta. Fernando J. Freire decidiu mudar isso. Pena que Brasília fique dando ordens.
Artigo publicado no DP, domingo, 28 de agosto de 2011
A ILUSÃO DO CRESCIMENTO ECONÔMICO
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
O articulado jornalista científico britânico George Monbiot, em artigo dia 23 deste mês, no The Guardian, de Londres, indaga em que medida o crescimento econômico dos últimos 60 anos é real; em que medida, ilusão. Será sustentável o nível de riqueza e conforto alcançado, quer saber. Assinala ele: “Vá à Irlanda e você verá que mesmo conjuntos habitacionais são miragens: maravilhas da nova economia, erguidas em cima de dívidas, permanecem vazias e sem valor”. Pior é que, para manter a ilusão, “infligimos desde 1950 mais danos aos sistemas vivos do planeta do que nos 100.000 anos anteriores”. A destruição durará séculos; os possíveis benefícios do processo chegarão em muitos casos a meses. É essa a insanidade do crescimento, denunciada pelos ecologistas – e por pesquisadores idôneos de muitas partes do mundo –, que leva alguns a se referir aos defensores do ambientalismo como “ecochatos”. Segundo Monbiot, na Irlanda, “Entre outras iniqüidades, o governo forçou a construção de uma via expressa através do Vale do Gabhra, parte de um sítio [arqueológico] – o complexo da Colina de Tara – comparável em sua importância a Stonehenge”. Tal ação, no juízo do jornalista, foi tanto um ato de vandalismo deliberado quanto uma indicação de propósito: consideração nenhuma impediria o milagre econômico em construção. Porém, a estrada “ainda não tinha entrado em operação quando se deu o colapso do milagre”.
Algo semelhante acontece no Brasil hoje. Tudo é feito para acomodar o interesse econômico antes de qualquer outro intento (caso da hidrelétrica de Belo Monte). A justificativa é a de que se precisa produzir mais e mais, razão por que não há como evitar que se cause ruína ao meio ambiente. Esse raciocínio leva a que, em Pernambuco, por exemplo, o patrimônio da Mata Atlântica, legado pelos indígenas que aqui habitavam antes de 1500, tenha se reduzido em cerca de 96-97 por cento! Se isso levasse a uma atitude de respeito pelo restinho de floresta que ficou (em fragmentos), já seria uma esperança. No entanto, a mata continua sendo destruída, inclusive com o patrocínio do governo de Pernambuco (agora, parece, mais contido em sua ânsia por influência de “ecochatos” que o governador Eduardo Campos levou em boa hora para sua companhia).
Simultaneamente, o que se vê no mundo é o crescimento do desemprego e da desigualdade, o declínio da mobilidade social, a perda pelos pobres de coisas simples que os alegravam (como a paisagem bonita de Suape). Dados recentes mostram que, nas últimas décadas, no Reino Unido, a renda dos mais ricos aumentou 273 vezes mais do que a dos pobres. Tudo isso, simultaneamente, com aquecimento global, aumento do lixo jogado fora pela sociedade de consumo, envenenamento de populações marginais que lidam com resíduos eletrônicos altamente tóxicos, desflorestamento, perda de biodiversidade, etc. É um rosário de mazelas que os ecologistas sempre denunciaram, na companhia agora de movimentos ecossocialistas e, mesmo, de ambientalismo conservador. Está em jogo nossa sobrevivência, que uma insustentável sociedade de consumo só faz pôr em risco.
Artigo publicado no DP, domingo, 14 de agosto de 2011
LOUVANDO MAURO MOTA
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
Conheci Mauro Mota em abril de 1966. Ele precisava de um economista para escrever o relatório de estudo que o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais (IJNPS) empreendia para a Sudene. Os dados tinham sido levantados. Faltava quem os analisasse. Eram a respeito do mercado de pescado do Grande Recife. Mauro falou com Roberto Cavalcanti de Albuquerque, que me indicou. Começou aí uma aproximação que durou até sua morte em 1984. A relação teve como base sua confiança em mim, nos meus 25 anos, a ponto de ele me ceder seu gabinete de diretor – único local refrigerado do IJNPS à época – para que lá, nos fins de semana e feriados, eu produzisse meu trabalho (no restante do tempo, eu dava aulas nas universidades do Recife, depois UFPE, e Católica de Pernambuco. Em 1966, havia essa loucura, permitida por lei). Quando terminei a tarefa, ele me propôs outra incumbência: analisar os dados de um levantamento (para o DNOCS) sobre a bacia do açude Poço da Cruz. Aceitei-a e chamei meu amigo e colega de Sudene Dirceu Pessoa (1937-1987) para me ajudar. Terminei o trabalho no início de 1967.
Logo em seguida, Mauro me convidou para eu dirigir o Departamento de Economia do IJNPS. Eu tinha me demitido da Sudene para me dedicar à universidade; fazer pesquisas vinha bem a calhar. Assim, em outubro de 1967 passei a figurar nos quadros da instituição que Mauro dirigia. Mais uma vez, a confiança dele em mim marcou nossa ligação. Fiquei até outubro de 1970 no cargo, quando decidi me dedicar exclusivamente à UFPE. Era loucura fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Renunciei aos meus múltiplos empregos. Mas saí triste do IJNPS. Minha amizade pelo diretor fazia-me lamentar ter que me afastar de sua companhia. Tanto que não falei pessoalmente com ele. Deixei uma carta de demissão no meu último dia de diretor – e sumi. Só semanas depois é que nos falamos sobre minha forma heterodoxa de renunciar ao cargo (a que retornei em 1973). Ele compreendeu meu gesto, ou assim fez que eu percebesse, na grande generosidade e capacidade de afeto que nunca deixou de transmitir. Víamo-nos sempre. Eu lia seus artigos no Diario. Gostava de sua forma de escrever. Aliás, falando, Mauro também cativava. Não lhe faltavam histórias para contar, o que fazia com fino senso de humor.
Lembrar de Mauro às vésperas de seu centenário permite que se recorde sua figura admirável e as lições de valores humanos que ele nos legou. Mauro conseguiu dar ao IJNPS, que engatinhava em 1956, o prestígio de uma instituição idônea e respeitada ao findar seu mandato em 1971. Sua gestão, cercada em boa parte pela dureza do regime militar, sempre se pautou por princípios de justiça e competência. Pude, por exemplo, incorporar dois sociólogos comunistas a minha equipe sem que ele fizesse qualquer objeção. Isso não era trivial na década de 1960. Mauro, de fato, foi uma pessoa de enorme grandeza. Sem contar sua bela obra de pesquisador (que o diga O Cajueiro Nordestino), de poeta, e do jornalista que marcou este seu jornal querido.
Artigo publicado no DP, domingo, 31 de julho de 2011
COMIDA SAUDÁVEL VERSUS
COMIDA-LIXO
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social;
clovis.cavalcanti@yahoo.com.br
Em 1971, incomodado com meus hábitos
alimentares que se deterioravam, resolvi refazê-los na direção de uma comida
saudável. Por razões de saúde, na época, meu pai tentava seguir a macrobiótica.
Procurei informar-me a respeito e vi que ela tinha idéias bastante razoáveis, em
sintonia com meus propósitos. Empreendi então uma revolução na minha vida,
abandonando o modelo apressado – mecânico, desprovido de arte –, que praticava.
Meu pai não prosseguiu com sua experiência; mas ele foi sempre mais cuidadoso
com a comida, inclusive demorando-se à mesa (um almoço seu levava uma hora, ou
mais), mastigando inúmeras vezes cada porção. Ele tentava repassar isso para seus
filhos. Porém, terminávamos caindo na tendência dominante (embora, mais tarde,
praticamente todos aderimos ao modelo paterno). Eu havia estudado nos EUA e me
habituara a minimizar o tempo dedicado à refeição. Em 1971, cansara disso. Foi
aí que, através da macrobiótica, aprendi as virtudes da mastigação (facilita o
processo digestivo). Em nossa casa, comíamos muito açúcar (minha mãe fazia
doces fantásticos). Os sucos, café, chá eram adoçados a ponto de virar mel.
Suprimi essa dependência. Também substituí o sal refinado (cloreto de sódio) pelo
sal marinho (um composto diversificado). E aderi aos cereais integrais; à
galinha e ovos de capoeira; ao peixe regular. A carne saiu. Anos depois, entrou
bode no cardápio (por recomendação de um grande homeopata autodidata, Ambrosino
Cruz). O álcool, eliminado, reapareceu sob controle (a própria cachaça não faz
mal).
Penso
nisso porque me assusta a maneira imprópria com que as pessoas se alimentam em
nosso meio. A Proteste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor), do Rio
de Janeiro, costuma apresentar em sua revista mensal, Proteste, situações que retratam bem a realidade de que falo. No
número de maio deste ano, por exemplo, ela diz: “Visitamos os seis maiores shoppings de São Paulo para avaliar as
condições sanitárias dos alimentos vendidos nos restaurantes self-service. O resultado foi
alarmante”. A organização faz denúncias, encaminha processos às autoridades
responsáveis e vence sempre as batalhas. Mas o serviço que presta aos consumidores
é que vale. Porém, as pessoas continuam comendo mal. E porcamente. Isso tem
preocupado muito, não aqui, mas nos EUA, o presidente Barack Obama. Sua mulher,
Michelle, se empenha vivamente em mudar os hábitos de comida do país. É de lá
que vem a horrorosa fast food (comida
rápida), que se alastra pelo mundo – contra a qual se opõe o movimento Slow Food (comida lenta), da Itália. A
primeira dama americana combate o excesso de peso e a obesidade. Briga contra
os refrigerantes, o excesso de sal, gordura e açúcar nas comidas, o desprezo às
frutas e verduras. Luta pelo consumo de cereais integrais, de comida saudável,
enfim. O que ganha com isso? Uma população que não deseja mudar hábitos, controlada
por grandes empresas que vêem a luta dos Obama como ameaça a seus lucros sujos.
Em que alçapão nós caímos!












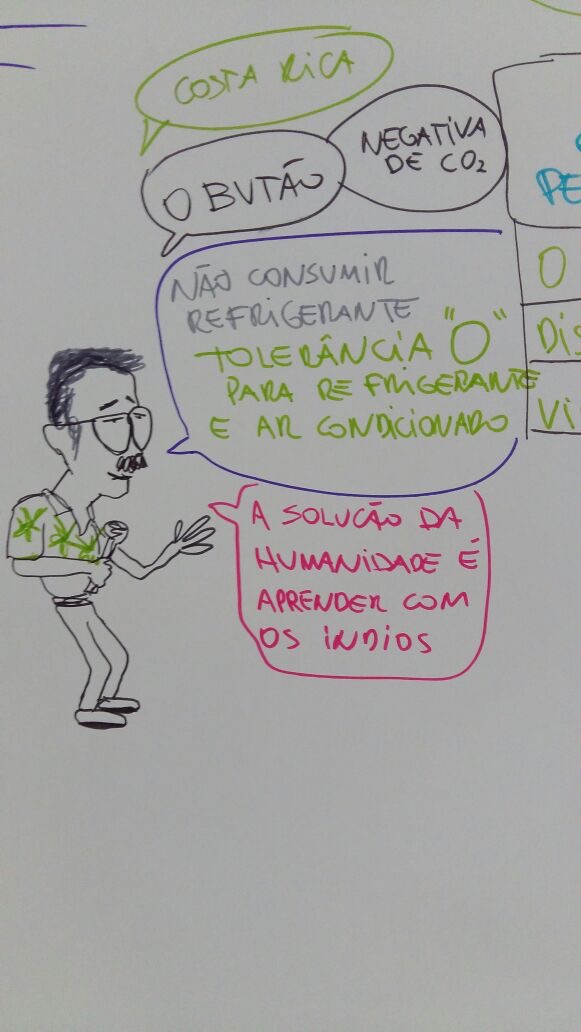





















4 comentários:
Espero que em algum momento para contar uma história para a minha família tão bonito como você pode ver aqui, eu espero que em algum momento talvez tenha uma chance se eu posso ir morar em outro país porque Agora todo mundo quer alugar um apartamento
Professor,
Seu blog é lindo, os artigos publicados trazem uma visão muito peculiar e ao mesmo tempo realista das questões ambientais, junto à poesia. Trajetória acadêmica e de dedicação ao ensino maravilhosa.
Gratidão pela sua presença em nosso mundo.
Abraços
Rosely Alvim Sanches
Rosely, obrigado por sua generosidade. Abraços.
Prof. Clóvis. Boa noite!
Me chamo Adamares Marques, sou Dra. em ciências biológicas e estou precisando de um contato seu para conversar sobre um projeto. Segue meu email: amsconsultar@gmail.com
Postar um comentário