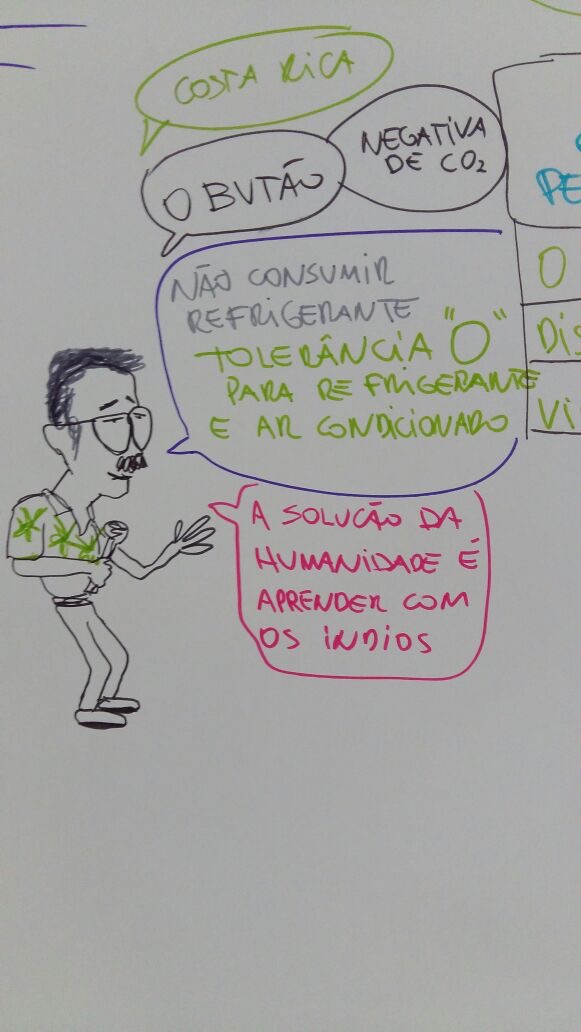domingo, 22 de março de 2009
Artigo publicado
Diario de Pernambuco, 22/3/2009
UMA CATÁSTROFE FINANCEIRA?
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
No dia 3.10.05, um amigo meu, economista-chefe de gestão de risco no Brasil de importante banco multinacional, escreveu-me e-mail desesperado. Perguntava qual seria “a menor derrocada do sistema [financeiro] inteiro que nos permitirá caminhar novamente e não cair de vez”. E consultava: “Quanto tempo você acha que nós temos?”. Acrescia: “Aqui, do lado do mercado financeiro, não dá para ficar menos assustado ... tudo está dependente da loucura insana dos Estados Unidos ... A falência financeira dos Estados Unidos só poderá ser escamoteada no máximo por uns dois ou três anos”. Concluía: “É de aterrorizar qualquer ser pensante, não é mesmo?”. Casualmente, há poucos dias, encontrei a mensagem, que eu imprimi ao receber. Verifico agora a precisão do cálculo de meu amigo: entre outubro de 2007 e outubro de 2008, os EUA quebraram. Sobre isso, Alan Greenspan, ex-banqueiro central todo-poderoso dos EUA em 1987-2006, escreveu na revista britânica The Economist de 20.12.08: “A intermediação financeira global está quebrada”. Isso aconteceu depois da falência do Lehman Brothers no dia 15.9.08, momento em que a atividade econômica financiada pelo crédito bancário cessou virtualmente de existir. Ao mesmo tempo, um valor de bolsa de 30 trilhões de dólares foi varrido do mapa, sumiu. Só se pode concluir que o caso é de uma catástrofe financeira terrível.
O estrategista financeiro global David M. Smick, em artigo no New York Times de 10.3.09, escreveu: “Não há soluções para a crise dos bancos sem riscos políticos e financeiros extraordinários”. Nos seus cálculos, o verdadeiro valor de mercado dos ativos tóxicos dos bancos americanos (“a coisa horrorosa que precisa ser removida dos balanços”) vale entre 5 e 30 por cento do que custam efetivamente. Para que permaneçam solventes (em condições de pagar seus compromissos), contudo, os bancos falam que é preciso que esse valor seja de 50 a 60 por cento. Ou seja, simplesmente, o sistema bancário estadunidense requer dois trilhões de dólares de socorro do contribuinte, além da montanha de dinheiro que já recebeu. Para não se usar o dinheiro público, a solução seria estatizar agora os bancos (“nationalize”, em inglês; ou, literalmente, “nacionalizar”) para reprivatizá-los mais tarde. Esta saída tem o perigo de se ter que cair na “rede potencialmente letal” dos instrumentos de seguro de papéis (derivativos) chamados “credit default swaps”. Ninguém sabe o que há aí nesse verdadeiro buraco negro. Mexer nele pode desencadear um terremoto financeiro inimaginável. Como pode não acontecer nada. Essa realidade cria um ar de total incerteza. Daí por que o secretário do Tesouro americano, Tim Geithner, está adotando “um approach tríplice”: demorar, demorar, demorar, na esperança de que alguém surja com uma saída confiável – segundo Smick.
Tristemente, os papéis derivativos tornaram-se os senhores do sistema financeiro. Segundo os operadores do mercado, ao desmontar um grande banco – o que teria que ser feito com a estatização – o mercado totalmente não regulado desses títulos ficaria transtornado, “com conseqüências financeiras globais catastróficas”, no dizer de Smick. Ou não, pois, no caso, singram-se mares ignotos, conforme esse conhecedor profundo do mercado. Sua ilação: “Geithner tem razões para morrer de medo”. Ele fez parte da equipe de seu predecessor no Tesouro, a qual subestimou o efeito de contágio devastador do colapso do Lehman Brohers, responsável pela crise nas suas gigantescas proporções atuais. E foi um banco só. Imaginem se fossem vários, como o Citigroup ou Bank of America. Os derivativos financeiros globais, não regulamentados, ascendem a 40 trilhões de dólares (dois terços do PIB do planeta). É para deixar qualquer um assustado. Mas uma tribo da Amazônia, ou mesmo um sertanejo nordestino, em seu pedacinho de terra, não teria nada a temer. Benefício da não-globalização?
UMA CATÁSTROFE FINANCEIRA?
Clóvis Cavalcanti
Economista ecológico e pesquisador social
No dia 3.10.05, um amigo meu, economista-chefe de gestão de risco no Brasil de importante banco multinacional, escreveu-me e-mail desesperado. Perguntava qual seria “a menor derrocada do sistema [financeiro] inteiro que nos permitirá caminhar novamente e não cair de vez”. E consultava: “Quanto tempo você acha que nós temos?”. Acrescia: “Aqui, do lado do mercado financeiro, não dá para ficar menos assustado ... tudo está dependente da loucura insana dos Estados Unidos ... A falência financeira dos Estados Unidos só poderá ser escamoteada no máximo por uns dois ou três anos”. Concluía: “É de aterrorizar qualquer ser pensante, não é mesmo?”. Casualmente, há poucos dias, encontrei a mensagem, que eu imprimi ao receber. Verifico agora a precisão do cálculo de meu amigo: entre outubro de 2007 e outubro de 2008, os EUA quebraram. Sobre isso, Alan Greenspan, ex-banqueiro central todo-poderoso dos EUA em 1987-2006, escreveu na revista britânica The Economist de 20.12.08: “A intermediação financeira global está quebrada”. Isso aconteceu depois da falência do Lehman Brothers no dia 15.9.08, momento em que a atividade econômica financiada pelo crédito bancário cessou virtualmente de existir. Ao mesmo tempo, um valor de bolsa de 30 trilhões de dólares foi varrido do mapa, sumiu. Só se pode concluir que o caso é de uma catástrofe financeira terrível.
O estrategista financeiro global David M. Smick, em artigo no New York Times de 10.3.09, escreveu: “Não há soluções para a crise dos bancos sem riscos políticos e financeiros extraordinários”. Nos seus cálculos, o verdadeiro valor de mercado dos ativos tóxicos dos bancos americanos (“a coisa horrorosa que precisa ser removida dos balanços”) vale entre 5 e 30 por cento do que custam efetivamente. Para que permaneçam solventes (em condições de pagar seus compromissos), contudo, os bancos falam que é preciso que esse valor seja de 50 a 60 por cento. Ou seja, simplesmente, o sistema bancário estadunidense requer dois trilhões de dólares de socorro do contribuinte, além da montanha de dinheiro que já recebeu. Para não se usar o dinheiro público, a solução seria estatizar agora os bancos (“nationalize”, em inglês; ou, literalmente, “nacionalizar”) para reprivatizá-los mais tarde. Esta saída tem o perigo de se ter que cair na “rede potencialmente letal” dos instrumentos de seguro de papéis (derivativos) chamados “credit default swaps”. Ninguém sabe o que há aí nesse verdadeiro buraco negro. Mexer nele pode desencadear um terremoto financeiro inimaginável. Como pode não acontecer nada. Essa realidade cria um ar de total incerteza. Daí por que o secretário do Tesouro americano, Tim Geithner, está adotando “um approach tríplice”: demorar, demorar, demorar, na esperança de que alguém surja com uma saída confiável – segundo Smick.
Tristemente, os papéis derivativos tornaram-se os senhores do sistema financeiro. Segundo os operadores do mercado, ao desmontar um grande banco – o que teria que ser feito com a estatização – o mercado totalmente não regulado desses títulos ficaria transtornado, “com conseqüências financeiras globais catastróficas”, no dizer de Smick. Ou não, pois, no caso, singram-se mares ignotos, conforme esse conhecedor profundo do mercado. Sua ilação: “Geithner tem razões para morrer de medo”. Ele fez parte da equipe de seu predecessor no Tesouro, a qual subestimou o efeito de contágio devastador do colapso do Lehman Brohers, responsável pela crise nas suas gigantescas proporções atuais. E foi um banco só. Imaginem se fossem vários, como o Citigroup ou Bank of America. Os derivativos financeiros globais, não regulamentados, ascendem a 40 trilhões de dólares (dois terços do PIB do planeta). É para deixar qualquer um assustado. Mas uma tribo da Amazônia, ou mesmo um sertanejo nordestino, em seu pedacinho de terra, não teria nada a temer. Benefício da não-globalização?
sábado, 21 de março de 2009
sexta-feira, 20 de março de 2009
domingo, 8 de março de 2009
Diário de Pernambuco, 8 mar 2009
ACABOU A GLOBALIZAÇÃO
Clóvis Cavalcanti
Economista e pesquisador social
Em agosto de 2002, no artigo intitulado “O Brasil não vai quebrar”, escrevi nesta página: “não existem razões profundas para que, de uma hora para outra, o Brasil perca sua enorme capacidade de produção agrícola, industrial, comercial, de serviços (inclusive em atividades de ponta). Afinal, grande parte da base de nossa economia se deve à atuação de organizações como o BNDES, um banco que é maior em capacidade de empréstimos que o Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID). Países soberanos podem agir em seu interesse contrariando os de financistas insaciáveis em sua ganância. Casos recentes de êxito nesse campo são o da Malásia, em 1997, e Rússia, em 1998. Nenhum deles obedeceu ao que queria impor o capital financeiro – e não se deram mal ... O Brasil tem economia maior e mais diversificada que Rússia e Malásia; ainda é um peso importante no mundo; e possui endividamento relativamente baixo. Precisa só dizer quais são suas prioridades, impô-las e colher os frutos de uma conduta soberana. Não irá quebrar nunca”.
O raciocínio continua valendo. No entanto, a economia brasileira, hoje, está mais envolvida com a globalização do que em 2002. Não está mais ainda porque sempre houve esforços dentro do país para que se desconfiasse do discurso globalizante. É graças a esses esforços – muitas vezes apontados como uma visão retrógrada –, contudo, que a situação brasileira constitui exceção no panorama desolador da economia mundial de agora. No mundo inteiro, de fato, o que se observa é uma “desglobalização”, fenômeno que foi anunciado e batizado pelo economista filipino Walden Bello no seu interessante livro (editora Zed Books, de Londres) de 2002, Deglobalisation: Ideas for a New World Economy. Em 1994, o economista americano Herman Daly, em discurso ao deixar o Banco Mundial para se dedicar à vida universitária, já havia previsto que, numa década, mais ou menos, o discurso da globalização mudaria radicalmente de tom. É o que se verifica neste momento, pouco mais de dez anos após a previsão de Daly. Como acentuou a revista britânica The Economist, que é ferrenha defensora do mundo globalizado, em seu número de 21 de fevereiro deste ano, “a economia está voltando as costas ao mundo”. Segundo a publicação, que identifica o processo como integração global do movimento de bens, capital e empregos, todos esses movimentos estão agora imersos em graves problemas. Pior é “o fracasso da globalização em proporcionar muitos dos benefícios de que se dizia portadora, especialmente para os pobres”.
Falando dos Bric’s (Brasil, Rússia, China e Índia), The Economist mostra como a situação do Brasil e da Índia é muito mais favorável do que a da China (a Rússia, dependente de forma excessiva do petróleo, é caso à parte). A razão: na China, as exportações representam 37% do PIB (grande dependência), enquanto na Índia elas são 15% e, no Brasil, 17%. A título de comparação, uma economia totalmente escancarada como a de Singapura exporta 168% do PIB. Lá, a economia teve uma queda de 17% nos último trimestre de 2008; em Taiwan, onde as exportações correspondem a 60% do PIB, a queda foi de 11%. A Índia está tendo um crescimento em torno de 7% ao ano, a China, de 6,8% e o Brasil, por volta de 2%. Os países da Europa que mais se integraram à globalização (caso de Irlanda, Lituânia, Letônia, Estônia, Hungria, Grécia, etc.) são os que mais sofrem atualmente, inclusive com turbulências sociais graves. As reações que ora se vêem foram antecipadas pelos céticos da globalização e constantemente expostas em diversas oportunidades, inclusive no Fórum Social Mundial, realizado de forma concomitante, cada ano, ao triunfalista (não mais) Fórum Econômico de Davos. O Brasil faz bem em cuidar de si antes de se abrir ingenuamente para o mundo.
Clóvis Cavalcanti
Economista e pesquisador social
Em agosto de 2002, no artigo intitulado “O Brasil não vai quebrar”, escrevi nesta página: “não existem razões profundas para que, de uma hora para outra, o Brasil perca sua enorme capacidade de produção agrícola, industrial, comercial, de serviços (inclusive em atividades de ponta). Afinal, grande parte da base de nossa economia se deve à atuação de organizações como o BNDES, um banco que é maior em capacidade de empréstimos que o Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID). Países soberanos podem agir em seu interesse contrariando os de financistas insaciáveis em sua ganância. Casos recentes de êxito nesse campo são o da Malásia, em 1997, e Rússia, em 1998. Nenhum deles obedeceu ao que queria impor o capital financeiro – e não se deram mal ... O Brasil tem economia maior e mais diversificada que Rússia e Malásia; ainda é um peso importante no mundo; e possui endividamento relativamente baixo. Precisa só dizer quais são suas prioridades, impô-las e colher os frutos de uma conduta soberana. Não irá quebrar nunca”.
O raciocínio continua valendo. No entanto, a economia brasileira, hoje, está mais envolvida com a globalização do que em 2002. Não está mais ainda porque sempre houve esforços dentro do país para que se desconfiasse do discurso globalizante. É graças a esses esforços – muitas vezes apontados como uma visão retrógrada –, contudo, que a situação brasileira constitui exceção no panorama desolador da economia mundial de agora. No mundo inteiro, de fato, o que se observa é uma “desglobalização”, fenômeno que foi anunciado e batizado pelo economista filipino Walden Bello no seu interessante livro (editora Zed Books, de Londres) de 2002, Deglobalisation: Ideas for a New World Economy. Em 1994, o economista americano Herman Daly, em discurso ao deixar o Banco Mundial para se dedicar à vida universitária, já havia previsto que, numa década, mais ou menos, o discurso da globalização mudaria radicalmente de tom. É o que se verifica neste momento, pouco mais de dez anos após a previsão de Daly. Como acentuou a revista britânica The Economist, que é ferrenha defensora do mundo globalizado, em seu número de 21 de fevereiro deste ano, “a economia está voltando as costas ao mundo”. Segundo a publicação, que identifica o processo como integração global do movimento de bens, capital e empregos, todos esses movimentos estão agora imersos em graves problemas. Pior é “o fracasso da globalização em proporcionar muitos dos benefícios de que se dizia portadora, especialmente para os pobres”.
Falando dos Bric’s (Brasil, Rússia, China e Índia), The Economist mostra como a situação do Brasil e da Índia é muito mais favorável do que a da China (a Rússia, dependente de forma excessiva do petróleo, é caso à parte). A razão: na China, as exportações representam 37% do PIB (grande dependência), enquanto na Índia elas são 15% e, no Brasil, 17%. A título de comparação, uma economia totalmente escancarada como a de Singapura exporta 168% do PIB. Lá, a economia teve uma queda de 17% nos último trimestre de 2008; em Taiwan, onde as exportações correspondem a 60% do PIB, a queda foi de 11%. A Índia está tendo um crescimento em torno de 7% ao ano, a China, de 6,8% e o Brasil, por volta de 2%. Os países da Europa que mais se integraram à globalização (caso de Irlanda, Lituânia, Letônia, Estônia, Hungria, Grécia, etc.) são os que mais sofrem atualmente, inclusive com turbulências sociais graves. As reações que ora se vêem foram antecipadas pelos céticos da globalização e constantemente expostas em diversas oportunidades, inclusive no Fórum Social Mundial, realizado de forma concomitante, cada ano, ao triunfalista (não mais) Fórum Econômico de Davos. O Brasil faz bem em cuidar de si antes de se abrir ingenuamente para o mundo.
Assinar:
Comentários (Atom)